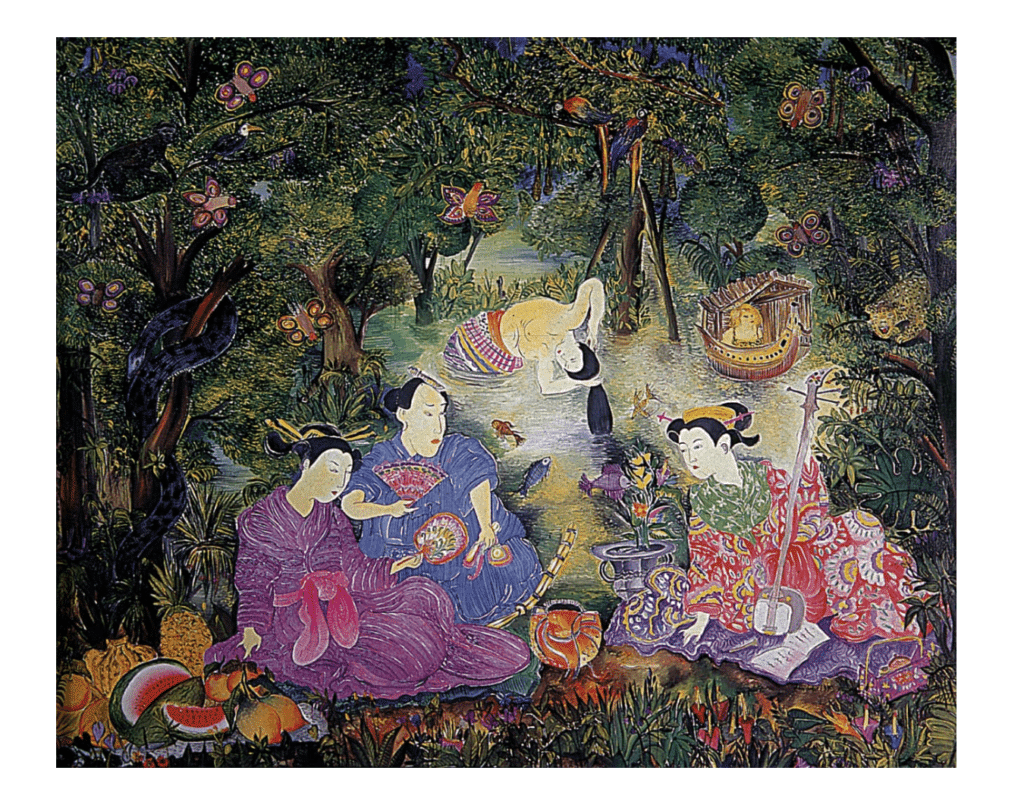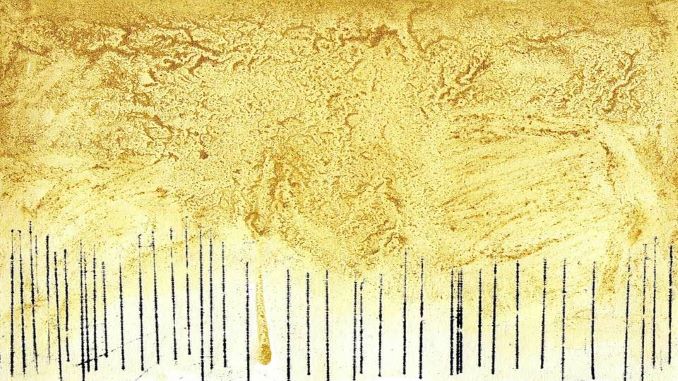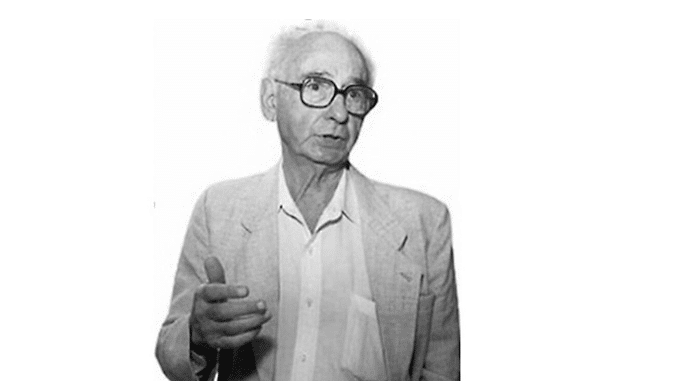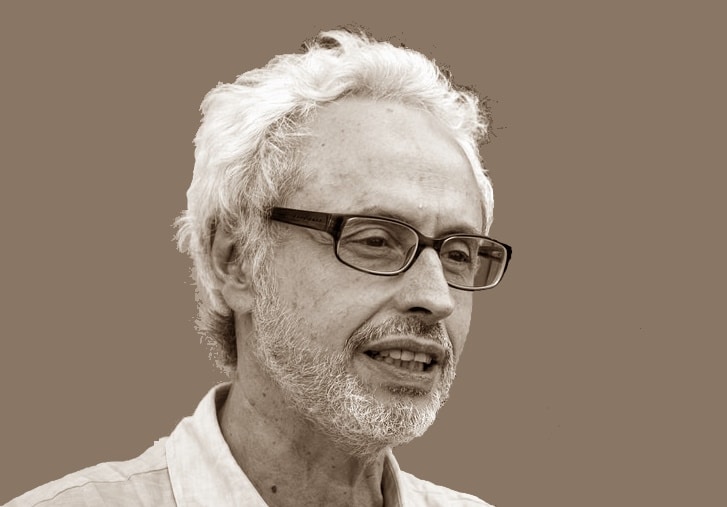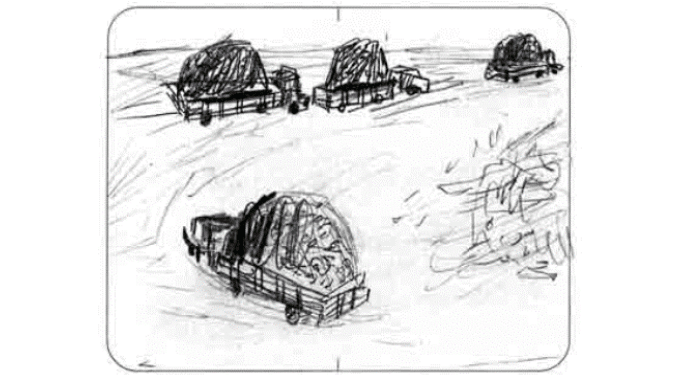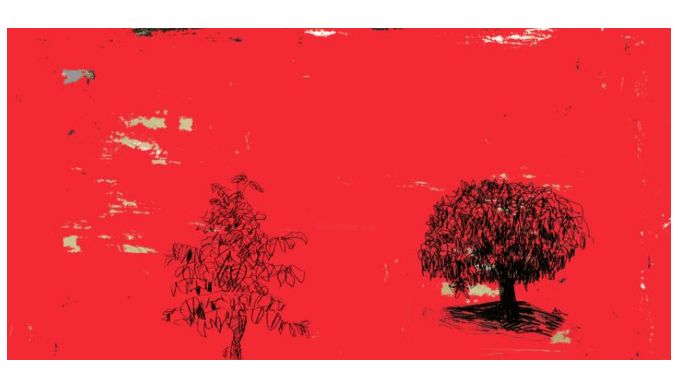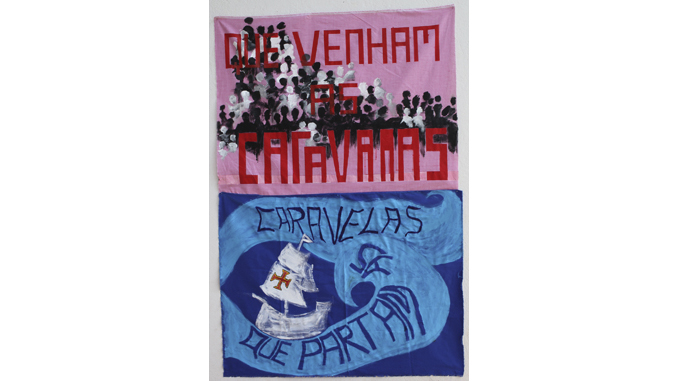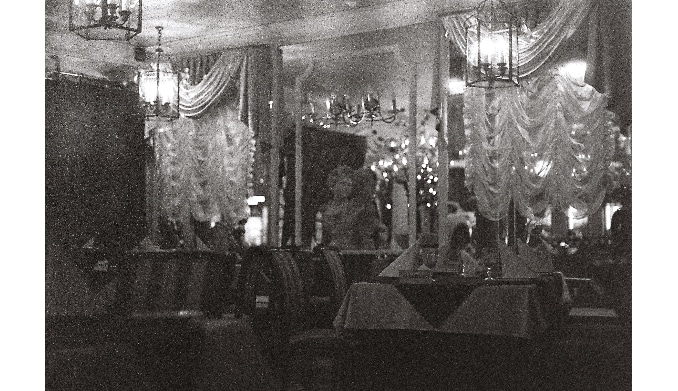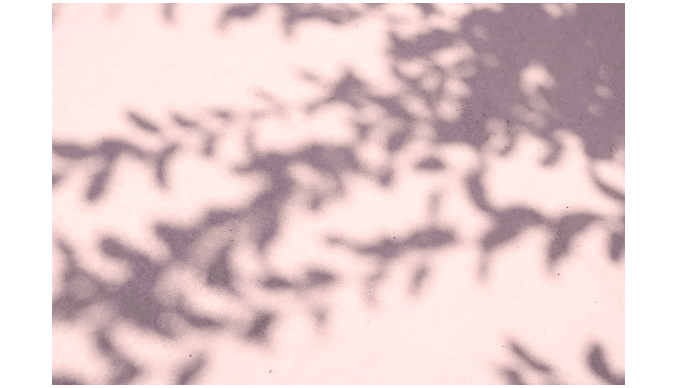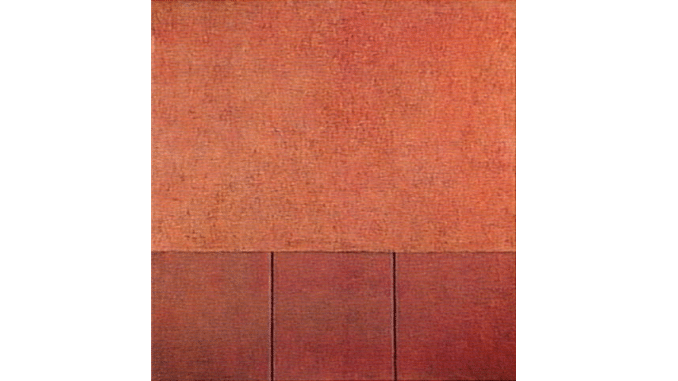Por LUIZ COSTA LIMA*
Impõe-se o reexame da questão da literatura nacional. Afinal, o foco principal é a literatura ou seu qualificativo?
Sabe-se que o sentido específico do termo “literatura” só se estabeleceu no fim do século XVIII; que foi acolhido academicamente, no início do XIX, sob a rubrica de história da literatura, que a princípio acolhia apenas as antigas e a nacional; que o critério historiográfico de tal modo se impunha que Gervinus, em nome da objetividade, afirmava que, “para o historiador da literatura a estética é apenas um meio auxiliar” (1832).
Sabe-se também que a reação contra essa historicização estreita se manifestara no princípio do século XX (Croce e os formalistas eslavos) e encontrara seu auge entre os anos de 1960 e 1980. Cabe perguntar: E entre nós?
Para que a teoria da literatura se firmasse entre nós teria ela de contrariar um modo de pensar que se fixou desde Gonçalves de Magalhães [1811-82]. Em seu “Discurso sobre a História da Literatura do Brasil” (1836), a literatura era apresentada como a quintessência do que haveria de melhor e mais autêntico em um povo. E, como o país se tornara independente sem um sentimento de nacionalidade que integrasse as regiões, o serviço que ela, de imediato, haveria de prestar seria de propagá-lo.
Dadas as condições de um público rarefeito e pouco culto, teria, portanto, de contar uma palavra empolgada, entusiasta e logo sentimental, que entrasse mais pelos ouvidos do que exigisse inteligência. Dentro desse circuito curto, o interesse se dirigia à formação de um Estado e pouco concernia à própria literatura.
Essa conjetura, ademais, se cumpria em um século fundamentalmente voltado para o desenvolvimento tecnológico e que procurava – no campo que passava a se chamar de ciências humanas – explicações deterministas, que parecessem prolongar as causalidades deterministas estabelecidas no campo das ciências da natureza.
Daí a importância que assumiria um Sílvio Romero e a timidez com que seu adversário, José Veríssimo, intentava uma aproximação razoavelmente próxima do que fosse a constituição do texto. Em suma, nacionalidade, explicação histórico-determinista, sociologismo e linguagem de fácil acesso eram traços que mantinham o fazer literário bem distante do circuito reflexivo.
A genialidade machadiana teria sofrido o mesmo ostracismo que enterrou um Joaquim de Sousândrade se o romancista não tivesse aprendido a usar a tática de capoeira nas relações sociais. Primeiro sinal de sua esperteza: não insistir no exercício da crítica. Se houvesse perseverado em artigos como seu “Instinto de nacionalidade” (1873), provavelmente teria multiplicado inimigos ferozes. Em troca, a criação da Academia Brasileira de Letras lhe punha em relações cordiais com os letrados e com os compadres dos “donos do poder”.
Sua salvação intelectual, no entanto, foi paga pela estabilização das linhas fixadas desde a Independência. Desse modo, não medrou entre nós nem o veio especulativo que tornou a Alemanha um centro de referência – mesmo quando, no século 18, era politicamente um zero à esquerda – nem a linha ético-pragmática que distinguiria a Inglaterra.
Em vez de uma ou de outra, mantivemos, como toda a América hispânica, a tradição da palavra retórica, e isso sem nem sequer nos darmos ao cuidado de estudar os tratados de retórica. O léxico podia ser complicado, extremamente complicado, como em “Os Sertões” ou ainda em Augusto dos Anjos, desde que tudo aquilo não passasse de uma névoa, com aparência de erudita.
Essa marca da literatura brasileira se manteve durante os anos áureos da reflexão teórica internacional (entre 1960 e 1980); quem contra ela se rebelou, como Haroldo de Campos, foi marginalizado. Ao passo que, naquelas décadas, a teoria da literatura ecoou mesmo em áreas vizinhas – a reflexão sobre a escrita da história e o reexame da prática antropológica –, em nossos dias, a teoria está em baixa.
Mas isso não torna nosso caso menos dotado de características particularizadas. Embora a reflexão teórica e a própria obra literária já não tenham o prestígio que a primeira conquistara por algum tempo e a segunda mantivera desde o final do século XVIII, isso não impede que, no chamado Primeiro Mundo, continuem a aparecer obras teóricas, analíticas e livros importantes de literatura, enquanto, entre nós, com exceção do romance, tanto a obra poética como a teórica correm o risco de os seus títulos nem sequer chegarem ao conhecimento dos leitores; e, como não circulam, progressivamente escasseia a possibilidade de encontrarem editores.
Pois à globalização tem correspondido a constituição de um abismo maior a separar o mundo desenvolvido e o resto. Tal indicador parece acentuar que o próprio estudo da literatura necessita ser reformulado; que a sua drástica separação de áreas vizinhas, sobretudo da filosofia e da antropologia, lhe é catastrófica.
E isso por duas razões: por um lado, porque a literatura não tem condições de se autoconhecer – a sua região passível de ser conceituada, tanto em prosa como em poesia, é a da ficção, isto é, aquela que se define como o que é o que não é. E, por outro, é incapaz de competir com os produtos dos meios diretamente industriais ou eletrônicos.
Acentuem-se duas consequências imediatas: (a) a escassez de reflexão teórica ajuda a que se perpetuem os juízos críticos tradicionais. O cânone literário nosso se mantém menos por motivos ideológicos do que por ausência de alterativa; (b) com isso aumenta a impossibilidade de uma comparação efetiva com obras de outras literaturas, que, então, se mantêm desconhecidas e, porque desconhecidas, aumentam o abismo entre a nossa e as outras literaturas.
Há alguma coisa a fazer contra isso? Um ponto de partida cabível seria o reexame da questão da literatura nacional. Afinal, quando nos dedicamos à literatura, nosso foco principal é a literatura ou seu qualificativo, ser ela desta ou daquela nacionalidade? O conceito de nacional não tem limites? Ninguém cogita a nacionalidade do saber científico.
A extensão do conceito de nacionalidade à literatura e à cultura em geral era explicável no contexto do século XIX. Mantê-la, nos dias que correm, significa reduzir a literatura, no melhor dos casos, a documento do cotidiano. Mas como empreender esse questionamento sem a reflexão teórica?
*Luiz Costa Lima é Professor Emérito da PUC-Rio. Autor, entre outros livros de História, Ficção, Literatura (Companhia das Letras).
Publicado originalmente no jornal Folha de S. Paulo, em 27 de agosto de 2006.