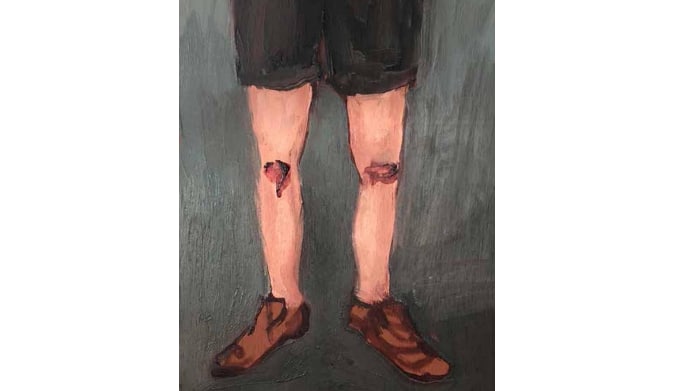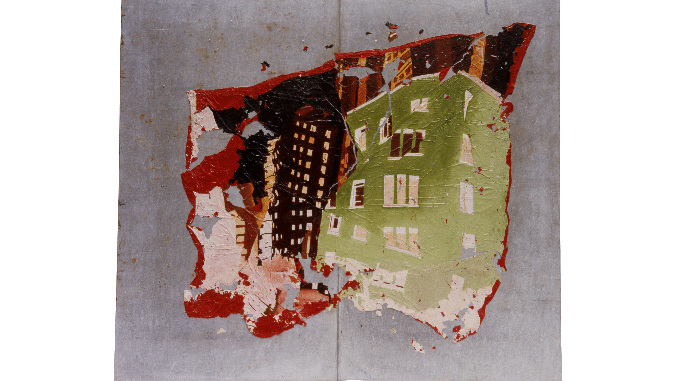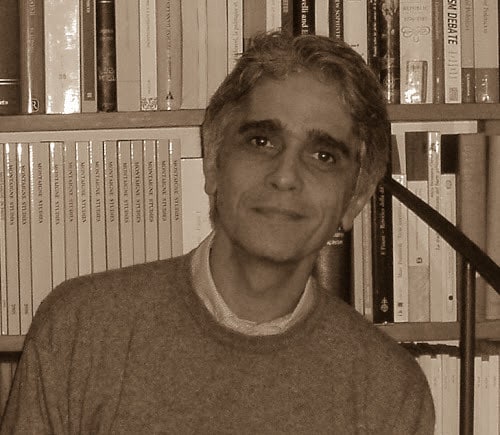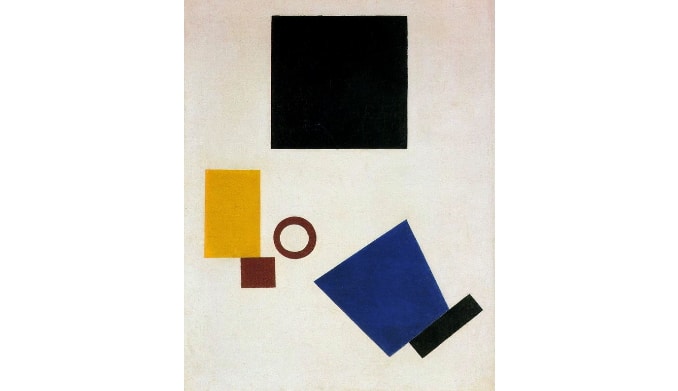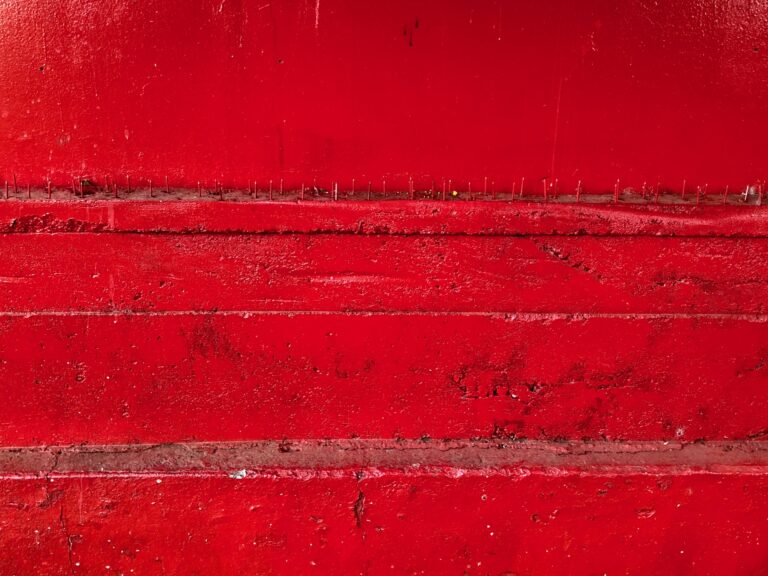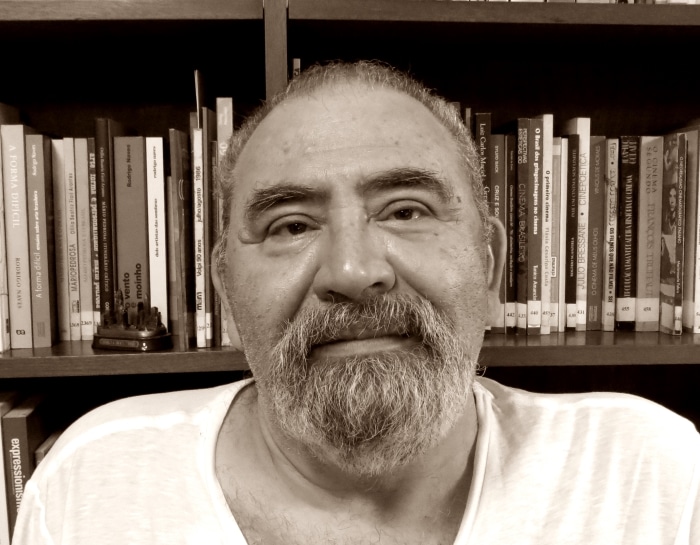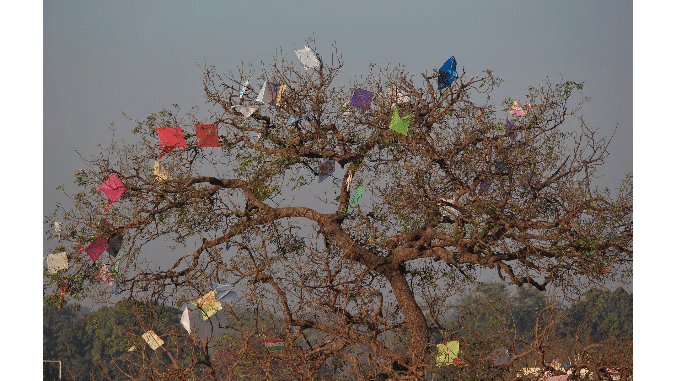Por Henry Burnett*
A obra de Moraes Moreira foi, desde sempre, o avesso da tristeza e da brutalidade, com toda sua força afirmativa
para o Adriano Correia
No dia 2 de janeiro deste ano, depois de dirigir 1.450 km, atravessei a tortuosa estrada que liga Tanhaçu a Ituaçu, na Bahia, cumprindo uma promessa que já se arrastava por alguns anos. O motivo para enfrentar as perigosas estradas brasileiras era visitar um amigo nascido naquela região às portas da Chapada Diamantina, no sertão baiano, e continuar a aventura de mostrar o país e suas diferenças socioculturais aos meus filhos, uma tarefa que considero cada dia mais urgente na formação deles.
Meu amigo nos aguardava sorridente na rua principal, parecendo finalmente acreditar que eu chegara. A primeira coisa que pedi foi que mostrasse a casa de Gilberto Gil, cuja frente eu sabia dar para a rua principal, pois tinha visto a cena no documentário Tempo rei, de Andrucha Waddington e Lula Buarque de Hollanda, de 1996.
Depois de algumas fotos, ele logo se apressou em mostrar outra casa importante para a história de Ituaçu, a casa onde Moraes Moreira nasceu e para onde retornava com alguma frequência, já que parte da família seguiu vivendo ali. Não foram poucas as vezes, durante a estada de alguns dias, que me peguei pensando na maravilha de Gil e Moraes terem vivido a infância a poucos quarteirões de distância, com uma diferença pequena de idade; Gil nasceu em 1942, Moraes em 1947.
Moraes Moreira nos deixou faz pouco tempo, e não é fácil escrever sobre ele em um momento onde a tristeza paira sobre o mundo como uma nuvem densa que não dá sinais claros de quando pretende dissipar. A pandemia que estamos enfrentando é – salvo outro desastre iminente no mundo autodestrutivo que viermos a criar – um marco inesquecível para as várias gerações coetâneas que hoje convivem sobre a Terra. Nunca houve um pós-carnaval como este. Que lugar pode haver para a alegria neste cenário apocalíptico?
Antes de falar de Moraes Moreira, não é demais lembrar que o Brasil já estava contaminado com outro vírus antes da chegada da Covid-19, o da grosseria institucional. Havia muito pouco a comemorar no último ano e os três que nos aguardam são igualmente assustadores. A pandemia caiu como uma bomba sobre um país já completamente desorientado. Isso tudo deixa a sensação de que há muito pouco para festejar.
Todavia, a obra de Moraes Moreira foi, desde sempre, o avesso da tristeza e da brutalidade, com toda sua força afirmativa. Ela é, portanto, uma arma contra a política de exceção implementada através do voto em 2018. Moraes sabia disso, e afirmou 4 dias antes de sua morte à Revista E, do SESC SP, que os Novos Baianos “é um grupo que marcou o Brasil e, em todo momento em que o Brasil tem dificuldade, os Novos Baianos aparecem para levantar a autoestima do povo brasileiro”. Ele se refere, quero crer, a dois momentos básicos: o golpe de 64 e o bolsonarismo. É uma infelicidade sempre acordamos para a inteireza de algumas obras e de alguns artistas nesses momentos de perda, mas sempre há tempo para correções fundamentais de percepção. Sem mais delongas, ouvidos à obra.
A música de Moraes Moreira
Num país onde o violão de nylon de 6 cordas é o instrumento-base da criação musical desde o final do século XIX, quando a canção urbana começa a se definir estilisticamente, não é fácil se destacar no instrumento usando o quesito originalidade. São milhares de pessoas tocando violão com variações de levada inclassificáveis, tanto entre amadores quanto entre profissionais.
A base do swing dos Novos Baianos era o violão de Moraes, com seu jeito único de tocar samba, frevo e canções singulares. Esse violão – ao qual se somaram a guitarra de Pepeu Gomes, o baixo de Dadi, a bateria de Jorge Gomes, as vozes de Baby Consuelo, Paulinho Boca de Cantor, mais as letras de Luiz Galvão – conduz quase sempre tudo que acontecia em volta, e não apenas no grupo consagrado. Talvez não seja exagerado afirmar que, musicalmente, o violão de Moraes era a espinha dorsal da sonoridade consagrada dos Novos Baianos.
O leitor que quiser entender como tudo isso se constituiu como experiência coletiva e sonora, tem disponível um documento imprescindível, o episódio d’O som do vinil “Acabou chorare”, apresentado por Charles Gavin para o Canal Brasil, disponível neste link. Entre depoimentos históricos, saber que João Gilberto foi o Daimon do álbum e de grande parte da concepção artística dos Novos Baianos tem um sabor especial. João não apenas apresentou Assis Valente (“Brasil pandeiro”) e muitos sambas antigos aos cabeludos, nos famosos encontros nas madrugadas, ele também lhes ensinou a abrir vozes, harmonizar no violão e, com isso, leva-los à fusão definitiva das referências do mundo pop internacional com a brasilidade festiva, que eles possuíam, mas talvez não tivessem ainda àquela altura equacionado. Se o Brasil não era novidade para Moraes, criado no meio das festas juninas e dos aboios, João ajudou-o a imprimir uma identidade musical definida e definitiva, que o faria entrar no panteão da criação musical maior do país, e junto com ele o grupo hoje icônico.
Em outro momento do mesmo episódio, Moraes mostra a Gavin que “Preta pretinha” (Moraes e Galvão), canção obrigatória para todo adolescente que começa a tocar violão, não tem só dois acordes, D e G, mas que mesmo nesta canção simples ele já incorporava acordes aprendidos com João. Ele então toca a introdução e revela os segredos da harmonia. O mesmo acontece com “Mistério do planeta” (Moraes e Galvão), onde o violão, na gravação original, é o acompanhamento único em duas voltas inteiras da letra, antes do ataque da banda, com destaque para a “guitarra brasileira” de Pepeu, outro legado de João, como afirma o guitarrista em um momento da mesma entrevista.
Os registros posteriores nos ajudam a desfrutar esses detalhes com atenção, como no encontro do grupo com Marisa Monte, ainda bem antes que Baby do Brasil cantasse, no lugar dos versos de Assis Valente, “Eu fui à Penha fui pedir a padroeira para me ajudar”, “Eu fui à igreja fui pedir pra Jesus Cristo pra me abençoar”, numa inversão neopentecostal que nos faz pensar que grupos vitais como os Novos Baianos precisam mesmo se dissolver antes da decadência. Mas há que se respeitar a fé alheia.
São vários momentos antológicos nesses vídeos com Marisa, destaco aqui novamente o “Mistério do planeta” e “A menina dança”. Em ambas podemos ver toda a dinâmica da levada de Moraes e sua centralidade no conjunto da banda; tudo começava no seu violão, e era nele que todos entravam em bloco. Mas a obra de Moraes Moreira não pode ser compreendida somente a partir dos Novos Baianos.
Com 10 anos em 1982, quando o elenco mais elegante da seleção brasileira disputava a Copa do Mundo da Espanha, eu talvez não me ligasse tanto em futebol, mas nunca mais esqueci o frevo “Sangue, swing e cintura”, outra vertente gigante da obra do baiano. Foi o tempo em que vestir a camisa amarela era sinônimo de paixão pelo futebol e pela música. A alegria, de fato, era a prova dos nove (Oswald de Andrade): Escola aqui é de samba/ E bola é arte do povo/ Sua alegria Deus manda/ Nasce um Garrincha de novo. Deus também era outro.
Em um outro vídeo (neste link), Moraes toca este frevo apenas no violão, e podemos ver que o arranjo original está todo contido ali, na mão direita ágil e na harmonia natural utilizada com maestria. Depois do frevo futebolístico, ele engata outro delicioso, “Coisa acesa”. São muitos arrebatadores frevos que ele nos deixou, como “Bloco do prazer”, aqui no registro de Gal Costa.
Poderia ficar aqui, aproveitando o isolamento social para listar tantas e tantas outras canções e performances de Moraes Moreira, sua alegria contagiante – Gregorio Duvivier escreveu este texto sobre o tema que quase me faz desistir deste –, sua força contra esses dias difíceis que enfrentamos, e tantas conexões possíveis, mas tudo soa desencantado. Peço licença a todos aqueles que neste momento sofrem na carne a exclusão social e racial, que precisam viver a ameaça à saúde de suas famílias sem o devido amparo do Estado, a todos eu sinto a necessidade de me desculpar. Sou o primeiro a duvidar da obrigação desta ode à alegria.
*Henry Burnett é professor do Departamento de Filosofia da Unifesp.