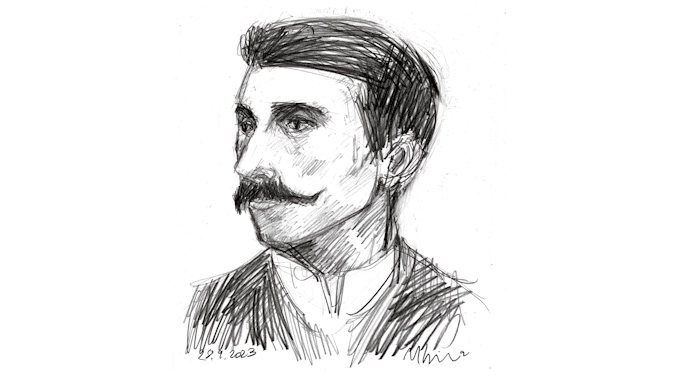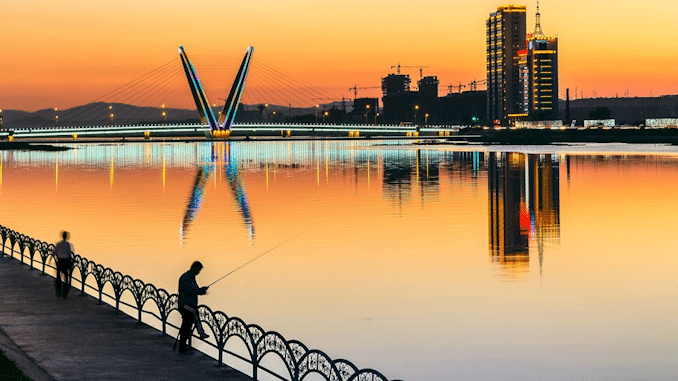Por DAPHNA THIER*
Se a revolução requer a derrubada do Estado, mas a classe trabalhadora israelense está vinculada à existência do Estado sionista, então ela é um obstáculo e não um agente da revolução
Os socialistas acreditam na centralidade da luta de classes e na classe trabalhadora enquanto a única classe capaz de abolir a velha ordem e construir uma nova sociedade. Seria a classe trabalhadora israelense uma exceção a esta regra? Se sim, o que a torna uma exceção? O caráter revolucionário, ou não, da classe operária de Israel ocupa espaço fundamental ao determinar quais estratégias servem, ou não, à revolução no Oriente Médio. Desde a fundação de Israel, seus trabalhadores abraçaram ideias racistas, sentimentos nacionalistas, oposição consistente à democracia e apoio a regimes contrarrevolucionários. Isto pode mudar?
Alguns socialistas acreditam que os trabalhadores israelenses integram a solução no Oriente Médio. A oposição dos israelenses à democratização de seu Estado, por exemplo, levou o grupo Alternativa Socialista, dos Estados Unidos, a concluir que a defesa de um Estado democrático, unificado, secular e não-exclusivista seria uma “utopia nacional burguesa”.[i] Já o movimento Corrente Marxista Internacional diz que a campanha internacional de Boicote, Desinvestimento e Sanções (BDS) contra Israel é “contraproducente por favorecer o sionismo burguês”.[ii]
Tais opiniões partem do pressuposto que a classe trabalhadora judaica israelense pode ser conquistada para uma perspectiva revolucionária e para a solidariedade de classe com os trabalhadores árabes, e por isso devemos evitar aliená-los na luta por reformas democráticas. Ignoram os seguintes fatos: o povo palestino sofreu limpeza étnica pelas mãos da classe trabalhadora israelense, os trabalhadores israelenses tomaram, pela via das armas, as terras palestinas e ainda que a base da classe trabalhadora israelense tem posições políticas de direita quanto aos direitos dos palestinos e, em grande parte, apoiam os bombardeios a Gaza e a contínua ocupação da Cisjordânia.
Caráter de classe em Israel
A análise socialista clássica, exposta no texto “O caráter de classe em Israel”, abordou esta questão há quase cinquenta anos.[iii] Em 1969, Moshe Machover e Akiva Orr, dois socialistas antissionistas israelenses da Organização Socialista Israelense (melhor conhecida pelo nome de seu jornal, Matzpen), argumentaram que a classe operária israelense tinha interesses econômicos em manter divisões racistas; que a realidade material impedia a solidariedade da classe trabalhadora judaica com os palestinos.[iv]
Os autores argumentaram que embora Israel seja uma sociedade de classes com conflitos de classes, existe um conflito predominante, que opõem o sionismo às populações originárias da Palestina. Segundo eles, o “conflito externo” não derivava da luta de classes. Os benefícios materiais proporcionados à classe trabalhadora israelense se vinculam ao Estado colonizador. O seu antagonismo de classe ao capital israelense, portanto, está subordinado à unidade interclassista contra os palestinos. Na verdade, ela atenua o conflito de classes dado que os trabalhadores israelenses apoiam o Estado colonial e defendem interesses imperialistas.
Por que isso é importante? Porque se a revolução requer a derrubada do Estado, mas a classe trabalhadora israelense está vinculada à existência do Estado sionista, então ela é um obstáculo e não um agente da revolução.
Grande parte dos argumentos apresentados pelo Matzpen são baseados na observação da “compra” e subsídio, pelo capital estrangeiro, da classe trabalhadora israelense através de gastos sociais do governo. Muita coisa mudou desde 1969, com a análise do Matzpen exigindo reavaliação e reatualização. Os padrões de vida dos israelenses deterioraram-se e os salários reais tiveram diminuição constante. Hoje, a maior parte do apoio estrangeiro serve ao financiamento militar. Por fim, a ajuda estadunidense, em torno de três bilhões de dólares anuais durante as últimas duas décadas, tem menos influência proporcional na economia israelense, comparada a sua relevância no começo da década de 1990. Portanto, a base do argumento – de que os elevados padrões de vida dos trabalhadores israelenses baseiam-se em subsídios sociais imperialistas – fica enfraquecida.[v]
Machover e Orr escreveram com notável perspicácia: “Em 50 anos de experiência, não há um único exemplo de trabalhadores israelenses mobilizados em questões materiais ou sindicais desafiando o próprio regime em Israel; é impossível mobilizar até mesmo uma minoria dos trabalhadores neste sentido. Pelo contrário, os trabalhadores israelenses quase sempre colocam as suas lealdades nacionais à frente de suas lealdades de classe. Embora isto possa mudar no futuro, não elimina a necessidade de analisarmos o motivo de ter sido assim nos últimos cinquenta anos”.[vi]
Outros cinquenta anos se passaram e, ainda, não há exemplos reais que possam contradizer essa análise.
A classe trabalhadora israelense é diferente por três razões. Primeiro, examinando os anos de formação da classe trabalhadora judaica na Palestina, podemos identificar sua natureza particular de classe trabalhadora colonizadora e sua relação única com o Estado, distinguindo o proletariado israelense de outras classes trabalhadoras ao redor do mundo. A segunda razão é que a ocupação de 1967 serviu para aprofundar a conexão entre a classe trabalhadora e o Estado colonial. A terceira é que a luta palestina por libertação nega os privilégios da classe trabalhadora colonizadora e, por isso, é combatida por ela.
Uma classe trabalhadora de colonos
Muitas classes trabalhadoras modernas, como as dos EUA, Austrália ou Canadá, têm suas origens em colônias de povoamento. A experiência israelense expressa uma variante dessa dinâmica. O sociólogo Gershom Shafir identifica cinco diferentes formas de sociedades colonizadoras: ocupação militar, plantation, plantation étnica, povoamentos mistos e povoamentos puros.[vii] A ocupação militar “explora e intensifica a ordem econômica vigente, sem buscar o controle local direto da terra e da mão de obra”, o que significa que ela não substitui a sociedade preexistente, apenas a explora.
Na plantation, os colonizadores europeus se tornam a elite governante local, importando mão de obra contratada ou escrava. Na plantation étnica e nas colônias mistas e puras de povoamento, o objetivo é constituir uma sociedade dominada por uma identidade nacional europeia. Na plantation étnica, é empregada mão de obra local, porém os colonos possuem uma identidade europeia que rejeita a miscigenação. No assentamento misto, é formado um tipo de sistema de castas, coagindo a mão de obra local a um regime de cooperação, ao lado de certo grau de relações interraciais.
A colônia de povoamento pura cria uma economia baseada no trabalho europeu, elimina a população nativa e constrói um “senso de homogeneidade cultural ou étnica identificado ao conceito europeu de nacionalidade”.[viii] Ou seja, os europeus substituem de forma consciente as sociedades originárias por uma sociedade exclusiva. Esta forma de colonização, na verdade, requer uma classe trabalhadora com comprometimento integral ao projeto de construção da nação.
Os marxistas não deveriam enxergar estes exemplos como realidades fixas, mas um espectro sobre o qual as diferentes formas de colonização podem evoluir. O modelo sul-africano evoluiu de uma colonização de tipo plantation, nos anos 1800s, para uma colonização de plantation étnica, na qual o trabalho branco existia ao lado do trabalho negro em um sistema estrito de castas, mais tarde codificado como apartheid. Em 1910, os trabalhadores brancos conquistaram direitos ocupando posições qualificadas no mercado de trabalho e, em 1948, os trabalhadores negros foram forçados a morar nos bantustões, com seus direitos civis restritos de forma legal.
Assim como em Israel, a expropriação da população originária andou de mãos dadas à formação de um estado de bem-estar social a serviço da classe trabalhadora opressora. Ao contrário de Israel, a colonização sul-africana nunca pretendeu eliminar os trabalhadores nativos.
A sociedade colonial, em sua essência, baseia-se naquilo que o historiador australiano Patrick Wolfe chamou de “lógica da eliminação”. Enquanto um imigrante se junta à sociedade como ela se encontra, os colonizadores carregam consigo a sua própria soberania – desafiam e, quando bem-sucedidos, deslocam a sociedade nativa. Patrick Wolfe argumenta que um movimento colonizador visa construir algo novo, cujo lado negativo exige eliminar a sociedade existente[ix]. A eliminação pode ser alcançada por meio da expulsão, morte ou assimilação. Onde a eliminação é impossível, a separação é a opção próxima mais viável. Em ambos os casos o resultado é mesmo: uma sociedade substituindo a outra.
A primeira onda de imigração sionista, a “Primeira Aliyah”, enquadra-se melhor na categoria de plantation étnica[x]. Os sionistas criaram colônias para cultivo agrícola com um empreendedor capitalista empregando mão de obra indígena local. Depois de 1904, o projeto de colonização foi desenvolvido na forma de um povoamento puro, com os sionistas chegando e rejeitando o uso “elitista” do trabalho nativo, enfatizando o desenvolvimento de um novo judeu “mais forte” que conseguia trabalhar sua própria terra.
Com o tempo, o plano sionista evoluiu para a completa expropriação dos palestinos. Mas em 1947-48, a “lógica da eliminação” e o objetivo sionista de criar o seu próprio Estado soberano os levou a aceitar uma espécie de compromisso territorial – a separação. Em 1948, preferiram renunciar a Palestina histórica na sua totalidade a fim de garantir uma maioria demográfica e uma economia protegida do trabalho e da produção árabes.
No assentamento de povoamento puro, a expansão depende do comprometimento dos trabalhadores. Isso porque o povoamento das terras exige grande número de pessoas e mão de obra. Quando feito excluindo a população local, os próprios colonos precisam satisfazer esta necessidade. Os compromissos de uma classe trabalhadora colonizador só podem ser exigidos em troca de participação ativa nas colônias de povoamento, como incentivo ao sacrifício e à luta contra as populações nativas.
Na Palestina, este incentivo se deu pelo investimento direto de capital na classe trabalhadora judaica.[xi] Este investimento foi implantado por meio das instituições associadas ao longo da história ao ‘eixo trabalhista’ israelense: o Partido Trabalhista e o kibutz. A acumulação primitiva às custas da população nativa, neste caso, concedeu benefícios diretos aos trabalhadores judeus, como os exemplos descritos abaixo como a cessão ou venda a preços baixos das terras confiscadas dos palestinos. Em última instância, essa classe trabalhadora foi agente central na substituição da sociedade palestina, pela exclusão do trabalho árabe.[xii]
O processo de colonização da Palestina segue em curso, com a expansão dos assentamentos na Cisjordânia, no deserto de Naqab – onde há deslocamento contínuo de vilarejos beduínos, e com a manutenção em potencial da colonização de outros territórios próximos, como Gaza. É contínua também a diáspora palestina, com cerca de 10 milhões de palestinos espalhados pela região e pelo mundo. Muitos desejam regressar e todos têm direito a reparação.
Limpeza étnica, o pecado original do sionismo
Fiel à natureza colonial da ocupação, a fundação do Estado de Israel foi concluída pela destruição quase total da existência palestina. Os principais perpetradores da limpeza étnica vieram da ala à esquerda do movimento operário, particularmente dos membros do Partido dos Trabalhadores Unidos, o MAPAM.[xiii] Segundo Joel Benin: “A maioria dos dirigentes do Palmah, Haganah e mais tarde das forças armadas de Israel eram membros do MAPAM, que assumiram a responsabilidade política e operacional pela condução da guerra de independência de Israel.”[xiv]
Os kibutzim do MAPAM e outros assentamentos judaicos expulsaram os palestinos de suas terras e confiscaram suas colheitas. Com a cobertura fornecida pelos argumentos da União Soviética de que os militares árabes e seus apoiadores britânicos eram reacionários, os colonos argumentaram que a formação de um estado judeu era um golpe contra o imperialismo britânico.
A apropriação dos domínios palestinos, argumenta Joel Benin, foi uma forma de acumulação primitiva que permitiu o desenvolvimento econômico do Estado de Israel, em particular na agricultura. Não foi a burguesia, como Machover e Orr explicaram em seu ensaio, que se apropriou primeiro deste capital roubado, mas sim o Estado e a burocracia do Partido Trabalhista. Os imóveis palestinos desocupados foram depois redistribuídos à população judaica de Israel, que dobrou de tamanho em menos de quatro anos. Em 1954, mais de 30% da população judaica vivia em propriedades árabes. Mais de 1,1 milhão de acres de terras cultiváveis foram confiscados de “árabes ausentes, presentes e ‘presentes-ausentes’”[xv], o que aumentou as terras agrícolas judaicas em 250%. A agência das Nações Unidas para os Refugiados estimou o valor da riqueza roubada em mais de cinco bilhões de dólares na moeda atual.[xvi]
A hegemonia do Partido Trabalhista
Fundado em 1930, o MAPAI (Partido dos Trabalhadores da Terra de Israel, hoje Partido Trabalhista) de David Ben-Gurion dominou a direção da Confederação Geral do Trabalho Hebraico, HaHistadrut.[xvii] Após a criação do Estado de Israel, as instituições do MAPAI assumiram a gestão do fluxo de capital externo.[xviii] O MAPAI conseguiu satisfazer as necessidades materiais dos trabalhadores e subsidiar os interesses empresariais devido a bilhões de dólares em investimentos estrangeiros unilaterais em Israel: doações de judeus do mundo todo, reparações da Alemanha Ocidental e incentivos do governo dos Estados Unidos da América.[xix]
Ben-Gurion, atuando como secretário da Histadrut e mais tarde como primeiro-ministro de Israel, formou um acordo tripartite entre o Estado, a burguesia e os trabalhadores, por vezes descrito como corporativismo.[xx] Este acordo incorporou a propriedade árabe expropriada e criou um mercado de trabalho segregado que empregava exclusivamente judeus (com poucas exceções) antes de 1967. Até hoje, judeus e árabes raramente trabalham juntos, em um mercado de trabalho altamente estratificado.
A expropriação, a segregação e o capital estrangeiro, em conjunto, ofereceram crescentes padrões de vida à classe trabalhadora. Em troca, o MAPAI exigia disciplina rigorosa, justificada pelo “constante conflito com os árabes”. Dado que nas primeiras duas décadas de existência de Israel 40% os empregados no país eram funcionários da Histadrut e o estado israelense, eles compartilhavam dos mesmos interesses dos capitalistas em restringir a militância dos trabalhadores. Na verdade, sua força derivava em particular dessa capacidade de restringir a mobilização operária.
A única exceção ao controle de ferro do MAPAI foi uma greve de 43 dias por marinheiros, ocorrida ao final de 1951. Os marinheiros, que trabalhavam para a empresa de navegação ZIM, de propriedade da Histadrut, desafiaram a natureza verticalizada do sindicalismo em Israel e sua subordinação ao MAPAI. Porém, mesmo neste caso, apenas dois dos grevistas romperam com o sionismo. Um deles foi o autor mencionado acima, Akiva Orr. Nesse caso, a exceção confirma a regra.
A natureza colonizadora dessa classe operária lhe ofereceu uma posição única de “parceira” com o Estado, expressa nos acordos tripartis entre sindicatos, governo e empregadores. Isto lhe garantiu proteções, subordinando ao mesmo tempo seus interesses de classe aos do Estado. Os trabalhadores israelenses receberam (ou tomaram) grande parte do saque de 1948; gozavam de benefícios em habitação, educação e saúde proporcionados pela Histadrut e pelo Estado. Até 1973, desfrutaram de um padrão de vida elevado, sem comparações aos Estados árabes da região, próximos aos da Europa. Cooperaram, por isso, com consistência junto a o Estado e os empregadores.
Judeus mizrahim na sociedade israelense
Nos primeiros anos do Estado de Israel, os judeus mizrahim – imigrantes de países do Oriente Médio e do Norte da África – ocupavam empregos não qualificados cujos judeus brancos veteranos não desejavam mais. Foi negada aos judeus mizrahim a formação necessária para avançarem suas posições no mercado de trabalho. Assim começou um longo legado de discriminação racial interjudaica.
Os judeus mizrahim são hoje cerca da metade da população judaica. Eles constituem a maior parte da classe trabalhadora, dos operários e dos pobres de Israel. As disparidades entre os judeus asquenazes (em geral de ascendência da Europa Oriental) e os judeus mizrahim são maiores por conta das políticas discriminatórias iniciais[xxi], baixos níveis de mobilidade social e a aplicação de políticas neoliberais que minaram as proteções sociais. No geral, os judeus de ascendência europeia, de classe alta e média, cujas famílias possuem terras e têm empregos bem remunerados, continuam sendo os principais ganhadores com a ocupação.
Embora os judeus mizrahim enfrentem discriminações, eles são tão patrióticos como os seus compatriotas asquenazes. Pela tendência a integrar a base eleitoral aos partidos de direita no parlamento, muitos concluem que são mais racistas que os asquenazes. Na realidade, os judeus nascidos em Israel tendem a ser mais de direita do que os seus pais que emigraram de países árabes ou de maioria muçulmana, portanto seu país de origem ou etnia não explica o seu racismo. Mais correto seria, com certeza, identificar a classe social e a educação como fatores nos níveis de belicosidade.
Embora o sionismo liberal (uma criação asquenaze) seja muitas vezes visto como uma ideologia menos agressiva, ela é na realidade racista por inteira. O sionismo liberal ou trabalhista baseia-se na noção romântica de um “retorno ao Oriente”, mas rejeita toda a cultura oriental, talvez com exceção à culinária. Isso inclui os judeus orientais. Mesmo que os judeus do oriente fossem vistos em geral como um vínculo ao passado mítico judaico, eles eram desprezados pelos seus irmãos europeus.
O principal filósofo sionista, Abba Eban, expressou o pensamento sionista trabalhista sobre os judeus mizrahim afirmando: “Longe de considerar os nossos imigrantes dos países orientais como uma ponte para nossa integração com o mundo de língua árabe, nosso objetivo deve ser infundir neles o espírito ocidental, em vez de permitir que nos arrastem para um orientalismo antinatural”. Ben-Gurion declarou a famosa frase: “O judeu marroquino tirou muito do árabe marroquino, e não vejo muito o que possamos aprender com os árabes marroquinos. Não gostaria de ter por aqui a cultura do Marrocos”.[xxii]
O apoio dos judeus mizrahim ao partido da direita conservadora Likud (no começo da década de 1960) foi uma rejeição ao establishment racista liberal sionista que tanto os discriminava. Foi uma rebelião contra a Histadrut e o MAPAI, segundo Michael Shalev, posto que “os judeus mizrahim foram tratados com dureza por um sistema ‘residual’ de assistências mesquinhas sujeitas a condições (sem relação com o mercado de trabalho) e formas manipulativas de supostos tratamentos e reabilitações”.[xxiii] Essas assistências foram usadas pelo MAPAI para obrigar os trabalhadores mizrahim a votar no partido e a pagar as taxas de filiação à Histadrut.
Mas, embora muitos judeus de países não ocidentais se identifiquem como orientais, poucos se identificam como árabes. Isto não se deve apenas ao racismo sionista. Os judeus mizrahim vêm de vários países árabes e não árabes. Judeus líbios, egípcios, curdos, iraquianos, iranianos e indianos se identificam como mizrahim, nem todos sendo árabes. Os judeus marroquinos, que formam uma maioria da população mizrahim, em geral não se identificam como árabes. Embora habitassem o Marrocos, eles não se enxergam como árabes, mas como marroquinos.[xxiv]
Mesmo para aqueles que se identificam como árabes (muitas vezes através da experiência da discriminação), as condições materiais dos mizrahim diferem dos palestinos e dos árabes na região: todos os cidadãos judeus gozam de direitos civis e humanos, de terras e casas, de benefícios sociais que são negados aos palestinos. Não devemos subestimar a importância dos judeus de qualquer etnia para o Estado de Israel. Ao contrário dos palestinos, que vivem ameaçados de limpeza étnica, os mizrahim são judeus e, como tal, são fundamentais para manter a maioria judaica. Por isso não podemos subestimar seu compromisso com Israel.[xxv]
Ao lutar pelo seu direito à mobilidade social ascendente à igualdade na sociedade israelense, os mizrahim lutam por direitos que são sempre conquistados às custas dos palestinos. A tendência das pessoas pertencentes a faixa de rendimentos mais baixos em Israel serem mais de direita prova a amargura da sua batalha pelos recursos da Palestina. As lutas laborais e as greves políticas em Israel que desafiaram o colonialismo e o racismo contra os palestinos foram greves palestinas.[xxvi]
Ocupação e neoliberalismo
Hoje, é difícil contestar a natureza capitalista da sociedade israelense. No entanto, o desenvolvimento inicial de Israel foi baseado na propriedade estatal e na enorme presença do Estado na economia, assim como por um amplo estado de bem-estar social que mascarava seu verdadeiro caráter. Isto levou muitos a rotulá-los de um estado “socialista” ou “social-democrata”. No entanto, mesmo naqueles primeiros dias de domínio trabalhista, estavam sendo erguidas as bases para uma classe capitalista com alta concentração de renda e poder.
Até o final da década de 1950, o sistema, auxiliado pela imigração em massa, funcionou com eficácia, em meio à expansão consistente da economia. Na década de 1960, contudo, a imigração e o investimento estrangeiro diminuíram, resultando na diminuição do crescimento e, por fim, na estagnação econômica. A burocracia sindical, na realidade, foi enfraquecida pela economia de quase pleno emprego. Uma ascensão da militância trabalhista e greves selvagens desafiaram a Histadrut e as autoridades do governo, assim como a legitimidade do MAPAI como mediador entre a classe trabalhadora e os empregadores privados. Por ironia do destino, o pleno emprego minou o Partido Trabalhista e o sindicalismo. Estas realidades foram exacerbadas ainda pelo surgimento de empregadores com grande força econômica e política que optaram por contornar o governo nas negociações com a Histadrut.
Na esperança de enfraquecer a militância trabalhista e livrar-se do capital de menor lucratividade e competividade, o governo desencadeou uma enorme recessão em 1966.[xxvii] Isto provocou uma onda de falências e fusões, eliminando muitas empresas menores e acelerando a consolidação do capital privado. Ao mesmo tempo, não se estimulou o crescimento da economia.
A ocupação de Gaza e da Cisjordânia, em 1967, expandiu muito o mercado interno de Israel, ao mesmo tempo em que proporcionou mão de obra palestina barata e altamente explorável. Em meados da década de 1980, os trabalhadores palestinos representavam 7% da força de trabalho em Israel. A introdução desde conjunto de mão de obra marginal moderou os trabalhadores judeus. Ofereceu a novos setores operários a oportunidade de progresso.
David Hall-Cathala, autor de uma pesquisa sobre o movimento pela paz israelense entre 1967 e 1987, escreveu: “Para começar, a ocupação dos territórios abriu novos mercados e proporcionou uma vasta reserva de mão de obra barata. Isto gerou independência econômica e mobilidade social ascendente para muitos mizrahim, com resultados interessantes. Em primeiro lugar, passaram a favorecer a ocupação, não por desejo em colonizar os territórios, mas devido ao influxo de mão de obra barata árabe, que significava que muitos deles já não tinham que fazer o trabalho da ‘ralé árabe’.”[xxviii]
A expansão territorial de Israel trouxe condições vantajosas para as relações comerciais na Cisjordânia, na Faixa de Gaza e na Península do Sinai. O Estado conseguiu importar petróleo barato e explorar outros recursos naturais, enquanto exportava mercadorias para um novo mercado cativo.
Com isso a ocupação serviu aos capitalistas, ao Estado e aos trabalhadores israelenses. Shalev escreve que a manutenção da ocupação reflete os interesses adquiridos pelos “benefícios econômicos da ocupação (para empregadores assim como trabalhadores) em Israel”.[xxix] Como resultado, o Estado manteve uma economia de semi-guerra desde então.
A ocupação de 1967 também mudou o caráter da ajuda dos EUA, com maior ênfase no investimento militar. O advento do neoliberalismo sob direção americana, entretanto, ofereceu desregulamentação e benefícios fiscais às empresas, congelamento de salários e privatização de empresas públicas a partir do final dos anos 1960. Generais do exército foram enviados para escolas de negócios americanas e encarregados da gestão da indústria. Com o tempo, esses antigos generais e suas famílias de elite dividiram os despojos entre si, lançando as bases para uma elite capitalista mergulhada na corrupção.
O Estado como casulo
Nos primeiros anos, a estrutura de bem-estar social, que oferecia aos trabalhadores israelenses elevados padrões de vida, funcionou em conjunto com subsídios estatais para o capital, criando um “casulo” para os negócios. Os economistas políticos Jonathan Nitzan e Shimshon Bichler formularam o conceito de “estado como casulo”. Nitzan e Bichler levantaram a hipótese de que durante o período pré-estatal, devido à ausência de uma classe capitalista sionista, o Estado em formação assumiu a responsabilidade de controlar os investimentos.
“Mas”, escreve Adam Hanieh, especialista em Oriente Médio, “este controle não era antagônico ao capital privado. Pelo contrário, a partir de 1948, o Estado desenvolveu políticas destinadas a nutrir uma classe capitalista, encorajando algumas famílias importantes a empreender projetos conjuntos e investimentos com empresas estatais e quase-estatais”.[xxx] Este paternalismo continuou na década de 1980, quando uma classe capitalista independente emergiu como uma mariposa de um casulo.
Como explicam Nitzan e Bichler, no processo de desenvolvimento do capital, uma verdadeira classe capitalista surgiu para governar o que era antes dirigido pelo trabalhismo: “Na superfície, o Estado reinava supremo. O governo MAPAI controlava o processo de formação de capital e alocação de crédito, determinava preços, fixava taxas de câmbio, regulamentava o comércio exterior e dirigia o desenvolvimento industrial. No entanto, este processo pôs em movimento a sua própria negação, por assim dizer, ao plantar as sementes das quais o capital dominante emergiria depois. Neste sentido, o Estado funcionou como um casulo para uma acumulação diferencial. Os conglomerados empresariais emergentes foram no início empregados como “agentes” nacionais para vários projetos sionistas. Com o tempo, porém, essa crescente autonomia ajudou não só na libertação da concha estatista, mas também a transformação da própria natureza do Estado do qual ele evoluiu”.[xxxi]
A corrupção individual, no início, estava ausente do processo de financiamento estrangeiro, canalizado para empresas patrocinadas pelo Estado. Mas gerou aquilo descrito por Machover e Orr como “corrupção política e social”. Os generais que assumiram o controle das indústrias, e as famílias ricas com as quais eles se associaram, emergiram dos processos de privatização como uma elite corrupta e todo-poderosa – apoiada, ao em vez de ser confrontada, pelo trabalhismo. As empresas estatais privatizadas e os negócios beneficiados pelo “casulo” passaram a ser dominados por este pequeno círculo de pessoas. Segundo Nitzan e Bichler, oito famílias controlam hoje a maior parte da economia.[xxxii]
Hoje, há amplos casos de corrupção espalhada pela economia e pela sociedade israelenses. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em particular, enfrentou quatro casos distintos relacionados a negociações com a elite empresarial de Israel envolvendo a aceitação de subornos, tentativa de compra de cobertura midiática positiva, promoção de negócios próprios, e até vendas de submarinos ao Estado para beneficiar os seus aliados, amigos e familiares.[xxxiii]
Os empréstimos sem contrapartidas e a ajuda oferecidos pelo governo dos EUA a Israel, ao lado da permissão de enormes déficits comerciais, capacitaram “o desenvolvimento de indústrias de exportação de elevador valor agregado, ligadas a setores como a tecnologia da informação, produtos farmacêuticos e segurança.”[xxxiv] Na década de 1990, os EUA pressionaram os países no Oriente Médio a normalizar de suas relações com Israel, primeiro através dos Acordos de Oslo e depois pelo Tratado de Paz com a Jordânia.
Este processo consciente também criou uma distribuição ocupacional com um topo muito pesado. Segundo os números do censo israelense, a porcentagem de judeus empregados classificados como gerentes, engenheiros, técnicos, agentes e profissionais autônomos aumentou de 44% em 1996 para 57% em 2016 (em comparação com 40% da força de trabalho dos EUA, segundo a Agência de Estatísticas do Trabalho no país). Os empregos mais tradicionais da “classe trabalhadora” (escriturários, serviços e vendas, construção, comércio especializado, indústria de transformação e “ocupações elementares”) diminuíram de 55% para 42% do total.[xxxv]
As estatísticas de 2016 mostram mais de 635 mil pessoas, ou cerca de 17% do total da força de trabalho empregada, são não-judias. A seção não judaica da força de trabalho empregada tem quatro vezes mais probabilidade de estar empregada em “ocupações elementares” do que os membros da força de trabalho judaica e quase cinco vezes menos probabilidade de estar empregada em ocupações gerenciais e profissionais.[xxxvi]
Entretanto, com a aprovação de um Plano de Estabilização Econômica e a assinatura de um acordo de livre comércio com os EUA em 1985, o governo israelense, dirigido pelos trabalhistas, inaugurou uma era de austeridade para a classe trabalhadora: congelamento de salários, reduções das despesas governamentais em infraestrutura e educação, anulação dos direitos de muitos inquilinos de habitações públicas (principalmente da população mizrahim), privatização dos serviços de saúde (embora muitos cuidados de saúde permaneçam universais) e dos serviços de assistência social (embora o departamento permaneça público).
Assim, as forças econômicas e geopolíticas, ao mesmo tempo, polarizaram a força de trabalho judaica israelense entre uma maioria gerencial/profissional/técnica oposta a um núcleo cada vez menor da classe trabalhadora “tradicional”, que suporta o peso da reestruturação neoliberal.
Nesse caso, cabe uma comparação interessante entre Israel e outro Estado povoado por assentamentos de colonos, a África do Sul. Durante o apartheid, a economia sul-africana combinou a assistência social provida pelo Estado a uma política de pleno emprego para as famílias brancas, baseada na superexploração dos trabalhadores negros. Andy Clarno escreve que Israel, assim como a África do Sul, “empregaram violência para desapropriar os colonizados, excluí-los da participação política e suprimir a sua resistência. Ambos os Estados também gerenciaram economias fordistas raciais. Ambos sobreviveram à onda de descolonização que transformou a África e o Oriente Médio desde a década de 1950 até a década de 1970”.[xxxvii]
Na década de 1980, a África do Sul e Israel enfrentaram crises econômicas que ameaçavam minar os seus regimes. Ambos introduziram medidas neoliberais; em Israel os trabalhadores judeus foram prejudicados. Na África do Sul a crise acelerou o fim formal do apartheid – como a economia sul-africana dependia do trabalho negro (muito mais que a dependência da economia israelense no trabalho palestino), a classe dominante sul-africana foi forçada a desmantelar o seu sistema de governo no início da década de 1990. No lugar disso, as disparidades de riqueza criam hoje o que Andy Clarno chama de “apartheid neoliberal”.[xxxviii]
A desigualdade econômica, em Israel, atinge hoje seus níveis mais altos, perdendo apenas para os EUA entre as nações desenvolvidas. Mas as estatísticas que calculam essas disparidades incluem os palestinos, que têm probabilidade três vezes maior em serem pobres, enquanto o Estado nega o mesmo padrão de despesas sociais dadas os cidadãos judeus. Contando a população judaica de baixo rendimento, são gastos 35% a mais com os cidadãos judeus e seu padrão de vida comparado aos cidadãos palestinos.[xxxix] Embora, em 2011, a assistência social seja procurada por uma a cada três famílias – um aumento em cerca de 75% em relação a 1998, segundo o jornal Haaretz – a maioria dos judeus beneficiados por programas sociais procurava ajuda para pais idosos, deficiências e problemas de saúde, com apenas 16% procurando assistência devido à pobreza.
O desenvolvimento econômico conduzido pelo Estado nos anos de formação de Israel ajudou a construir um capitalismo privado e corporativo, moldando a economia política israelita. Desde meados da década de 1980, as políticas “ortodoxas” de livre mercado mudaram a relação dos trabalhadores israelenses com o estado social sionista. Os trabalhadores israelenses sofreram ataques aos seus direitos e benefícios sociais, mas continuam a usufrui-los às custas dos palestinos. Muitos desfrutaram de uma mobilidade social que é de fato negada aos palestinos. Ao mesmo tempo, uma economia política baseada na guerra e na ocupação proporcionaram novas formas de integração da classe trabalhadora israelenses no projeto sionista.
Economia armamentista
A indústria armamentista americana ganhou com a ajuda de seu governo a Israel através de equipamentos militares, e os magnatas das indústrias israelenses foram igualmente rápidos ao aproveitar essas oportunidades. À medida que grandes mísseis, aviões e outros veículos eram montados em solo palestino, a elite empresarial israelense colheu os benefícios, fortalecendo sua inserção na arena global do desenvolvimento de armas. Hoje, Israel lidera a nível mundial em tecnologias de ocupação e “segurança”.
Um dos maiores exportadores de armas do mundo, Israel vende até sete bilhões de dólares em tecnologia militar por ano, ou 2,2% de seu produto interno bruto. Um adicional de 1,35% do PIB é dedicado à pesquisa e desenvolvimento militar, e 6,7% são gastos no seu orçamento de defesa – o segundo maior orçamento militar do mundo em porcentagem do PIB, depois da Arábia Saudita. No total, 10,25% da economia israelense tem relação direta a indústria armamentista. Em comparação, os EUA, maior exportador de armas do mundo, oscila em torno de 3,7% do PIB. Israel é na verdade o maior fornecedor de armas per capita do mundo, ganhando 98 dólares per capita a nível global. É seguida, de longe, pela Rússia, com 58 dólares per capita, e pela Suécia, com 53 dólares.[xl]
Estes números não incluem as receitas dos recursos naturais explorados durante a ocupação na Cisjordânia e Gaza.[xli] Não considera as receitas do setor de serviços ou da indústria e as construções em geral erguidas na Cisjordânia. Estes números são difíceis de quantificar, uma vez que muitas empresas operam na Cisjordânia, mas têm escritórios em Tel Aviv para ocultar suas operações. Isto também não considera as exportações israelenses para os territórios ocupados, que representam 72% das importações palestinas e 0,16% do PIB de Israel. A economia israelense está envolvida a fundo em uma rede de despesas e lucros em torno da ocupação e a expansão contínua dos assentamentos.
Com o declínio nos subsídios ilimitados dos governos estrangeiros, o alcance econômico direto do Estado de Israel diminuiu. Em seu lugar, a ajuda militar dos EUA teve o efeito de aumentar a produção de armas.[xlii] A ajuda externa já não se da enquanto investimento direto na classe trabalhadora. Os trabalhadores israelenses são agora recompensados através da economia armamentista. É por isso, apesar da degradação econômica do neoliberalismo, a classe trabalhadora continua, como sempre, comprometida ao sionismo.
A classe trabalhadora depende hoje da educação, da habitação e das oportunidades de carreira proporcionadas por sua participação nas forças armadas. Encontraram caminhos para o avanço na indústria de alta tecnologia alimentada pelos militares, com mais de 9% dos trabalhadores concentrados na indústria de alta tecnologia.[xliii] À medida que as pensões e os salários reais diminuem, o custo de vida barato nos territórios ocupados tornou-se essencial.
Tal como uma comunidade baseada em torno de uma prisão, a manutenção da vida nos territórios ocupados em 1967 requer, além de tudo, diversos tipos de serviços para além do escopo das forças armadas, sustentando a vida de inúmeros israelenses. Ao deslocar o investimento para concentrá-lo em torno da guerra, da ocupação e da produção de armas, a classe trabalhadora agora possui dependência direta na economia de guerra.
Enquanto Israel continuar expandindo, expulsando os palestinos de terras redirecionadas aos judeus, retendo as terras e as riquezas roubadas em 1948, a classe trabalhadora israelense continuará constituindo uma força colonizadora e um executor da ocupação. Mesmo os seus setores mais oprimidos não exigem direitos democráticos e distribuição igualitária para todos, mas sim a sua própria “parte justa” da pilhagem sionista. Na era neoliberal, quando os padrões de vida são rebaixados, a classe trabalhadora israelense aspira distribuir a riqueza entre si mesma.[xliv] Quanto mais baixo o degrau na sociedade, mais amarga é esta batalha. Tal como um presidiário, é improvável que os palestinos encontrem aliados nos guardas e nas comunidades cujo sustento depende da prisão. A negação de liberdade para uns é a pré-condição na subsistência de outros.
Autodeterminação nacional e a questão democrática
“A nação que oprime outra nação forja as suas próprias correntes”, escreveu Marx. Os socialistas acreditam que a classe trabalhadora de uma nação opressora não pode se libertar enquanto oprime outra. Mas, e quando ela também não puder existir de outra forma? De que liberdades, direitos ou benefícios ela abriria mão para proteger a sua própria existência?
Os socialistas têm uma rica história de apoio a movimentos nacionais e lutas pelas liberdades democráticas – na medida em que expressam um golpe ao imperialismo e à opressão. Apoiamos as lutas nacionais que promovem os interesses da classe trabalhadora: quando o sucesso dessa luta leva à eliminação do inimigo comum, a nação opressora. Mas o sionismo não renunciou a um “inimigo comum” para a classe trabalhadora judaica e sua burguesia. Na verdade, ele criou no árabe e palestino um “inimigo” permanente.
Os socialistas não apoiam a “autodeterminação” em abstrato. Analisamos a situação concreta que possibilita a luta pela autodeterminação. Por exemplo, Marx opôs-se à “autodeterminação” dos Estados Confederados da América porque estava óbvio que a exigência de um estado separado surgiu para preservar a escravidão. Israel, hoje, é um projeto colonial ativo que depende da contínua desapropriação e supressão da vontade e dos direitos dos povos originários. Aos palestinos é negada a entrada em Israel, não podem regressar às suas casas e terras sendo negada a eles a cidadania, a igualdade de direitos, o direito ao voto e as liberdades democráticas e civis básicas.
O sionismo não avançou o movimento internacional da classe trabalhadora; pelo contrário, ele atenuou a luta de classes dentro de Israel, ajudou e encorajou nações imperialistas e ditaduras implacáveis por todo o mundo, cometendo inúmeras atrocidades contra o povo palestino em nome de sua própria soberania.
O nacionalismo palestino, incluindo a exigência por um estado único em que todos tenham direitos iguais, promove a democracia na região em oposição a um regime que apoia ditaduras e políticas imperialistas em todo o mundo. Os movimentos democráticos contra Israel desempenham uma função no avanço da libertação da classe trabalhadora internacional. É difícil imaginar uma revolução socialista que não resulte de um movimento internacional anti-imperialista e democrático.
Dado que os direitos palestinos à cidadania plena – o direito de regresso e ao fim da ocupação militar terrestre, marítima e aérea israelense – acabariam com o domínio demográfico dos judeus israelenses e, portanto, com a etnocracia judaica, uma revolução democrática minaria a existência da classe trabalhadora israelense em si mesma como classe trabalhadora judaica. Uma solução democrática anularia os inúmeros benefícios e a riqueza que sustentam o seu nível de vida. Na Cisjordânia e em Gaza, o PIB per capita é de cerca de 4.300 dólares; em Israel é cerca de 35.000 dólares. O fim da segregação exporia os trabalhadores israelenses a uma queda livre nos seus padrões de vida.
Os trabalhadores israelenses, na prática, são incapazes de tirar conclusões democráticas dos movimentos sociais. Em uma notável exceção no início da década de 1970, os Panteras Negras mizrahim israelenses ligaram a sua opressão ao racismo e à discriminação enfrentados pelos palestinos. Foi um fato notável cuja provável influência veio dos ativistas do Matzpen que os apoiavam. O seu movimento foi reprimido com métodos mais brutais e violentos do que qualquer outro movimento por justiça social na história de Israel. No entanto, eles também subordinaram a questão do sionismo às questões econômicas que enfrentavam.
O Movimento das Tendas, de 2011, que se inspirava de forma aberta nos movimentos democráticos e sociais da Primavera Árabe, foi liderado em particular por judeus asquenazes de classe média (originalmente os principais beneficiários do estado de bem-estar social). O neoliberalismo e as privatizações beneficiaram muitos dos pais dos jovens manifestantes, o que explicaria porque suas exigências aspiravam recuperar privilégios perdidos, sem acabar com o neoliberalismo e o livre mercado, muito menos com a natureza colonialista de Israel. A veterana socialista israelense, Tikva Honig-Parnass, escreve que “apesar do apelo à justiça social, quaisquer apelos à mudança democrática em Israel foram inequivocamente rejeitados pela grande maioria do movimento”.[xlv] Uma revolução socialista não pode depender de uma luta de classes apolítica, exigindo uma dimensão regional, democrática e de inclusão dos palestinos.
No início de dezembro de 2017, dois grandes movimentos de protestos surgiram em paralelo – um na Cisjordânia e em Gaza, o outro em Tel Aviv. Os palestinos conduziram uma greve geral e saíram às ruas protestando contra a decisão do então presidente americano Donald Trump de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Ao mesmo tempo, os protestos semanais anticorrupção contra os crescentes escândalos de Benjamin Netanyahu atingiram dezenas de milhares, à medida que um novo projeto de lei foi apresentado para impedir a polícia de divulgar as suas conclusões.
Estes protestos, assim como o movimento de 2011, rejeitaram as políticas de “esquerda” e “direita”. Mas esta rejeição não foi uma rejeição do sionismo, do establishment ou do Estado. Na verdade, o que esta rejeição sinalizou foi o caráter conservador dos manifestantes e das suas reivindicações. Grandes bandeiras israelenses e gritos como “Viva a nação de Israel” faziam parte cotidiana dos comícios. Eldad Yaniv, uma das principais figuras dos protestos, apelou repetidas vezes a todos os patriotas e amantes de seu país, até mesmo os membros da coligação de extrema-direita como Naftali Bennett e Ayelet Shaked, a rejeitarem Natanyahu e aqueles que “injustiçaram o povo israelense”. Um pequeno grupo de ativistas israelenses da campanha de BDS (boicote, desinvestimento e sanções) que participaram de um protesto com as letras B, D e S gigantes foram atacados e seus cartazes destruídos por uma multidão de outros manifestantes. Na verdade, nem dois dias depois do anúncio de Trump, enormes grupos de manifestantes passaram a cantar “Jerusalém para Sempre” nestas marchas.
Alguns socialistas argumentam que a luta por uma Palestina democrática é inviável devido à oposição da classe trabalhadora israelense. Afirmam que os palestinos, ao contrário dos sul-africanos negros, são uma minoria sem influência econômica, incapaz de derrubar o regime. Concluem que a única solução é uma revolução socialista a nível regional.[xlvi]
Embora seja verdade que a questão Palestina esteja ligada a uma solução regional, a suposição de que o regime sionista só pode ser derrubado através do socialismo e que, portanto, não devemos apelar a um Estado único, não-exclusivista e democrático, desconsidera a existência do movimento de libertação nacional palestino e a sua luta pela democracia. Além disso, uma revolução democrática regional abrangendo ditaduras explícita ou implicitamente aliadas dos EUA e Israel (cujo potencial testemunhamos na Primavera Árabe de 2011), certamente excederia o poder da classe trabalhadora israelense.
Dada a fragilidade da esquerda socialista no Oriente Médio, não há relação inevitável entre a revolução democrática e uma revolução socialista. Seria inesperado o envolvimento das massas de trabalhadores árabes em uma revolução socialista sem um apelo democrático inicial em uma região marcada pela resistência à repressão, a ditadura e o imperialismo. Os trabalhadores árabes deixaram claro durante a Primavera Árabe de 2011 que anseiam pela democracia – e que isso possui vínculos diretos à sua luta enquanto classe. Por u1ltimo, um Estado único em que judeus e não-judeus tenham direitos iguais cria a possibilidade da fundação de uma classe trabalhadora multirracial.
Conclusão
Este texto argumentou: primeiro, a existência de diferenças gritantes no comportamento de uma classe trabalhadora colonialista comparada a uma classe trabalhadora tradicional. Sendo incentivada a promover a colonização, ela atua como colaboradora da sua própria classe dominante.
Em segundo lugar, a limpeza étnica da Palestina como forma de acumulação primitiva, e décadas de benefícios diretos de financiamento estrangeiro, permitiram à classe trabalhadora israelense adquirir um nível de vida do qual ela não está disposta a abandonar. Na medida em que esta riqueza diminuiu com a ascensão do neoliberalismo e a deterioração do estado de bem-estar social, a classe trabalhadora deseja regressar a uma época em que possuía uma parcela maior da riqueza oferecida pela colonização.
Concluímos ainda que as mudanças de um Estado de bem-estar social para uma economia de guerra aprofundaram a dependência dos trabalhadores israelenses em relação à ocupação, como um guarda carcerário vinculado à prisão por motivos de subsistência.
Por último, afirmamos que a autodeterminação e os direitos dos palestinos, ou de qualquer população originária, negam por pressuposto os privilégios especiais de uma classe colonizadora. Isto é demonstrado com clareza pela oposição israelense ao BDS (boicote, desinvestimento e sanções). O apelo à igualdade por direitos cidadãos e ao direito de regresso, que são as reivindicações centrais do movimento de boicote, foram rejeitados pela esquerda sionista, bem como pela classe trabalhadora israelense.
Contudo, o fato de a campanha de boicote poder alienar os israelenses não é um argumento contra ela. Pelo contrário: a luta por um Oriente Médio democrático – da qual o movimento de BDS (boicote, desinvestimento e sanções) é uma parte central – tem o potencial maior de mudar o caráter da classe trabalhadora israelense de uma força contrarrevolucionária para uma força com potencial revolucionário.
Deveria ficar óbvio que os trabalhadores israelenses não são incapazes de se solidarizar com os palestinos de uma perspectiva humana, mas devido às suas condições materiais. Se elas mudassem através de uma revolta revolucionária, democrática ou socialista, a classe trabalhadora israelense teria o potencial de ser conquistada para uma perspectiva internacionalista, fundamental para o socialismo. Podemos argumentar que ao lutar pela democracia na Palestina e mudar as realidades materiais por lá, temos uma oportunidade de cortar a classe trabalhadora judaica de seus laços com o Estado e abrir caminho para a revolução socialista a serviço de todos.
Os nossos esforços precisam se voltar às mudanças democráticas e à solidariedade com os aliados naturais da classe trabalhadora internacional – as classes trabalhadoras árabes. Deveríamos desenvolver relações reais com a luta de libertação nacional palestina, onde quer que ela surja. Devemos afiar a nossa compreensão da esquerda no Oriente Médio, das forças que se organizam (muitas vezes em clandestino), e apoiá-las enquanto enfrentam a contrarrevolução na região.
Machover e Orr previram que um movimento revolucionário das classes trabalhadoras árabes alteraria por inteiro o status quo no Oriente Médio atual, e o papel de Israel dentro dele. Afirmaram: “Ao libertar as atividades das massas no mundo árabe, a correlação de forças poderia mudar; isto tornaria obsoleto o tradicional papel político-militar de Israel, reduzindo sua utilidade para o imperialismo. No início, Israel seria provavelmente utilizada em uma tentativa de esmagar um avanço revolucionário no mundo árabe; no entanto, fracassada esta tentativa, o papel político-militar de Israel face ao mundo árabe acabaria. Uma vez terminado este papel e os privilégios que lhe estão associados, o regime sionista, por depender destes privilégios, estaria sujeito a desafios massivos vindos de dentro de Israel.”[xlvii]
As ondas da Primavera Árabe de 2011 e 2019 foram um farol de esperança em uma região repleta de imperialismo, autocracia e repressão. As vitórias destas lutas, ainda que temporárias, abriram uma fresta para outro mundo possível. Que a próxima revolta varra todas as velhas etnocracias e autocracias, o sectarismo e a opressão, supressoras da vontade dos trabalhadores.
Daphna Thier é ativista política.
Tradução: Beatriz Scotton e Mateus Forli.
Trecho do livro Palestine, a socialista introduction, organizado por Sumaya Awad e Brian Bean. Chicago, Heymarket Books, 2020.
Notas
[i] A Alternativa Socialista, sessão norte-americana do Comitê por uma Internacional dos Trabalhadores, escreve que “a esta altura, apresentar um programa cuja solução se da na forma de um Estado comum para ambas as nacionalidades, mesmo um Estado socialista, não é capaz de fornecer uma resposta suficiente para os medos, suspeitas e o intenso desejo de independência nacional por parte de ambos os grupos nacionais. No entanto, o papel da esquerda marxista também é explicar que as camadas da classe trabalhadora e as massas de todos os grupos nacionais têm interesse, na sua raiz, em uma luta unificada em torno de um programa de mudança socialista”.
[ii] No site “In Defense of Marxism”, da International Marxist Tendency, os autores de um artigo intitulado “Against the Blanket Boycott of Israel” escrevem sobre a campanha BDS: “O que é notável nesta campanha é que ela ignora a questão de classe tanto em Israel como na Palestina. Acreditamos que só uma abordagem classista pode pôr fim ao imperialismo israelense… a diferença entre a classe dominante e os trabalhadores é que a classe trabalhadora israelense – objetivamente falando – não tem qualquer interesse em oprimir as massas palestinas. Enquanto a burguesia ganha biliões de dólares com a produção de armas e o massacre de inocentes, a classe trabalhadora tem de ver os seus filhos e filhas serem enviados para morrer em guerras pelo lucro”. Depois de concluírem que, se os trabalhadores israelenses tivessem feito uma greve geral durante a Primeira Intifada, a “revolução” teria sido bem sucedida, e ignorando o enfadonho fato de que nenhum desses trabalhadores chegou a apelar por uma greve geral, concluem: “a solução não virá sem os judeus israelenses da classe trabalhadora; eles desempenharão o papel central! É por isso que rejeitamos a campanha BDS como contraproducente [sic], e uma campanha que fortalece o sionismo burguês.”.
[iii] MACHOVER, Moshe; ORR, Akiva. The Class Character of Israel. In: BOBER, Aerie. The Other Israel: The Radical Case Against Zionism. Garden City, NY: Anchor Books, 1972.
[iv] Esta foi uma ruptura com a popular concepção esquerdista do sionismo, que o toma por movimento nacional de esquerda. Décadas de colaboração entre os partidos social-democratas e sindicatos ingleses e europeus com os sionistas da Histadrut e do Partido Trabalhista influenciaram essa posição. A tradição socialista deve muito à clareza com que Matzpen apresentou sua perspectiva radical. Socialistas que hoje argumentam contra o movimento BDS, sob o pretexto de que este machuca e, portanto, afasta a classe trabalhadora israelense, fariam bem em ler os textos originais de Matzpen.
[v] Havia outras suposições equivocadas no artigo, entre as quais a conclusão de que, frente aos seus respectivos serviços militares, os jovens palestinos e israelenses – “ que são chamados a travar ‘uma guerra eterna imposta pelo destino’” – são aliados potenciais, uma vez que os seus sacrifícios podem incutir sentimentos antissionistas entre eles. Mesmo que as taxas de alistamento nas Forças de Defesa de Israel (FDI) tenham diminuído em certa medida, elas permanecem incrivelmente altas. De acordo com os registos do FDI de 2015, a taxa média de alistamento nas sessenta e cinco maiores cidades foi de 77%, com cinquenta e uma dessas cidades excedendo os 70%. A juventude claramente não foi convencida pelos argumentos antissionistas, ou pelas provas abundantes dos crimes de guerra das FDI, de que deveriam recusar o serviço militar. E na medida em que os riscos diminuem com os avanços tecnológicos na capacidade militar, as recompensas materiais obtidas com o alistamento são ainda mais atrativas. Argumentaram, também, que o carácter imigrante da sociedade israelense, uma vez que 75% da população nasceu no estrangeiro, teve um efeito retrógrado na consciência dos trabalhadores. No entanto, mesmo que este argumento fosse válido por si só, hoje o inverso é verdadeiro – apenas 27% dos israelenses nasceram no estrangeiro.
[vi] MACHOVER et al., op. cit.
[vii] SHAFIR, Gershon. Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian Conflict, 1882–1914. Berkeley: University of California Press, 1996. Shafir baseou sua análise nos trabalhos de D. K. Fieldhouse e George Fredrickson.
[viii] SHAFIR, Land, Labor and the Origins, apud. Frederickson, 1988.
[ix] WOLFE, Patrick. Settler colonialism and the elimination of the native. Journal of Genocide Research 8, nº 4, 2006, pp. 387-409. Wolfe cita Theodor Herzl no seu panfleto The Jewish State, “Se eu quiser substituir um edifício novo por um antigo, tenho de demolir antes de construir.”
[x] A palavra “aliyah” significa ascensão, como na ascensão a Sião.
[xi] De fato, ao contrário do que acontece nos EUA, havia poucos recursos naturais consideráveis que motivassem a pilhagem das empresas.
[xii] Ainda hoje, a mão de obra palestina não é utilizada para furar greves ou prejudicar os trabalhadores judeus. De fato, uma estratificação de classe racializada garante que raramente trabalhem nos mesmos empregos, mesmo dentro das mesmas indústrias. Se assim não fosse, o carácter da colônia pura seria posto em causa.
[xiii] Descendente do partido borochovista Poalei Tzion e precursor do Meretz, o MAPAM formou-se em 1948 sob os auspícios do desafio da esquerda marxista-sionista ao partido MAPAI (Partido dos Trabalhadores da Terra de Israel). Ver notas 19 e 25.
[xiv] BENIN, Joel. Was the Red Flag Flying There?. Berkeley: University of California Press, 1990.
[xv] “Presente-ausente” é uma designação que Israel deu aos palestinos que permaneceram dentro das fronteiras de 1948, mas que não foram autorizados a regressar às suas casas originais.
[xvi] Ibid.
[xvii] Fundada em 1920, a Histadrut encarregou-se de empregar trabalhadores judeus na Palestina, quer assegurando-lhes posições dentro de instituições e empresas existentes, quer empregando-os diretamente através da sua própria empresa contratante e de outras subsidiárias. Também fundou seu próprio sistema de saúde e seu próprio banco. Tornou-se o principal agente de boicote ao trabalho e à produção árabes e foi, desde o seu início até o final da década de 1960, uma organização trabalhista exclusivamente judaica. Por ser também um empregador, funcionou ao contrário de outros sindicatos de trabalhadores e muitas vezes trabalhou em colaboração com o Estado e a burguesia para conter a militância dos trabalhadores.
[xviii] Uma vez que o Histadrut já não estava construindo o Estado, ela deixou de desempenhar um papel central no projeto sionista, e o MAPAI tomou o seu lugar. No entanto, as empresas e coletivos afiliados ao Histadrut proliferaram depois de 1948 e, na década de 1950, o Solel Boneh gerava 8% do rendimento nacional de Israel. As empresas do Histadrut empregavam 25% da força de trabalho; metade dos seus membros ganhava a vida de alguma forma através do Histadrut.
[xix] Apenas entre 1952-66, a Alemanha Ocidental pagou a Israel 3 bilhões de marcos em reparações. Hoje, isso equivaleria a mais de 111 bilhões de dólares. Nos primeiros anos, isto representava quase 90% da renda de Israel.
[xx] Um “sistema corporativista” foi um acordo comum pós-Segunda Guerra Mundial entre o governo, o partido trabalhista no poder e um sindicato nacional com os capitalistas da nação, num esforço para salvar o capitalismo. Lev Luis Grinberg no seu estudo sobre o corporativismo israelense, “Split Corporatism in Israel” (Albany: State University of New York Press, 1991) descreve-o como um acordo baseado no pleno emprego aliado à restrição salarial. O governo deveria subsidiar a subsistência dos trabalhadores com benefícios não derivados dos salários. No entanto, tal acordo nunca foi realmente alcançado em Israel. Os acadêmicos, como Grinberg, que teorizaram sobre o sucesso ou os limites do corporativismo israelense sugeriram que Israel caiu numa categoria pluralista, um Estado em que os interesses de classe existentes eram representados por organizações poderosas que lutavam por influência. Aparentemente, eles exercem tal influência em graus semelhantes. Na realidade, é a natureza particular de uma classe trabalhadora colonial que a coloca na posição única de “parceira” do Estado. Isto garante-lhe algumas proteções, ao mesmo tempo que subordina os seus interesses particulares aos do Estado e da classe capitalista à qual o Estado está vinculado. No caso israelense, o corporativismo era objetivamente dispensável, argumenta Shalev, porque mesmo na sua ausência o conflito de classes revolucionário poderia ser evitado.
[xxi] Por exemplo, os trabalhadores de Mizrachi foram muitas vezes impedidos de entrar no mercado de trabalho ou apenas lhes foram oferecidos empregos não qualificados, sazonais ou temporários. Eles também foram alojados em tendas “temporárias” ou unidades habitacionais feitas de estanho durante muitos anos, até serem transferidos para pequenos apartamentos e muitas vezes viverem em alojamentos apertados. Entretanto, os seus homólogos brancos foram rapidamente integrados no mercado de trabalho e receberam habitação permanente poucos meses após a sua chegada.
[xxii] EBAN apud HALL-CATHALA, David. The Peace Movement in Israel, 1967–87. New York: Palgrave MacMillan, 1990, p. 86. GURION apud AZKANI, Shay. “The Silenced History of the IDF’s ‘Mizrahi Problem’”. Haaretz, 28 de agosto de 2015.
[xxiii] SHALEV, Michael. Labour and the Political Economy in Israel. Oxford, UK: Oxford University Press, 1992.
[xxiv] EIN-GIL, Ehud; MACHOVER, Moshe. Zionism and Oriental Jews: Dialectic of Exploitation and Co-optation. Race & Class 50, nº 3, 2009, pp. 62–76.
[xxv] Ibid.
[xxvi] Embora o legado do racismo e da supremacia branca tenha sempre deformado o movimento operário dos EUA, os pontos altos da luta operária obrigaram sempre os trabalhadores a confrontarem-se com as fronteiras de cor. Houve também casos notáveis de solidariedade interracial no Sul, por exemplo – a Brotherhood of Timber Workers, o Movimento Populista, e durante a Greve Geral de Nova Orleans de 1892. O United Mining Workers of America eram notoriamente multirraciais, quando a AFL ainda era segregacionista, e isso devia-se ao fato de o trabalho ser perigoso e de ser necessária muita confiança entre trabalhadores qualificados e não qualificados. A CIO, sob a liderança moderada de John Lewis, abriu as portas aos trabalhadores negros porque Lewis percebeu que a organização dos trabalhadores não qualificados era a única forma de defender todo o movimento operário. A CIO acabou por assumir posição contra os linchamentos, a segregação e a discriminação racial. As melhores tradições de solidariedade operária na história dos EUA conduziram a tipos de organização e luta interraciais que quase nunca aconteceram em Israel.
[xxvii] ADERER, Ofer. “How Levi Eshkol’s Government ‘Engineered’ Israel’s 1966–67 Recession”. Haaretz, 16 de fevereiro de 2016.
[xxviii] HILL-CATHALA, David. The Peace Movement in Israel, 1967–87. New York: Palgrave MacMillan, 1990, p. 97.
[xxix] SHALEV, op. cit.
[xxx] HANIEH, Adam. From State-Led Growth to Globalization: The Evolution of Israeli Capitalism. Journal of Palestine Studies 32, nº 4, 2003, pp. 5–21.
[xxxi] NITZAN, Jonathan; BICHLER, Shimshon. The Global Political Economy of Israel. Londres: Pluto Press, 2002.
[xxxii] Para mais informações sobre a natureza incestuosa da classe dirigente israelense e a forma como foi criada, conferir The Global Political Economy of Israel, pp. 84-136, de Nitzan e Bichler.
[xxxiii] SALES, Ben. “The Corruption Scandals Plaguing Netanyahu and His Family, Explained”. Times of Israel, 9 de agosto de 2017.
[xxxiv] HANIEH, Adam. Lineages of Revolt: Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East. Chicago: Haymarket Books, 2013.
[xxxv] Cálculos extraídos de “Jewish Employed Persons, by Occupation (2011 Classification), Sex, Continent of Birth and Period of Immigration, 2016, Table 12-9”, do Israeli Central Bureau of Statistics. As estatísticas dos EUA são do Gabinete de Estatísticas do Trabalho dos EUA, Quadro A-13, “Table A-13. Employed and unemployed persons by occupation, not seasonally adjusted”, abril de 2018.
[xxxvi] Essas estimativas da mão de obra não judaica são calculadas após a subtração das estatísticas da mão de obra “total” para os dados comparáveis de 2016 das estatísticas para os empregados judeus. Ver Tabela 2-10, “Pessoas empregadas, por profissão” (classificação de 2011), dados de 2016, organizados pelo Escritório Central de Estatistica de Israel.
[xxxvii] CLARNO, Andy. Neoliberal Apartheid: Palestine/Israel and South Africa after 1994. Chicago: University of Chicago Press, 2017. Economias que se baseiam em maiores salários e benefícios para os trabalhadores para promover o consumo. O fordismo também se refere à utilização da produção em linha de montagem.
[xxxviii] No entanto, Clarno escreve que, atualmente, “a desigualdade na África do Sul é mais grave (…) do que era durante o apartheid formal (…) o Estado sul-africano foi democratizado, mas a neoliberalização do capitalismo racial colocou limites importantes à descolonização”. O autor afirma que ainda existe um apartheid socioeconômico para a maioria dos negros, uma vez que apenas 7,5% das terras sul-africanas foram redistribuídas desde o fim do apartheid. De outro modo, a estratégia colonial neoliberal de Israel envolve, de forma semelhante, a extensão de uma autonomia limitada à Autoridade Palestina, mas com uma degradação da vida dos camponeses e trabalhadores palestinianos. Conferir CLARNO, op. cit.
[xxxix] GRAVÉ-LAZI, Lidar. “More Than 1 in 5 Israelis Live in Poverty, Highest in Developed World”, Jerusalem Post, 15 de dezembro de 2016.
[xl] De acordo com dados do Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo e do Banco Mundial.
[xli] Por exemplo, 89% dos recursos hídricos da Cisjordânia são extraídos pela empresa israelense Mekorot. Do mesmo modo, 0,3% do PIB é gás natural, fornecido principalmente a partir da costa de Gaza.
[xlii] Shalev escreve: “A caraterística mais saliente do pacote de ajuda dos EUA tem sido a sua estreita relação com o custo das compras israelenses de armas americanas (…) em vez de ter uma parte importante da ajuda externa à disposição [do governo] para dirigir o desenvolvimento econômico, o Estado utiliza habitualmente quase todo o influxo de ajuda para fins militares. Esta incapacidade de canalizar livremente a ajuda dos EUA nas direções mais econômica e politicamente compensadoras eliminou uma das fontes mais importantes do poder do partido dominante”. SHALEV, op. cit.
[xliii] Dados do recenseamento israelita: 297.000 estão empregados em alta tecnologia: 111.000 estão empregados na indústria de alta tecnologia.
[xliv] Por exemplo, são necessários 148 salários mensais para comprar uma casa em Israel, em comparação com 66 nos EUA, o que torna as casas novas “inacessíveis ao trabalhador médio”. No entanto, os preços mais baixos das casas e os subsídios do governo aos colonos tornam as casas na Cisjordânia mais acessíveis. Estes fatores econômicos reforçam a vontade de colonizar a Cisjordânia. Ver BERGER, Miriam, “Sticker Shock Greets Israeli Homebuyers”, US News and World Report, 14 de fevereiro de 2017.
[xlv] HONIG-PARNASS, Tikva. “The 2011 Uprising in Israel”, 12 de janeiro de 2012.
[xlvi] Essas posições estão expostas em Moshe Machover, “Belling the Cat,” 13 de dezembro de 2013. A crítica de Tikva Honig-Parnass a esta posição em “One Democratic State in Historic Palestine”.
[xlvii] MACHOVER et. al., op. cit., pp. 87–101.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA