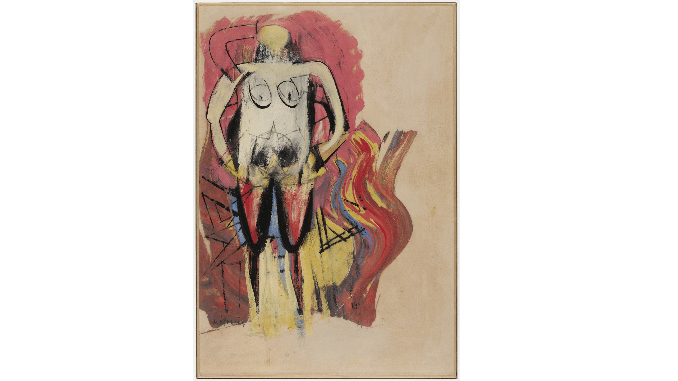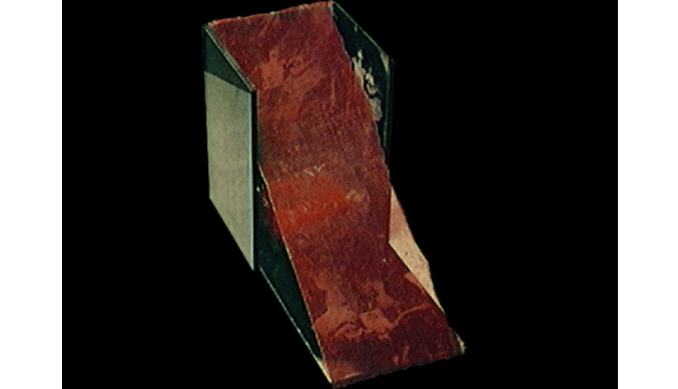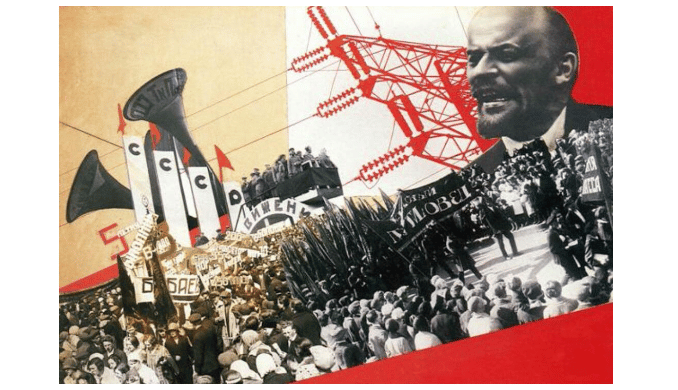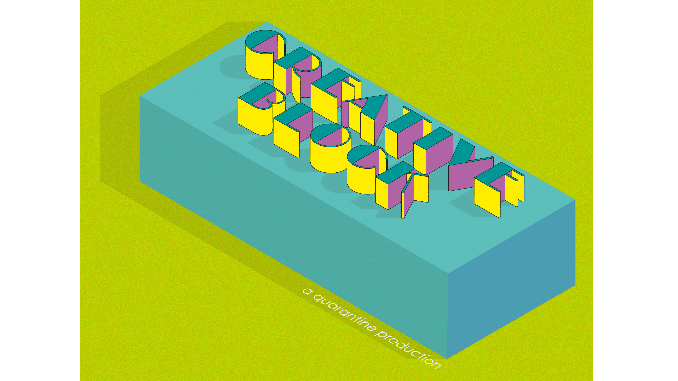Por GILBERTO MARINGONI*
É preciso recuperar a rebeldia da esquerda. Se alguém chegasse de Marte e fosse acompanhar um debate de TV, seria difícil dizer quem seria o candidato de esquerda, ou de oposição
1.
A campanha de 2024 pela prefeitura de São Paulo, representou uma derrota eleitoral e política para a esquerda. O PSOL comandou uma campanha confusa, sem marcas claras, infantilizada e despolitizada. Buscou em todo momento se desviar de alguns dos principais problemas da cidade de São Paulo, como a privatização da energia e a especulação imobiliária, possivelmente para não criar arestas com o PT, seu aliado. O candidato tomou a duvidosa decisão de normalizar o fascismo, ao aceitar ser entrevistado por Pablo Marçal, extremista de direita que não passou ao segundo turno.
A postulação da esquerda teve um orçamento, segundo o TRE, de quase R$ 84 milhões, algo inédito em qualquer postulação municipal progressista, em nosso país. O montante é 12 vezes maior que o gasto de 2020, quando o candidato amealhou um total de R$ 7 milhões. Pagou também o preço por ter se subordinado acriticamente ao lulismo e a um governo federal que se mostra decepcionante, diante das expectativas geradas ao longo de 2022.
Comparado com quatro anos atrás, os números decepcionam. Na disputa com Bruno Covas (PSDB), as porcentagens foram 59,38% a 40,62% dos votos válidos. Hoje, os números ficaram em 59,35% a 40,65%.
O PSOL está agora diante de um dilema existencial. Podemos estar perdendo o impulso inicial que possibilitou o surgimento do partido. Saímos do PT há 20 anos, quando o governo Lula I aprovou a reforma da Previdência ao Congresso Nacional. Naquele processo, Luciana Genro, Babá e João Fontes, que exerciam mandatos na Câmara, e Heloísa Helena, senadora, foram expulsos da agremiação por se recusarem a apoiar uma medida feita em conjunto com o mercado financeiro. Agora a tendência majoritária do PSOL caminha no sentido de desfazer aquele impulso rebelde e inconformado.
Podemos fazer vários tipos de balanço das eleições municipais. Ela pode ser geral, avaliando o marco inicial da disputa, as opções feitas, os resultados ao longo do percurso e onde chegamos, tendo em mente o panorama geral do governo Lula ter vencido a extrema-direita por estreita margem em 2022. Apesar disso, desde seu início o governo decidiu não enfrentar frontalmente as forças reacionárias. Podemos também fazer avaliações particulares, cidade a cidade, candidato a candidato. Proponho aqui tomar o primeiro caminho, tendo como foco a disputa em São Paulo, por ser a maior e mais importante cidade do país.
2.
Escrevi acima que o governo não faz um enfrentamento claro com a extrema direita. Isso não implica que a administração federal não tenha coragem, ousadia ou desprendimento para tanto. Não se trata disso, de um julgamento moral. A causa real é que os projetos econômicos de Lula e Jair Bolsonaro não se diferenciam substancialmente no aspecto econômico, apesar de haver claras distinções políticas entre ambos. É por isso após obter a revogação do draconiano teto de gastos, aprovado no governo de Michel Temer, Lula apressou-se em produzir uma nova regra fiscal, o arcabouço.
Não se reverteram medidas aprovadas após o golpe de 2016, como prometido em campanha. São os casos da reforma trabalhista, da privatização da Eletrobrás e da refinaria Landulpho Alves, entre outros. Em março de 2022, o PT chegou a promover um seminário pela revogação da reforma trabalhista, no qual estava presente a então vice-presidente da Espanha, e ministra do Trabalho e Economia Social, Yolanda Díaz.
Na pauta, uma troca de experiências para saber como o país havia desfeito uma medida neoliberal sancionada anos antes pela gestão do PP, de direita. Além disso, Lula repetiu, ao longo daquele ano, seu principal objetivo, caso fosse eleito: “Colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda”. Essas palavras se espalharam pelo Brasil. Nada disso foi sequer debatido no governo. O slogan está na mira do ministro da Fazenda, que ao cortar gastos sociais, acabará por retirar o pobre do orçamento.
A campanha de Lula em 2022 foi dirigida por marqueteiros e o presidente voltou ao Planalto sem explicitar um projeto claro. O novo governo aparentemente se amoldou à situação existente. A alegação usual foi a de que não havia correlação de forças e que do outro lado está o fascismo.
Logo nos primeiros meses de gestão, a equipe econômica apresentou o mecanismo que se tornaria o único projeto real do governo, um arcabouço fiscal restritivo, a partir do falso argumento de que estaríamos em meio a uma grave crise fiscal, por termos uma relação dívida/PIB em torno de 78%, tida como altíssima. Assim, precisaríamos conter gastos, caso contrário a economia degringolaria e a situação se tornaria pior para todo mundo. Trata-se de um falso argumento do capital financeiro. O Japão tem 225% na relação dívida/PIB, os Estados Unidos 124%, a França 115%, a Itália 130% e por aí vai. Relação dívida/PIB não quer dizer absolutamente nada em termos macroeconômicos. Isso é pretexto para se fazer um arrocho geral nas contas públicas e destinar divisas para o capital financeiro.
As contas do financismo, absorvidas pelo ministério da Fazenda, interessadamente não levam em conta que nosso grande déficit é o nominal, que alcança R$ 1,11 trilhão. Temos um déficit primário de R$ 225 bilhões, ou 2,26% do PIB, que Haddad quer zerar. Quando se soma ao déficit na conta de juros, temos aquela monstruosidade do déficit nominal. Se o governo se volta para cortar orçamentos, reduzindo serviços públicos, investindo contra mínimos constitucionais de saúde e educação, seguro-desemprego, seguro-defeso, do BPC etc., isso pode significar a realização, com gradações distintas, do mesmo projeto que está em vigor há décadas e que passou pelos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro.
Vamos repetir: isso não significa que o governo Lula seja igual aos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Significa que o diagnóstico da existência de um rombo fiscal que acentua a relação dívida/PIB é exatamente igual nos três governos. Se o diagnóstico, as soluções e os encaminhamentos das políticas públicas são muito semelhantes aos da direita, não há confronto real de projetos entre os partidos que representam tais forças.
Os governos estaduais do PT são exemplos gritantes da inexistência de diferenças de fundo em jogo. O PT governa a Bahia desde 2007, e suas polícias são as que mais matam no país e sucessivos governos privatizaram ativos públicos. O mesmo se dá no Piauí, onde o governador petista acaba de vender a AGESPISA (Águas e Saneamento do Piauí S. A.), empresa equivalente à Sabesp, vendida pelo bolsonarista Tarcísio de Freitas. Aliás, se temos em São Paulo as privatizações de escolas via parcerias público-privadas, é preciso levar em conta que a verdadeira parceria se dá entre os governos Tarcísio e Lula, pois o financiamento dessas operações é feito pelo BNDES. O que isso tudo quer dizer? Que entre os grandes partidos não há substancial diferença de projetos de país.
3.
A campanha eleitoral de 2024 mostrou, de norte a sul, com raríssimas exceções, a ausência de enfrentamento ou confronto entre candidatos de distintos partidos. Não há polarização real por não haver polarização de projetos ou concepções de país. Assim, a campanha se torna uma exibição de estilos, modos e procedimentos. As diferenças se dão nas acusações contra um que pratica violência doméstica, outro que depreda bens públicos, mais outro que participa da máfia das creches e por aí vai. Claro que são informações importantes e o eleitor tem o direito de saber delas, mas isso não pode ser o centro das campanhas.
Assim, se não há diferenciação, a disputa não é real e não há política, cuja essência é o enfrentamento e a disputa de espaços e projetos de poder. Se não há confronto, o que há é concorrência ou competição, na qual vence quem se mostrar como o melhor, o mais simpático, o mais fofo, com os melhores slogans, as melhores marcas, enfim, o que tiver o melhor marqueteiro.
Assim não há problemas em se contratar o marqueteiro de João Dória aqui em São Paulo, que dirigiu uma campanha do coraçãozinho copiado do Maluf, dos gatinhos e da fofura e criando o candidato-produto, em distintos sabores para distintos públicos. E a estética de cada postulante se parece cada vez mais com a do concorrente, tudo criado nos labirintos da inteligência artificial. E todos infantilizam suas apresentações.
Com tanto amor transbordando nos vídeos e nas redes, todo e qualquer enfrentamento é classificado como ódio. É uma bobagem. Tem de haver confronto se não, não há política. Se não há política, se não fica claro para apoiadores de cada lado qual o objetivo da campanha e haverá o desengajamento da militância partidária e do próprio eleitor.
Assim, a campanha evita o enfrentamento não por uma questão moral, mas por uma questão de concepção. Apesar de gastos milionários, o engajamento militante é baixo. As grandes campanhas, das coligações mais ricas, são feitas para não engajar ninguém, pois o militante engajado e visto muitas vezes como um incômodo. O militante engajado vai intervir e questionar rumos da campanha. O engajamento democratiza decisões, mas é tido como um estorvo.
A campanha do candidato do PSOL em 2020 foi uma jornada de confronto. Havia distintas concepções de cidade. Em 2024 a situação mudou, em especial pela aliança com o PT. Como pode haver confronto agora, se o candidato não podia falar da principal violência cometida contra a cidade, a revisão do Plano Diretor? As regras e o ordenamento para a construção de edificações e ocupação do solo mudaram para pior, a partir de projeto da prefeitura.
As mudanças exacerbaram a especulação imobiliária e foram aprovadas pela Câmara Municipal no início de 2024. Na votação final, cinco dos oito vereadores do PT, aliado principal do PSOL, votaram a favor da proposta do prefeito Ricardo Nunes, por interesses até agora desconhecidos. A bancada do PSOL foi a única que fechou questão contrária. O desmonte de bairros inteiros aumenta a impermeabilização do solo, satura os sistemas hídricos e avança sobre áreas de mananciais. Uma nova estação de chuvas fará estragos enormes. Com a adesão da maioria do PT às propostas de uma gestão de extrema direita, torna-se difícil para o candidato do PSOL abrir baterias contra leis apoiadas por agremiação aliada.
Há um segundo exemplo da ausência de confronto real: São Paulo, como outras cidades brasileiras se ressente dos problemas causados pela privatização dos serviços de energia nos anos 1990. O resultado envolve preços altíssimos e serviços para lá de precários, entre eles constantes apagões na cidade.
Além de apagões localizados, houve três grandes ao longo do último ano. O primeiro foi em setembro de 2023, o segundo em março de 2024 e o terceiro agora em setembro, coincidentemente, um ano após o primeiro. Chove, a cidade apaga. Qual o problema? É que a Enel, empresa privada que atende a cidade, demitiu centenas de técnicos, reduziu equipes de manutenção e supervisão das redes para aumentar seus lucros e remetê-los à Itália, país sede da empresa. Ocorre que a concessão é federal. Quem pode tomar uma iniciativa a respeito é o governo federal.
No entanto, em duas oportunidades, em encontros realizados na Itália com dirigentes da Enel, tanto Lula quanto seu ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, garantiram que a empresa terá sua concessão para mais 30 anos renovada automaticamente. Como o candidato do PSOL poderia exigir a cassação da concessão nessa situação? É bem verdade, que às vésperas do pleito, ele mudou totalmente de rumo e, numa medida desesperada, afirmou que se eleito reestatizaria a concessionária, embora um prefeito não disponha de poderes para isso.
Como essa linha de ataque é impossível para uma candidatura apadrinhada por Lula, o candidato sacou da cartola outro argumento para atacar o prefeito. “O problema é que não se podam árvores”. É verdade, a poda das árvores é irregular na capital. Mas não se pode inventar argumentos. Poda de árvores entrelaçadas a cabos de alta tensão é trabalho para especialistas em eletricidade, profissionais com os quais a prefeitura não conta. A responsabilidade pela poda é da empresa concessionária. No afã de achar um culpado visível, o candidato do PSOL aliviou a responsabilidade da multinacional e do processo de privatização. Assim, mais uma vez, se despolitizou a campanha, evitando-se o enfrentamento em seu ponto real.
4.
Se não há enfrentamento real com Ricardo Nunes, defensor da privatização e do plano Diretor, também não há com Pablo Marçal. A campanha não se propôs a enfrentar de verdade ninguém, mas a ser fofa e simpática. Assim, ao longo dos últimos meses, o candidato do PSOL acalentou gatinhos, garantiu ter a mesma altura de Taylor Swift etc. Não à toa, a grande cena dos debates do primeiro turno foi a cadeirada de Datena em Pablo Marçal.
Em outras oportunidades, o psolista se aproximou de teses conservadoras, buscando ampliar um hipotético eleitorado a ser disputado. Em fevereiro último, numa entrevista à rádio Band News, quando confrontado com as críticas do presidente Lula à política genocida de Israel, ele se desviou do assunto: “Eu não sou candidato a prefeito de Tel Aviv. Eu sou candidato a prefeito de São Paulo”. Em setembro, à TV Globo, classificou o governo venezuelano como “um regime ditatorial”. No mês seguinte, ao UOL, o parlamentar afirmou que a esquerda precisa defender o empreendedorismo como uma das saídas para a população da periferia.
A intervenção parece não levar em conta pesquisa da FGV/IBE, divulgada em julho, atestando que 67,7% dos autônomos desejam ter carteira assinada e direitos trabalhistas. Sintomaticamente, no mesmo processo eleitoral, seu companheiro de partido, Rick Azevedo elegeu-se vereador no Rio de Janeiro, com a mais tradicional demanda trabalhista, a redução da jornada, através da campanha contra o trabalho 6 x 1, que se espalhou pelo país.
Dessa maneira, o candidato do PSOL pode, sem problemas, conceder uma entrevista a Pablo Marçal, apesar deste tê-lo acusado de ser usuário de drogas e de ter apresentado um laudo falso a respeito. No entanto, o exemplo mais dramático e triste da indiferenciação de programas se deu no debate da rede Globo, no qual Ricardo Nunes encurralou o candidato do PSOL, ao perguntar por que este teria votado contra o arcabouço fiscal, ano passado, no Congresso.
É inacreditável! O arcabouço é uma medida neoliberal do governo Lula, apoiada pela direita brasileira. O candidato do PSOL queria apoiá-la no plenário da Câmara, mas a bancada fechou questão contra. O candidato não conseguiu se explicar sobre uma medida – que Ricardo Nunes chamou de boa para o país – contrária a qualquer ideário de esquerda. Mais uma vez não houve enfrentamento.
5.
Tanto em São Paulo quanto em Porto Alegre, a infantilização da campanha da esquerda foi além. Criaram-se novos personagens. No Sul havia a Maria, pois Maria do Rosário é um nome católico, o que poderia atrapalhar hipotéticos debates com evangélicos. Em São Paulo tratou-se de desossar o candidato de quaisquer lembranças de seu passado como líder de movimento social. Em seu lugar, apareceu uma espécie de bom selvagem, num afã mistificador de se buscar o centro.
Repetindo: nesse quadro não há contraposição e não há propostas reais em disputa. Há peças, ou sacadinhas de marketing. É “periferia viva”, é “SUS da educação” e variados slogans e toques espertos. Não são propostas. Isso me lembra o grande jornalista Aloysio Biondi (1935-2000), com quem trabalhei, que dizia: “Detesto debate com proposta! É chato demais”. Ele se referia a essas propostas de mentirinha, espalhadas por marqueteiros espertos. Os debates precisam colocar frente a frente concepções de mundo, de vida, de políticas e não sacadinhas publicitárias bem embaladas.
Há outro aspecto marcante dessas eleições. Trata-se da altíssima taxa de abstenções. O indicador médio no segundo turno foi de 30%, em todo o país. Em Porto Alegre, 34,83% do eleitorado não foi às urnas na segunda volta. É percentual de país onde o voto não é obrigatório. Numa cidade castigada por uma catástrofe ambiental, um terço dos eleitores não viu razões para escolher alguém, sinal não apenas de desencanto, mas da disfuncionalidade da política institucional. Cada qual deve se virar, pois ninguém resolverá coisa alguma. A democracia, assim, torna-se ornamental. É muito grave.
Governistas e ilusionistas de plantão minimizam o problema. “O PIB cresce, o emprego aumenta e a renda se expande”. Sim, igualzinho ao primeiro trimestre de 2013. Dois meses depois, o Brasil explodiria em ruidosos protestos. Até hoje não formulamos explicações convincentes para aqueles eventos. “Tout va très bien, madame la marquise”, dizia a cançoneta francesa, tudo ia muito bem até a erupção popular. Bolsas disso e daquilo e empregos precários aliviam, mas não resolvem problemas seculares, por mais que palavrórios manhosos de lideranças carismáticas digam o contrário, em meio a juras de ajustes fiscais que a todos salvarão. Os indicadores objetivos possivelmente não captem um mal-estar oculto ou frustrações subjetivas que esperavam um fósforo aceso para explodir.
O que significa e o que pode acarretar tamanho desinteresse? Que solução os absenteístas podem esperar, além de algum poder salvador acima da política, acima do dia a dia massacrante? Por que, ao mesmo tempo, um número crescente de pessoas pelo mundo fica disponível para apoiar soluções autoritárias, ou mágicas? Por que diante do desespero com a vida que não muda, as bets se tornam a nova pandemia que pode retirar cada um do calvário do subemprego, da falta de perspectivas, da destruição climática, da bala perdida? Apostemos em qualquer coisa, pois nada mais é crível.
É decisivo refletir sobre essa questão. Podemos estar diante de um novo junho de 2013, silencioso e adormecido, mas perigosamente grandioso.
Vamos agregar a essa análise a espantosa entrevista do ministro Fernando Haddad à jornalista Monica Bérgamo a uma semana das eleições. Ali, o titular da Fazenda declara de forma aberta, franca e sem retoques sua capitulação ao credo do mercado. O ministro não esconde o que outras notícias nos jornais do dia (15.10.2024) já prenunciavam: em novembro viria um pacote de profundos cortes orçamentários para 2025.
A entrevista exibe trechos prosaicos, como este: “A Faria Lima está, com razão, preocupada com a dinâmica do gasto daqui para a frente. E é legítimo considerar isso com seriedade”. É legítimo que um governo eleito por 60,3 milhões de brasileiros esperançosos por mudanças, com uma diferença de apenas 1,8% dos votos em relação ao fascista, dê um giro na surdina e afirmar que legítimos são os poderes do lado de cima da sociedade?
Suas palavras podem ser resumidas da seguinte forma: medidas duras virão, como é da tradição nacional, depois das eleições. O ministro deveria atentar para o fato que o governo Lula e sua agremiação levaram inesquecível tunda nas disputas municipais, fato que gerou clima de barata-voa no Partido dos Trabalhadores e aliados. A frustração dos próximos meses pode ter consequências imprevisíveis.
Fernando Haddad tem sido alvo de críticas duras por parte do “mercado”, pelo fato da economia estar mais aquecida que o desejado, com expansão de emprego, renda e do PIB, o que alimentaria a inflação. O motivo está no fato dos gastos obrigatórios, especialmente os estabelecidos na Constituição, não terem sido cortados. Sigamos suas palavras: “O mercado está entendendo que a soma das partes – a soma do salário mínimo, saúde, educação, BPC – é maior do que o todo. Ou seja, vai chegar uma hora em que esse limite de 2,5% [de crescimento da despesa em relação ao da receita] não vai ser respeitado. Ainda que a receita responda, o arcabouço fiscal não vai funcionar se a despesa não estiver limitada”. Embora faça volteios, o titular da Fazenda foi claro em apontar os alvos de sua tesoura: a fatia do orçamento destinada aos pobres.
6.
O governo Lula parece ter se rendido em toda linha: capitula sem luta para o mercado, para os militares, para o centrão e para a Globo. E ainda há os que classificam este como um governo de conciliação de classes. A conciliação se dá quando duas ou mais partes buscam entendimentos em vista de objetivos comuns. Em geral cada lado cede interesses secundários, sem abrir mão de princípios básicos, rumo a uma posição de equilíbrio. Já a capitulação ocorre quando determinada força descarta princípios para se amoldar a uma situação dominante. O Brasil não parece ter um governo de conciliação, algo no limite aceitável. Caminhamos perigosamente para um quadro de adaptação.
Alianças policlassistas podem representar ganhos para a sociedade no enfrentamento de dilemas e entraves do desenvolvimento? Na História há incontáveis demonstrações de que sim, é possível, desde que se saiba claramente em torno de que objetivos a coalizão é feita, quais os setores aliados e contra quem se luta.
O governo de Salvador Allende (1971-1973), no Chile, conciliou trabalhadores, a pequena e média burguesia e setores da grande burguesia em uma aliança possível em meio à agudização da Guerra Fria. Os governos da socialdemocracia europeia – entre o segundo pós-Guerra e o final dos anos 1970 – possibilitaram uma articulação entre setores da burguesia e os trabalhadores, com notáveis ganhos sociais para esses últimos.
A socialdemocracia vicejou quando as classes dominantes europeias estavam acuadas pelo desastre da crise de 1929, pela quebra de suas economias, pelo avanço do movimento sindical e pela afirmação da União Soviética no cenário externo. Allende tentou se firmar em uma fase de desgaste internacional dos EUA, em terreno interno movediço.
Temos hoje uma situação inusitada, na qual dissensões à esquerda são tratadas como se fossem uma espécie de quinta coluna diante de um governo que se coloca como derrotado antes de se iniciar a luta. O pretexto é o de sempre. “Vocês criticam, mas não veem que do outro lado está o fascismo”. É o anteparo para o bloqueio da crítica. Claro que do outro lado está o fascismo. Mas a melhor forma de fortalecê-lo é a inação, a pasmaceira e a difusão da fofura de bichinhos infantis. Temos aí algo perverso. O fascismo passa a ser funcional para a letargia; torna-se um espantalho para evitar contraposições e críticas.
A avaliação eleitoral do ministro Paulo Pimenta, na Globo News, no dia seguinte à divulgação dos resultados, foi um exercício de ginástica mental. O que ele diz? Algo surreal: quem ganhou a maior parte das prefeituras foram os partidos da base do governo Lula, como o PSD, o MDB, o União Brasil, o MDB. Se aplicarmos o raciocínio a São Paulo, transformamos a derrota em vitória, pois Ricardo Nunes é do MDB que é base do governo Lula e, portanto, Lula venceu em São Paulo, contra o candidato de Lula. Haja cambalhotas e saltos mortais! Não há contraposição, não há enfrentamento e não há nada.
Debater derrotas é muito difícil, em especial para direções partidárias que comandaram o processo. O que se faz a partir daí? Há pelo menos duas variantes. A primeira é uma profunda autocrítica pública, explicando e tentando entender coletivamente o que aconteceu. Nada tem a ver com expiações de culpa, mas em tornar o revés um ensinamento para a ação futura. A segunda possibilidade é se demitir. Nenhuma das duas possibilidades é muito confortável.
O PSOL participa de eleições desde 2006. São quase 20 anos. Ao longo desse tempo, crescemos continuamente, devagar, mas crescemos. Esta é a primeira disputa na qual o partido encolhe. Os números são dramáticos. Como informa o site G1: “Em 2012, o PSOL elegeu um prefeito. Em 2016, foram dois. Em 2020, o número subiu para cinco prefeitos, incluindo de uma capital: Edmilson Rodrigues, em Belém. Neste ano, ele tentou a reeleição, mas não chegou ao segundo turno”. Ou seja, passamos de cinco prefeituras para zero. Dos 90 vereadores eleitos há quatro anos, passamos a 80. O que aconteceu? O PSOL deixou de ser uma novidade transformadora? Perdeu o impulso, o elã? Trata-se de uma tendência ou um tropeço a ser revertido nas próximas eleições?
Há uma terceira opção para a direção: fazer-se de desentendida, produzir uma avaliação ufanista e superficial e tocar o bonde. É a pior das alternativas, mas parece ter sido esse o caminho escolhido pelo candidato do partido em São Paulo. Em entrevista à jornalista Monica Bérgamo, da Folha de S. Paulo em 4 de novembro, uma semana após o pleito, ele afirmou: “Setores do PT, bem minoritários, afirmam que a esquerda foi derrotada porque não cedeu o suficiente em suas posições. (…) Acreditam que a esquerda tem que se travestir de centro pois esse seria o único jeito de evitarmos o caos da extrema direita. Estão errados. Estão errados. (…). Precisamos ir para a disputa”.
É incrível. O candidato fala como se poucos dias antes não tivesse encerrado uma campanha na qual houve muitas coisas, menos enfrentamento, nitidez de definições políticas ou uma jornada de esquerda, como ressaltado ao longo deste texto. Dupla mensagem em geral leva o emissor a escancarar sua incoerência, o que não costuma ser algo positivo. E adentra na tergiversação para evitar um exame criterioso da derrota.
Temos de examinar as derrotas e também as vitórias que tivemos, quando captamos uma insatisfação justa e demos forma de ação política à reação a ela. É o caso do PL do Estupro, formulado pelo deputado Sóstenes Cavalcanti (PL-RJ), um dos luminares da extrema direita no Congresso. O Projeto de Lei (PL) 1904/2024 propunha alterações no Código Penal Brasileiro, impedindo o aborto mesmo em casos legais, como estupro ou má formação. Tudo indicava que seria aprovado, em junho último. A pressão popular fez a direita recuar em um tema sensível. Quando o movimento das mulheres foi às ruas de Norte a Sul, a reação recuou. É assim que se faz política. É quando as pessoas votam com os pés, como escreveu Lênin. O mesmo pode ser ditos das manifestações populares contra a jornada 6 x 1.
É preciso recuperar a rebeldia da esquerda. Se alguém chegasse de Marte, no meio da campanha, e fosse acompanhar um debate de TV, seria difícil dizer quem seria o candidato de esquerda, ou de oposição. Na verdade, não havia oposição ali. Havia duas situações, uma federal e uma municipal, todas defendendo o establishment, ou o sistema. Ninguém era contra a ordem, ninguém queria de verdade mudar nada, ninguém se contrapunha a nada. Por isso a campanha se torna infantil. O problema é que a ação do PSOL precisa ser a de vocalizar o descontentamento e a rebeldia.
Finalizo externando minha preocupação com o futuro do PSOL. O impulso inicial que gerou o partido, de ser uma oposição à esquerda, ou um aliado incômodo do governo, foi muito salutar. Mas estamos nos tornando um puxadinho do PT, como se diz por aí. Isso não ajuda o PSOL e não ajuda o Brasil, que precisa de uma esquerda atuante, vigilante e crítica. É preciso recuperar o PSOL, um partido que vá para o enfrentamento e mostre que há campos de interesse nítidos e distintos na sociedade. Para fazer essa reviravolta, a nossa Fundação tem papel decisivo. Caso contrário, logo mais estaremos afogados em fofuras.[1]
*Gilberto Maringoni é jornalista, professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC (UFABC) e filiado ao PSol.
Nota
[1] Por sugestão do amigo João Machado, escrevi esta adaptação de minha intervenção no debate “Balanço e perspectivas das esquerdas após as eleições”, promovido em 3 de novembro pela Fundação Lauro Campos-Marielle Franc. O vídeo pode ser visto aqui. Participaram Luciana Genro, Vladimir Safatle e eu
Vale ressaltar que a direção nacional do PSOL até agora não realizou uma avaliação abrangente das disputas.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA