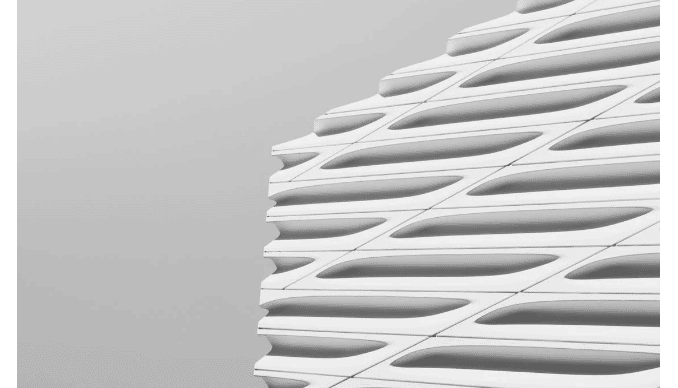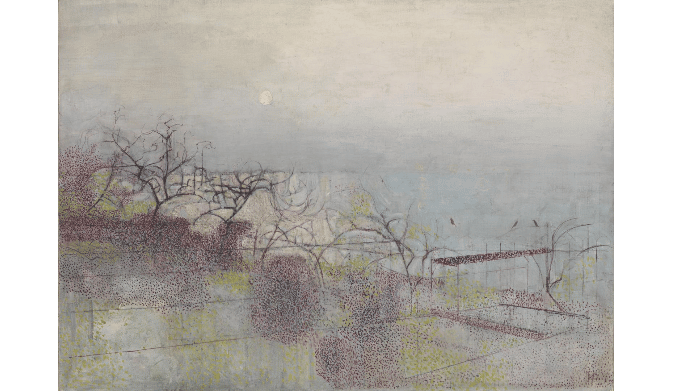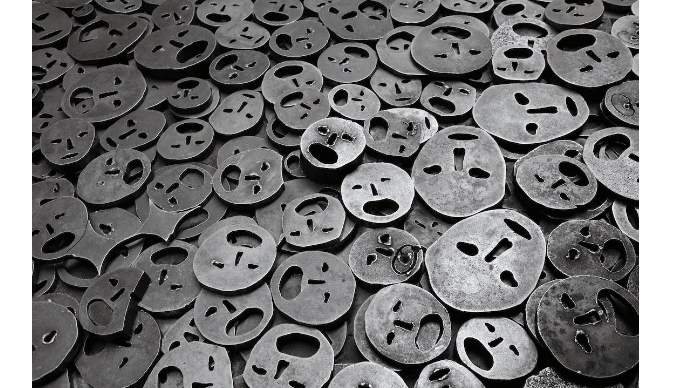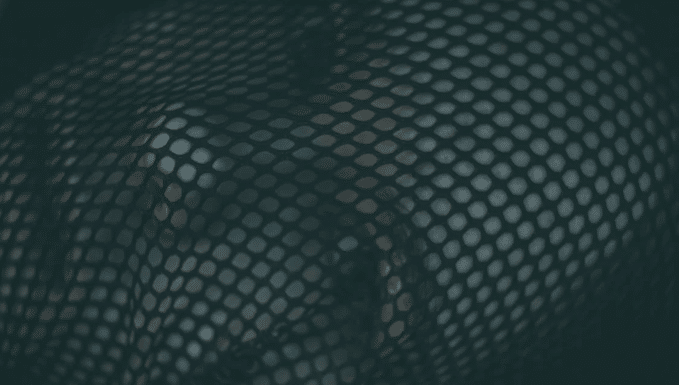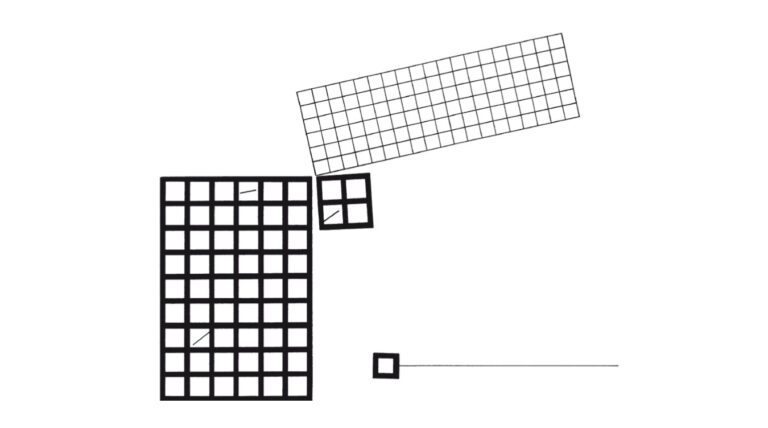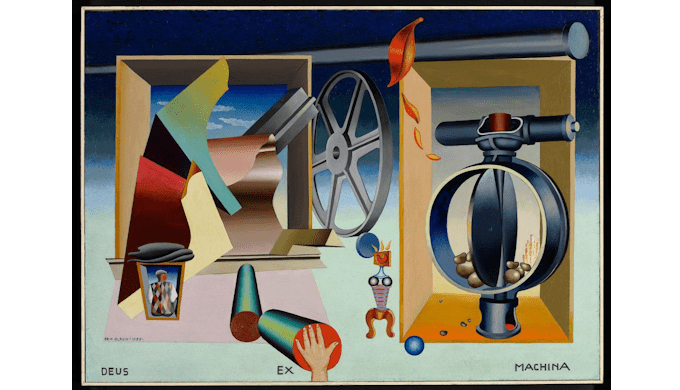Por DANIEL AFONSO DA SILVA*
Se houve “golpe”, ele foi múltiplo. Articulado em níveis e camadas. Com um único propósito majoritário: “acabar com a raça dessa gente”
1.
Michel Temer jamais deveria ter sido imposto como candidato a vice-presidente na chapa petista de Dilma Rousseff em 2009-2010. O historiador Luiz Felipe de Alencastro, um fino observador da realidade política brasileira e arguto conhecedor das manhas e artimanhas de seus jogadores, sinalizou, imediatamente após a cogitação do nome do pmdebista, que a manobra poderia malograr. Que, mais dia menos dia, o caldo poderia entornar.
A evidente inexperiência político-partidária da “mãe do PAC” conferia ao candidato a vice excedentes de poder extraordinários. Um conjunto desproporcional de poder e força que poderia pôr em alto risco a configuração governamental futura. Michel Temer e seus correligionários eram – e são – “raposas velhas”, “velhíssimas”. Feito o diabo – que, como dizem, é tinhoso não por ser o diabo, mas por ser velho.
Além de “velhos” e como “velhos”, Michel Temer e os seus são literalmente carnívoros entre herbívoros. Seguem, como predadores, sedentos por carne viva e poder. A ministra chefe da Casa Civil do governo em fim de mandato em 2010 era, nesse contexto, um simplório cordeiro diante de tanta gente graúda. Compondo com Michel Temer, pactuava negócios com um desconhecido. Brincando com fogo. Dançando com um verdugo em potencial.
O alerta de Luiz Felipe de Alencastro foi ignorado por todos. A chapa, daquele jeito mesmo, avançou e se sagrou vencedora. O presidente Lula da Silva e o seu vice, José de Alencar, transferiram a responsabilidade máxima do país a um casal em dissenso. Oriundo de matrimônio ajeitado. Em pleno desarranjo nupcial.
Logo na posse – momento de núpcias –, o estranhamento entre presidente e vice ficou latente. Naquele primeiro de janeiro de 2011, o pmdebista foi, publicamente, reconhecido como “corpo estranho”. Ficou evidente para todos que o petismo e alguns petistas se queriam os maiorais e não haveria concessões para agregados.
A euforia lulopetista era o combustível dessa distopia. O presidente Lula da Silva passava a faixa para a sua sucessora com uma aprovação popular de mais de 80%. A presidente Dilma Rousseff, como não poderia deixar de ser, sentia-se partícipe desse êxito. Mas a situação era mais complexa.
A arrogância petista era imensa. A doxa da bien-pensance lulopetista se impunha autoritariamente por toda parte. Era impossível se contrapor. Os petistas de raiz sentiam-se os donos da bola. Acreditavam ter conquistado sós – sem José Genoíno nem José Dirceu – o sucesso do terceiro pleito presidencial do partido. Michel Temer – e a própria Dilma Rousseff – eram tidos como apêndice no galardão. Como se tivessem sido mobilizados apenas para “cumprir tabela”. “Garotos-propaganda”. O PT, afirmavam, ganharia com qualquer um. Lula da Silva “elegeria inclusive um poste”.
O poste em questão era Dilma e Temer, Temer e Dilma. Os frequentadores do Bar da Rosa, do restaurante do Zelão e da garagem do Gela Goela em São Bernardo do Campo jamais dissimularam esse entendimento. Temer e Dilma, Dilma e Temer estavam, portanto, em maus-lençóis. Eram, ambos, “corpos estranhos” no esquema do partido. Mas Dilma Rousseff tinha um álibi: era a presidente eleita. Fora demiurgicamente ungida. Michel Temer, em tragédia, era apenas um agregado de segundo grau.
Isso tudo, desde a saída, dizia muitas coisas. Especialmente que a divisão vinha de toda parte. Partido versus governo. Governo e seu interior.
Nesse quesito, Dilma e Temer, Temer e Dilma eram entre eles, também, estranhos. Nutriam sonhos diversos e sentimentos de mútua suspeição. Mas Dilma Rousseff era a presidente. Michel Temer, o vice. Havia entre eles hierarquia de função. Mas, para além das formalidades, Michel Temer, vice, sofria dupla ou triplamente tudo calado. Era violentado por todos os lados.
Se tudo isso já não fosse o suficiente para se antever o desastre de dimensão colossal, o mentor e fiador da conciliação, Lula da Silva, saiu de cena para tratar d’um câncer ainda em 2011. Na sua ausência, os ratos do partido, da imprensa, do judiciário e infiltrados no próprio governo tomaram conta. Uma verdadeira guerra de chefes foi instaurada. Governo, partido, o governo e o partido viraram campo de tensão.
Não é difícil de se lembrar na “vigorosa” “faxina” que a presidente Dilma Rousseff promoveu em seu ministério antes mesmo do fim do primeiro ano de seu exercício. Um Nelson Jobim, ministro da Defesa, alegar que Ideli Salvatti e Gleisi Hoffmann desconheciam Brasília foi a gota d’água para a presidente se “empoderar” e colocar “cada um no seu quadrado”.
O ministro Guido Mantega nos deve um livro, mesmo que póstumo, de Memórias sinceras sobre esse período de inequívoca e generalizada humilhação. O ministro Carlos Lupi, perigando de ser ejetado do governo, teve que se declarar publicamente com um “eu te amo, presidente”. Os diplomatas todos, a começar pelo discretíssimo chanceler Antonio Patriota, foram lançados na berlinda. O descrédito e a suspeição da presidente chegaram a níveis inimagináveis. Michel Temer, em tudo isso, era apenas mais um alvo da fúria da Sra. Presidente da República.
Nenhum vice-presidente da República, desde que vice-presidentes e presidentes disputam em chapa comum, foi tão hostilizado quanto Michel Temer. Nenhum deles foi, logo na saída, enquadrado como “decorativo”, “decoração”, “paspalho”, “paspalhão”, “planta” e toda sorte de denominações de injúria e impotência que uma imaginação fértil pode encontrar. Nem o governador Itamar Franco, vice indesejado do presidente Fernando Collor, viveu tamanha amargura de intensa desilusão.
A boa crônica jornalística ainda nos deve um bom livro sobre o “inferno do Jaburu”. Entre José Sarney e Hamilton Mourão, apenas Marco Maciel, vice do presidente Fernando Henrique Cardoso, talvez, tenha tido meios para encarnar plenamente a sua função. Do início ao fim, em dois mandatos, ele não foi nem silenciado tampouco jogado ao descrédito. O presidente Fernando Henrique Cardoso quase nada diz de Marco Maciel em seus quatro tomos de Diários da Presidência. O que, por claro, denota algo positivo. Suas lembranças são dedicadas, especialmente, àqueles agentes que, no governo ou ao governo, causaram confusão.
Os entusiastas do casório entre Lula da Silva e José de Alencar devem de se acalmar. Quando do escândalo do mensalão, vale lembrar, José de Alencar esteve às voltas de abandonar a embarcação petista e o presidente Lula da Silva. Inclusive, criando e entrando em outro partido. Relembrar é viver.
Mas Michel Temer foi hors concours. Com ele, a tensão foi demais. Na qualidade de vice-presidente ele presenciou a integralidade da reversão taciturna de expectativas sobre o Brasil. Uma reversão que anima uma desilusão ambiente que nos aflige até hoje.
Michel Temer assistiu silenciado a maquinação do “capitalismo tropical” proposto pela presidente Dilma Rousseff. Sondou calado a emergência da “Nova Matriz Econômica”. Amargou contrariado a eleição das e dos “campeões nacionais”. Notou, desde o princípio, que aquilo era temerário. Pouco verdadeiramente assentado na realidade. Sabia que represar preços, daquele jeito e com aquela intensidade, era “cutucar onças com varas curtas”, como teorizaria o sociólogo André Singer adiante.
Michel Temer viu tudo isso de dentro desde o Jaburu. E nada disse ou pôde dizer. Quando tentou dizer, não foi ouvido. Recebeu um singelo: plantas não falam. Apenas adornam. Quando as noites de junho de 2013 tiram o sono de todos os responsáveis em função, a totalidade da presidência Dilma Rousseff foi lançada ao corner. Aqueles iniciais “20 centavos” encaixaram como um gancho de direita certeiro no supercilio do governo. Que ficou, imediatamente, caolho e passou a ver, ainda mais, apenas o que queria ver.
Michel Temer foi, contudo, ainda mais marginalizado. A presidente assumiu a globalidade do risco de gerir sozinha e solitária aquela crise. Ela fez muito. Reconheça-se. Acalmou a turba. Mas foi pouco. Veio a Copa e o “não vai ter Copa”. Veio aquele infame xingamento no Estadual Mamé Garrincha em Brasília. Vieram os guerrilheiros do “padrão Fifa” para tudo – de hospitais a serviços públicos. Não demoraram aparecer os justiceiros da Petrobras. Nem vale a pena se rememorar aquele adesivo acintosa e inacreditavelmente vulgar que fizeram para acondicionar a bomba de combustível ao abastecer seus veículos.
Ali, 2013-2014, tudo já ia perdido. Lula da Silva queria voltar. Precisa voltar. Era aclamado para regressar. Mas não se permitiu e não lhe permitiram. Dilma Rousseff “seguiu” com Temer, sem tremer nem temer.
“Em time que está ganhando não se mexe”, teriam dito. Mas o governo Dilma Rousseff e o PT estavam ganhando?
Seja como for, Dilma e Michel, Michel e Dilma ganharam novamente as eleições. O mineiro Aécio Neves não se conteve em emoções. Contestou o resultado. Judicializou o pleito. Maculou as eleições. Foi moral e politicamente criminoso. Incitou ódio e fomentou a polarização. Esmagou o que sobrava de uma presidência.
Joaquim Levy, em lugar de Guido Mantega, amenizou a queda. Mas o sinistro já estava contratado. A questão não era “só” a “economia, estúpido”. A questão era a governabilidade. E, talvez, essa entropia de governabilidade tenha se iniciado na partida. Lá no começo. Não em 2013 nem em 2015. Mas em 2009. Quando se permitiu compor uma chapa com quem desconhecia, não gostava nem queria.
2.
“Não renunciarei. Repito: não renunciarei”. Com essa declaração, o presidente Michel Temer reagiu à crise que irrompeu em seu governo, em meados de maio de 2017, quando da revelação da conversa indiscreta que mantivera, em privado, com o empresário Joesley Batista. Aquilo que entrou para a crônica política, policial e judicial como o “Joesley day” foi um dardo certeiro no coração de uma presidência que tentava se legitimar e se estabelecer nas frinchas abertas pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff em agosto de 2016.
Mesmo diante de golpe tão duro e tão rude, o, agora, presidente não caiu. Mas, também, não mais atuou. Seguiu absorto, natimorto, claudicando, agonizando e se arrastando para o fim. Até entregar a faixa presidencial ao seu sucessor Jair Messias Bolsonaro.
Entre a revelação do áudio, no 16-17 de maio, e a declaração do presidente, no dia seguinte, centenas de pedidos de impeachment foram protocolados, imaginados ou ensaiados. Todos os setores relevantes da sociedade ficaram apreensivos. A pessoa do presidente ficou fragilizada. A sua figura pública, chamuscada. A sua presidencialidade, comprometida. A viabilidade do governo virou incerta.
Múltiplas opções entraram em disputa. Renúncia, dissolução, impeachment, queda. Só suicídio que, talvez, não. Independente da opção adotada, era sabido que o abate de dois presidentes em menos de doze meses traria danos irreparáveis para o país. A anomia tomaria, de vez, conta.
A tônica pensada e teatralizada do enfático “não renunciarei” ainda hoje ecoa nos ouvidos daqueles que viram e ouviram aquela encenação ao vivo ou naqueles dias de tormentas. Mas, mais que isto, com o devido recuo, percebe-se que aquele momento e aquela reação foram decisivas para conter esse malogro não simplesmente do governo de Michel Temer, mas do país como um todo que estava às voltas de virar uma verdadeira banana republic.
O presidente Temer administrou bem aquele momento e aquela crise. Mas o preço foi alto. Alto demais, talvez. Doravante, ele que era tipo por “golpista” pela ala lulopetista e afins, passou a ter seu descrédito ampliado. Da imprensa e do povo em geral. O “fora, Temer” virou a cantilena diuturna. Algo, quase, ensurdecedor.
Se Michel Temer fez bem ou mal em manter seu governo, resta à História avaliar. No plano político, ele acrescentou meias-vidas à já sofrida democracia brasileira.
Olhando bem de perto, o seu “Não renunciarei. Repito: não renunciarei” foi uma das manifestações mais importantes e mais complexas da história política brasileira recente. Agindo daquela maneira, ele dialogava mais com a queda do presidente Fernando Collor que com a de sua antecessora, Dilma Rousseff. O “Joesley day” ficou bem perto de se tornar a Fiat Elba do presidente Temer.
Uma Fiat Elba até que pode ter seu charme – antes para passeio; hoje, para colecionadores –, mas, reconheça-se, é muito pouco para derrubar um presidente da República.
A queda da presidente Dilma Rousseff foi urdida desde longe. No seu profundo íntimo, ela sabe disso. Todos os seus aliados mais sinceros sabem disso.
Ninguém se lança – ou deveria se lançar – em aventura presidencial com desconhecidos. Dilma Rousseff entrou na disputa com Michel Temer. Não se admite – ou não se deveria admitir – que a guerra de chefes de partidos afete a estabilidade do governo. Dilma Rousseff importou para o seu governo todas as crises intestinas do PT e dos demais partidos da base aliada – lembre-se, por exemplo, do caso emblemático de Eduardo Campos. Não se isola – ou se deveria isolar – um aliado poderoso, “raposa velha” da política, vice-presidente da República, impunimente. Dilma Rousseff fez de Michel Temer um “vice decorativo” desde o primeiro momento.
A tempestade perfeita que envolveu protestos de junho de 2013, protestos contra a realização da Copa, protestos contra a reeleição, protestos contra represamento de preços, protesto contra a qualidade de gastos, a queda do preço internacional das commodities, protestos contra a personalidade da presidente, etc., foram camadas de uma tragédia – a tragédia do impeachment – em vários movimentos.
O impeachment de 2016 não foi produto de um ou outro fator único e isolado. Houve uma sinergia macabra para se incinerar viva uma presidente da República eleita e reeleita pelo povo brasileiro.
Um impeachment é sempre traumático. Quase nunca ele se justifica verdadeiramente necessário. Um impeachment é uma convenção política entre políticos. “Golpe” ou não é sempre difícil de se avaliar. Não há consensos. Especialistas se digladiam por uma definição. Políticos, também. Todos avançam argumentos e quase ninguém chega a total razão. Todos perdem, perdemos. Perde o país, a sociedade, a economia.
O impeachment de 2016 foi produto de uma entropia multidimensional de governabilidade. Talvez somente Getúlio Vargas amargara algo similar. Múltiplos fatores. Múltiplos problemas. Múltiplos opositores. Muitos moinhos de venho simultâneos para se guerrear.
Um aspecto hoje quase esquecido da crônica política é o fato de Dilma Rousseff representar o terceiro mandato de uma mesma agremiação política no poder supremo. Lembrar desse aspecto não é jogar água no moinho dos críticos ensandecidos que denunciaram – e ainda denunciam – o PT de ser um “projeto político de perpetuação no poder”. Quem alardeava – e alardeia – isso, desse modo, eram os cínicos derrotados e não conformados de eleições.
Longe disso e longe deles, refletir sobre a usura do PT no poder é meditar sobre a importância da transição de partidos na presidência da República como fator de sustentação do sistema democrático. As hipóteses do presidencialismo de coalizão avançadas pelo simpático Sérgio Abranches podem ser um começo. Muito já se avaliou da democracia brasileira a partir de seu modelo. Mas, talvez, careçam de História para se afirmar como um sistema, quem sabe, mais calibrado.
Note-se que na França, o presidente François Mitterrand, o único presidente francês a cumprir dois mandatos completos de sete anos cada como previa originalmente a Constituição da Quinta República promulgada pelo general Charles De Gaulle, jamais desejou, verdadeiramente, fazer um sucessor socialista. Lionel Jospin, primeiro-secretário do Partido Socialista e seu sucessor presidencial natural, jamais recebeu a sua “bênção”.
No caso brasileiro, ocorreu algo semelhante com José Serra. José Serra, candidato presidencial do PSDB em 2002, também não recebeu a chancela integral do presidente Fernando Henrique Cardoso – em 2010 era outra eleição e outro cenário.
Mitterrand e Cardoso, profundos conhecedores de História, de política e da vida, por certo que intuíam em suas reflexões interiores que a hereditariedade no poder só possuía sentido em monarquias. Regimes democráticos demandam arejamentos advindos da mudança de agremiações políticas no poder.
Quando Nicolas Sarkozy chegou à presidência da França em 2007, era a primeira vez que um mesmo partido era confirmado no poder supremo após três pleitos eleitorais sucessivos. Sarkozy sucedia ali Jacques Chirac – quem vencera Lionel Jospin em 1995 e Jean-Marie Le Pen em 2002. A intermitência do partido gaullista de Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy no poder gerou – é claro que tudo é muito mais complexo que isso – um verdadeiro estraçalhar do sistema partidário francês. Como resultado, a totalidade das tendências político-partidárias tradicionais francesas se desfez.
Os socialistas se dividiram em muitas tendências que vão de Jean-Luc Mélenchon e sua agremiação France Insoumise a Emmanuel Macron e seu partido En Marche. Marine Le Pen transformou o Front National, histórico partido histórico da “extrema-direita” francesa histórica, no Rassemblement National. Um partido “a-histórico”, “anti-histórico” e quase em nada verdadeiramente nacional. Éric Zemmour, um ultraconservador-gaullista de tendências autoritárias, criou o Reconquête para superar o vazio que o partido de Sarkozy e Chirac assim como o de Jean-Marie Le Pen – o Front National original – deixaram. Dessa maneira, Reconquête é um partido soterrado em referências históricas e farto em passados. Mas, até o momento, não se tem nenhuma certeza de que terá algum futuro promissor para contar.
No caso do Brasil, onde tudo é ainda mais complexo devido aos efeitos deletérios da Operação Lava Jato e à hipertrofia do judiciário sobre os demais poderes, o colapso do sistema partidário também é notável. E muito disso se deve, possivelmente, à manutenção do PT no poder por tanto tempo, 2003-2016.
Não se trata da promoção ofensiva desvairada ao PT. Não se trata de antipetismo. A questão é se reconhecer que algo do pacto não escrito de cavalheiros pela redemocratização talvez tenha sido quebrado com a eleição de Dilma Rousseff em 2010. Nada, talvez, similar à imposição de Júlio Prestes em 1930, que geraria a fúria de Getúlio Vargas e a Revolução de 1930. Mas algo muito próximo da usura de poder que a permanência prolongada de um partido na função máxima causa ou pode causar.
Os especialistas de plantão ainda nos devem uma boa e desapaixonada avaliação do significado da presidência interrompida de Dilma Rousseff. Da mesma maneira, também nos devem uma boa interpretação sobre o lugar de Michel Temer nisso tudo.
Tido como decorativo desde o início, jamais considerado ou lembrado, sempre hostilizado, o que poderia fazer Michel Temer diante da queda livre da presidência a partir de 2013?
A experiência com José Sarney e Itamar Franco ensina que o vice trama em segredo seus planos. O presidente José Sarney recebeu uma herança sem testamento com a morte do presidente Tancredo de Almeida Neves. Ascendeu a um cargo e a uma função que ele, José Sarney, de fato, talvez, não desejasse. Ao menos, naquele momento e daquele modo.
Com o governador Itamar Franco foi um pouco diferente. O presidente Fernando Collor foi sendo carbonizado diuturnamente pela fúria dos congressistas e da imprensa. Vivia seus “mil dias de solidão” como cunhou o jornalista Cláudio Humberto. Mas a discrição mineira do vice Itamar Franco foi exemplar. Pouco se tem a dizer sobre possíveis ofensivas voluntárias e ostensivas dele, Itamar Franco, como a sua contraparte em desgraça, o presidente Fernando Collor.
No caso de Michel Temer, essa discrição não existiu. Aquela carta de autoelogios, lamúrias e desconfianças endereçada à presidente Dilma, com data de 7 de dezembro de 2015, mas tornada pública na véspera, portou significados profundos de rompimentos institucionais e partidários monumentais. Olhando-a de perto, ela foi o último adeus do vice à presidente e o último adeus de Michel Temer à vice-presidência. Ele sabia que dali em diante seu destino era tomar o lugar de sua contraparte.
Teria como ser diferente? Difícil dizer. O que o “vice decorativo” teria a fazer que não decorar a cena do naufrágio? O que se pode afirmar é que aquela carta mudou o nível e o significado da crise política. O seu, “Não renunciarei. Repito: não renunciarei”, ano e pouco depois, também.
3.
Michel Temer entregou a faixa presidencial ao seu sucessor como quem se desfazia de um fardo pesado demais que carregava. Nenhum homem público brasileiro, à frente de funções tão importantes como a vice-presidência e a presidência da República, foi objeto de tamanha hostilização, ofensa e descrédito.
Inicialmente ele foi tratado de “vice decorativo”. Depois do impeachment de 2016, “golpista”. A partir de sua ascensão à presidência, começou a ser ovacionado com o “fora, Temer”. Quando do “Joesley day”, em maio de 2017, chamaram-no de “arrivista”. Durante os carnavais e depois, “conde Drácula”, “chupa-sangue”, “morto-vivo” e afins.
Quando ele entregou a faixa ao novo presidente em janeiro de 2019, seu projeto era voltar a ser marido da Marcela. Queria esquecer da vida pública e sumir. Ansiava praticar, de uma vez por todas, o “fora, Temer” ao seu modo e a seu favor. Procurava ser esquecido. Mas não foi fácil.
Pelos desmandos da Operação Lava Jato, ele virou mais um presidente da República preso. Interceptado no meio da rua, à luz do dia, ele foi fartamente fotografado por paparazzi e populares, escarnecido e hostilizado no mundo inteiro. Tudo para ao prazer dos carniceiros de plantão. Os mesmos que diziam estar “passando a limpo” a nação.
Sua prisão foi breve. Mas a mácula ficou. Além de “golpista”, presidiário. Parcelas importantes do ódio contra ele vieram à tona já no início de sua caminhada com Dilma Rousseff. Ninguém no PT, afora o presidente Lula da Silva e outros pouquíssimos correligionários, pousava confiança nele. Ele era um intruso e, assim, merecedor de altíssima suspeição.
Quando o colapso da presidência Dilma Rousseff virou irreversível, a sua ascensão ao poder máximo ficou iminente. Com o avanço das manobras parlamentares, o cavalo que o levaria até o Palácio do Planalto começou a ser selado. Montar e seguir eram as únicas chances que ele teria para chegar ao cargo supremo da nação.
Malgrado sequencialmente eleito e reeleito deputado federal, a sua capilaridade eleitoral sempre foi limitada. Suas parcelas expressivas de votos abrangiam apenas a sua Tietê natal e alguns singelos arrabaldes do estado de São Paulo.
Michel Temer chegou à presidência da República pelas mãos do impeachment. Mas o impeachment foi financiado por agentes econômicos contrários ao “capitalismo tropical” da presidente deposta. Aqueles que não fora ungidos “campeões nacionais”. Os postos de fora da “Nova Matriz Econômica”. Isto queria dizer que o novo presidente, Michel Temer, tinha uma dívida com esses agentes. Leia-se, a gente próxima da Fiesp.
Uma vez presidente, portanto, Michel Temer tivera a incumbência de render contas aos seus fiadores. O preço dessa fatura era a implantação, o mais urgentemente possível, da plataforma “Ponte para o Futuro”. “Ponte para o Futuro” era o plano dos empresários para “recuperar” e “moralizar” a economia brasileira.
A manutenção da governabilidade da nova presidência era diretamente proporcional à capacidade de Michel Temer implementar a “Ponte para o futuro”. Nesse empenho, engenheiros da “Ponte” – Mansueto Almeida à frente – trabalharam dia e noite, sob sol e chuva, até erigirem o temeroso Teto de Gastos.
Depois do “Joesley day”, no 16-18 de maio de 2017, Michel Temer se segurou no cargo, mas perdeu integralmente a razão de existir nele. A sua presidência foi inviabilizada. Ele ficou nela apenas aguardando o seu fim. Que veio.
Durante os quatro anos da presidência de Jair Messias Bolsonaro, ele, Michel Temer, cumpriu a sua determinação de sumir. Fez aparições discretas, esparsas e às raras.
Após o sucesso do presidente Lula da Silva no pleito de outubro de 2022, como por mágica, o Tribunal de Contas da União e o Congresso Nacional aprovaram as contas dos últimos dois anos da presidência de Dilma Rousseff. As mesmas contas cuja desaprovação forjara a tese das “pedaladas fiscais”.
A aprovação retrospectiva dessas contas reabriu a discussão sobre o impeachment de 2016. E nisso veio o questionamento lógico: quem vai reparar a presidente Dilma Rousseff, o PT e o país por tamanha humilhação, desgaste e destempero?
Quem acompanhou a cerimônia de inauguração da terceira presidência de Lula da Silva, no dia 1º de janeiro de 2023, pôde notar a ausência eloquente de quase todos os antigos presidentes da República do Brasil. À exceção dos presidentes José Sarney e Dilma Rousseff, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e Jair Messias Bolsonaro não compareceram ao evento de entronização.
As motivações de Fernando Collor eram, proporcionalmente, as mesmas do Jair Messias Bolsonaro. Ambos eram e são bolsonaristas e antipetistas. Fernando Henrique Cardoso, depois da injúria no fêmur, está recolhido – e ninguém sabe exatamente em que estado mental e de saúde se encontra. Michel Temer foi o único que se fez ausente por razões de constrangimento.
Como vinha previsto e alardeado, a cerimônia da nova posse do presidente Lula da Silva reservaria momentos de reabilitação da presidente Dilma Rousseff. A festa da posse de Lula da Silva seria também o momento de reempossar Dilma Rousseff. Michel Temer, prevendo o óbvio, preferiu abdicar de ir a Brasília.
Mas, nos dias 24 e 25 de janeiro últimos, em viagem ao exterior, por Argentina e Uruguai, o presidente Lula da Silva recolocou o presidente Michel Temer como um dos responsáveis pela queda de Dilma Rousseff. Denominou-o “golpista”.
De lá pra cá, uma profusão de impressões emergiu. Muitas delas militantes – de parte a parte – e incrivelmente apaixonadas. Nada isentas. Não é o caso de retomá-las. O importante é notar que, seis, sete anos após a queda da presidente Dilma Rousseff, talvez seja o momento de se promover uma releitura dos fatos com menos emoção, paixões e partidarismos; e, quem sabe, maior racionalidade.
Não carece de muita análise para se perceber que o dardo mortal que acertou a presidente Dilma Rousseff mirava, desde sempre, o presidente Lula da Silva. O impeachment de 2016 foi, como se diz, “café pequeno”. O deep state, brasileiro e estrangeiro, cuja mão forte e o braço amigo era a Operação Lava Jato, queria decapitar o líder mor do PT e o próprio PT. Queria eliminar Lula da Silva e, depois, o PT. Queria “acabar com a raça dessa gente”, como sintetizou um senador ignaro e nada contido da República.
Não se entende, portanto, o impeachment de 2016 sem se ter em conta a prisão do presidente Lula da Silva em 2018. A prisão de 2018 justificou, retroativamente, o impeachment de 2016. Nesse sentido, o “golpe” e os “golpistas” que o presidente Lula da Silva voltou a mencionar em sua viagem à Argentina e ao Uruguai estão conectados na mesma trama da sabotagem de 2016 e na ignomínia de 2018.
Analisando com calma, Michel Temer é quase ninguém nessa engrenagem toda. O conjunto do ambiente político brasileiro virou um Reino da Dinamarca. Cheira mal, muito mal. Há carne podre em corpos vivos circulando por aí.
Foge-se dessa discussão como o diabo da cruz. Mas, após as noites de junho de 2013, ficou evidente e latente que a redemocratização brasileira se desalinhou de seu propósito. Os pactos de solidariedade pela democracia, forjados ainda sob o regime militar, passaram a ruir. Somente essa quebra da mola pela redemocratização justificaria a prisão de presidentes da República.
Os 580 dias de cárcere, a vigília Lula Livre e apreensão do mundo inteiro sobre a possibilidade de o Brasil estar virando uma inequívoca banana republic foram o maior “esticar da corda” que o país sofreu em toda a sua história recente. Ninguém verdadeiramente sério pode imaginar, por um instante que seja, que o país saiu incólume de tudo isso. Vive-se – desde então e desde antes, desde 2013 – uma histerese institucional, política, jurídica e moral no Brasil.
Quer-se, muitos querem, forçosamente, apagar e esquecer esse verdadeiro crime de lesa-à-pátria que foi a prisão do presidente Lula da Silva. Quer-se minorá-lo. Quer-se colocá-lo em segundo, terceiro, quarto plano. Quando, em verdade, esse era o troféu dos algozes da democracia.
O impeachment de 2016 foi, sim, grave. Merece ser discutido, avaliado e, sendo o caso, reparado. Mas ele foi apenas parte da trama maior que envolvia acabar com Lula da Silva e com o PT.
Nenhum país similar ao Brasil prende (ou prendeu) presidente da República. Nos Estados Unidos ou na França e mesmo na Inglaterra, muitos chefes supremos do executivo mereceriam contemplar o submundo gelado de cárceres. O dossiê Watergate, o momento Mônica Lewinsky, os empregos fictícios franceses ou mesmo as motivações que conduziram ao primeiro-ministro David Cameron a sugerir o referendum para o Brexit foram graves o suficiente para – diante de uma métrica como a dos agentes da Operação Lava Jato ou qualquer métrica avariada – levar nobres senhores norte-americanos ou europeus para a cadeia. Mas por lá, jamais se ousou ir tão longe. Já mataram ou tentaram matar seus mandatários. Prender, verdadeiramente, chefes supremos, nunca.
Prender um presidente é descreditar a integridade de uma nação que foi por ele guiada por algum tempo. Prender o presidente Lula da Silva – como se fez e pelo tempo que o mantiveram preso – foi a maior irresponsabilidade que se poderia realizar contra o Brasil. Foi o evento mais grave de todo o período de redemocratização. Foi uma ignomínia.
Contrafactualmente, sem a prisão de Lula da Silva em 2018, provavelmente, o capitão Jair Messias Bolsonaro seria asfixiado no ninho. Não avançaria. Mesmo com a intervenção de Adélio. Com ou sem facada. Seria abatido em pleno voo. O bolsonarismo refluiria. A vulgarização canina da política jamais ganharia vazão. A polarização rasteira que lobotomiza segmentos inteiros da sociedade brasileira se esvairia. Os imbecis, individuais e coletivos, sairiam do palco. Perderiam holofotes. Voltariam à sua irrelevância estruturalmente comezinha. E o Brasil de hoje seria outro. Em outras condições. Se não economicamente melhores, ao menos, certamente, mentais, emocionais e espirituais superiores.
Infelizmente, não foi assim.
O período de 2019-2022 existiu. Não adianta negacear nem se iludir. Não tem sentido se contar histórias. O resultado saído das urnas de outubro de 2022 seguirá sendo contestado. O país segue dividido. Hoje, no segundo mês do novo governo, a população brasileira, a se fiar pelas contas do estrategista Marcos Coimbra, segue 45% por Bolsonaro, 45% por Lula da Silva e 10% indiferente. Esse é um fato irremediável. Como harmonizar?
Essa verdadeira “carreta furacão” não se deve simplesmente ao impeachment de 2016 – que foi, diga-se sempre, coisa de canalhas. Mas se deve ao conjunto da trama que envolve o impeachment de 2016 e a prisão criminosa do presidente da República em 2018.
Se houve “golpe”, ele foi múltiplo. Articulado em níveis e camadas. Com um único propósito majoritário: “acabar com a raça dessa gente” a partir da prisão de seu líder principal.
Dito de maneira ainda mais direta, em muitos aspectos, a prisão de 2018 foi o último suspiro da redemocratização iniciada pelo “Manda Brasa” em 1974. O cárcere injustificado e injustificável de um presidente da República por 580 dias numa masmorra tipo Mamertina rompeu as últimas notas do acordo não escrito entre cavalheiros pela manutenção da democracia e contra a tentação autoritária.
Quando o presidente Lula da Silva mobilizou, portanto, recentemente, a expressão “golpista” para enquadrar o presidente Michel Temer, ele estava mandando um recado não simplesmente ao vice-presidente decorativo da presidente Dilma Rousseff. Ele estava lembrando a todos os envolvidos na funesta trama de implosão da democracia que, mais dia menos dia, alguma fatura será cobrada. A verdadeira lawless land que virou o país será, inquestionavelmente, revista. Uma nova redemocratização, com cavalheiros mais dignos e responsáveis mais responsáveis, vai ser inaugurada.
Somente assim – como sabe bem e já lançou muitos alertas o presidente Lula da Silva – o passado poderá, enfim, passar.
*Daniel Afonso da Silva é professor de história na Universidade Federal da Grande Dourados. Autor de Muito além dos olhos azuis e outros escritos sobre relações internacionais contemporâneas (APGIQ).
O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
Clique aqui e veja como