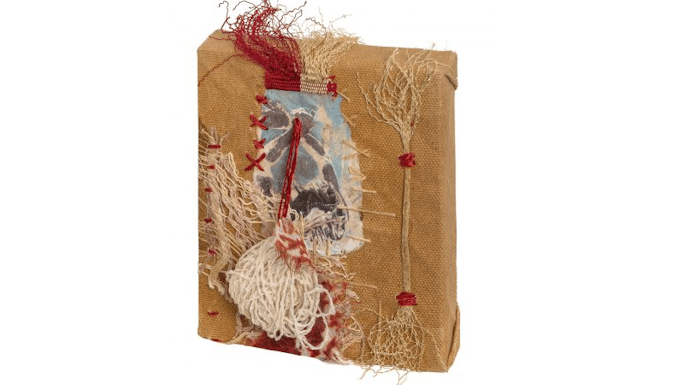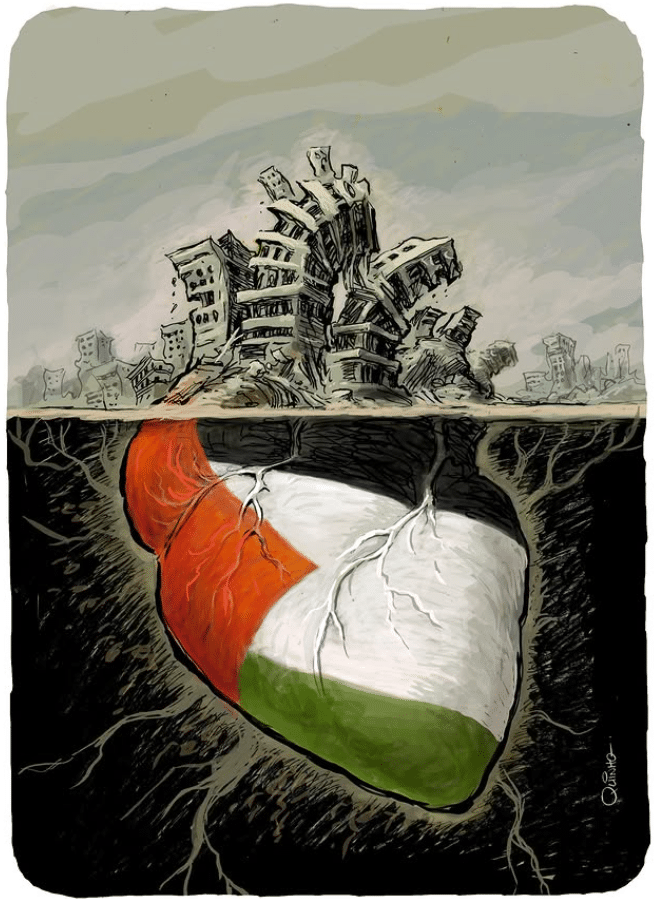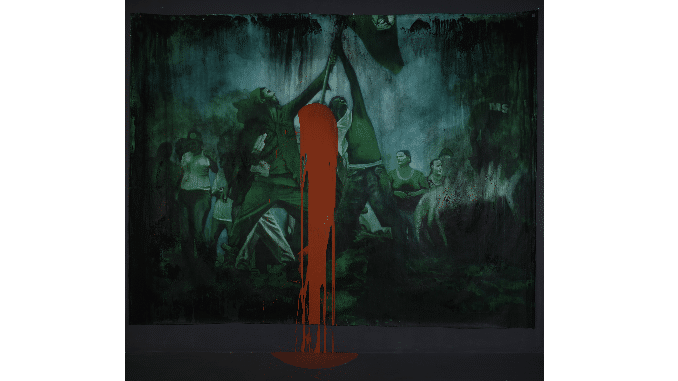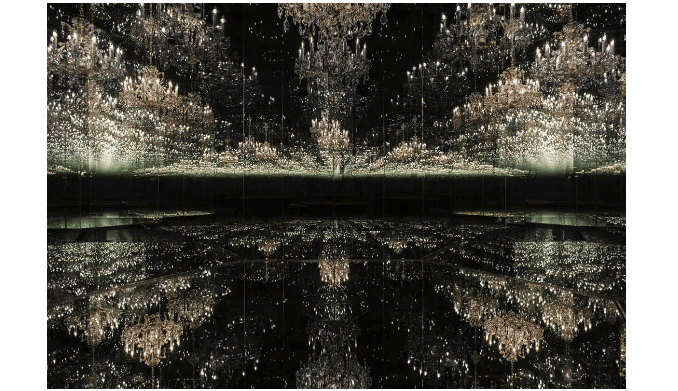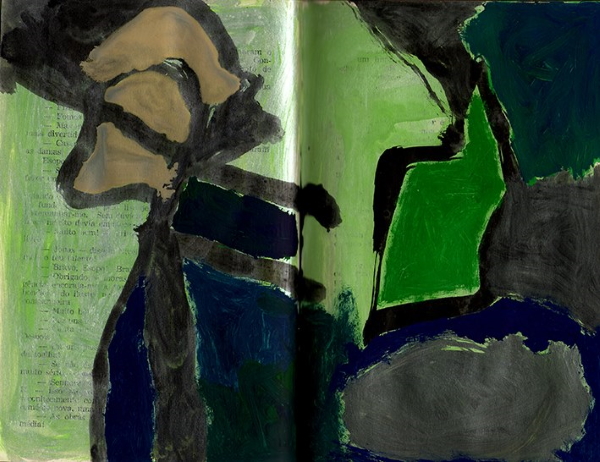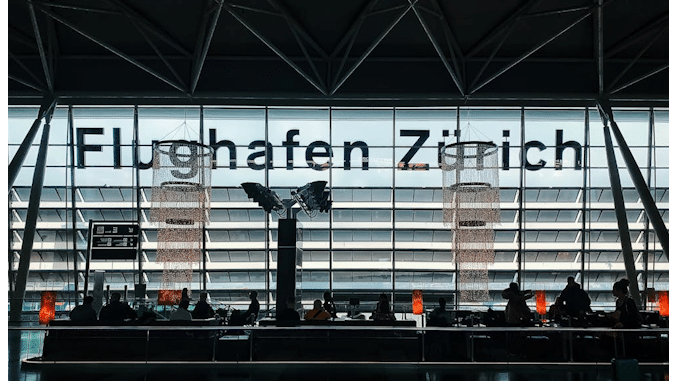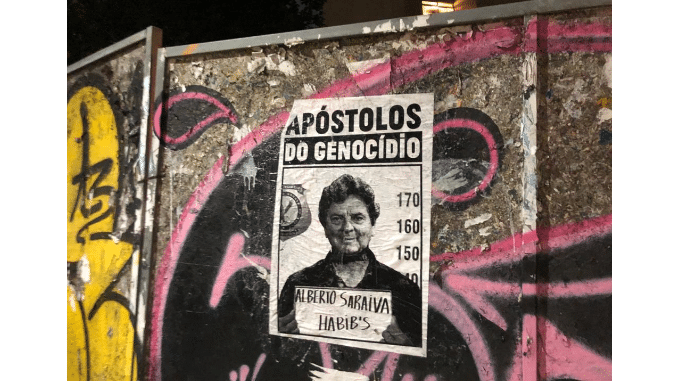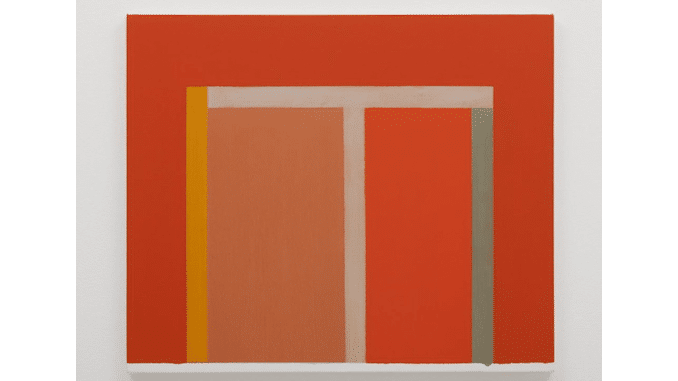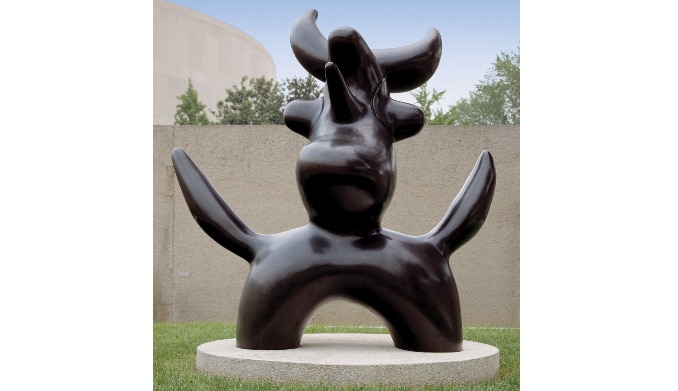Por TERRY EAGLETON*
Prefácio do livro recém editado
A teoria literária esteve bastante fora de moda nas últimas décadas, de tal maneira que livros como este são cada vez mais raros. Há aqueles que serão eternamente gratos por isso, a maioria dos quais não lerá este prefácio. Teria sido difícil prever, nas décadas de 1970 ou 1980, que, de modo geral, a semiótica, o pós-estruturalismo, o marxismo, a psicanálise e coisas parecidas se tornariam, trinta anos mais tarde, línguas estrangeiras para estudantes. A mudança ocorreu, grosso modo, devido a um quarteto de preocupações: pós-colonialismo, etnicidade, sexualidade e estudos culturais. Não se trata exatamente de uma notícia animadora para os oponentes conservadores da teoria – esses, sem dúvida, esperavam um declínio que pudesse anunciar o regresso ao status quo ante.
O pós-colonialismo, a etnicidade, a sexualidade e os estudos culturais não são, é claro, insuspeitos em relação à teoria. Tampouco surgem simplesmente a partir de seu declínio. Na verdade, seu surgimento com força total ocorreu no despertar da teoria “pura” ou “alta”, e muitas pessoas veem o fenômeno como uma superação. Na verdade, não apenas uma superação, mas também um deslocamento. De certa forma, estamos falando de uma evolução digna de boas-vindas. Várias formas de teorismo (embora não de obscurantismo) foram postas de lado.
O que ocorreu, em linhas gerais, foi uma mudança: do discurso para a cultura, das ideias em estado mais ou menos abstrato ou virginal para uma investigação daquilo que, nas décadas de 1970 e 1980, teria sido imprudente chamar de mundo real. Como sempre, porém, há perdas e ganhos. Analisar vampiros ou Family Guy[1] provavelmente não é tão gratificante do ponto de vista intelectual quanto estudar Freud e Foucault. Além disso, a constante perda de popularidade da “alta” teoria, como argumentei em Depois da teoria, está intimamente ligada à decadência da sorte da esquerda política.[2]
Os anos em que tal pensamento estava no seu apogeu correspondem àqueles em que a esquerda também era próspera e robusta. À medida que a teoria foi perdendo altura, com ela desaparecia silenciosamente a crítica radical. No seu auge, a teoria cultural apresentou algumas questões surpreendentemente ambiciosas à ordem social que confrontava. Hoje, quando o referido regime é ainda mais global e poderoso do que o era, é raro que a própria palavra “capitalismo” suje a boca daqueles que estiverem ocupados celebrando a diferença, abrindo-se à alteridade ou dissecando os mortos-vivos. Esse estado de coisas é testemunho do poder do sistema, e não da sua irrelevância.
No entanto, em certo sentido, este livro é também uma repreensão implícita à teoria literária. Grande parte de meu argumento, com exceção do capítulo final, baseia-se não na teoria literária, mas naquele animal muito diferente que é a filosofia da literatura. Os teóricos da literatura têm ignorado frequentemente esse tipo de discurso e, ao fazê-lo, desempenham o seu papel estereotipado na velha disputa entre os europeus continentais e os anglo-saxões.
Se a teoria literária brota em larga escala entre os primeiros, a filosofia da literatura surge em grande parte junto aos últimos. Entretanto, o rigor e a expertise técnica da melhor filosofia da literatura contrastam favoravelmente com a frouxidão intelectual de algumas teorias literárias, sem contar a abordagem de questões (a natureza da ficção, por exemplo) praticamente deixadas de lado por aqueles do outro campo.
Os radicais, por sua vez, tendem a suspeitar que questões como “Pode haver uma definição de literatura?” sejam aridamente acadêmicas e a-históricas. Mas nem todas as tentativas de definição precisam ser assim – tanto é que, no campo radical, muitos podem concordar quando se trata de definir o modo de produção capitalista ou a natureza do neoimperialismo. Wittgenstein sugere que às vezes precisamos de uma definição e às vezes não. Há uma ironia em jogo aqui também.
Muitos dos membros da esquerda cultural, para os quais as definições são assuntos obsoletos a serem deixados para os acadêmicos conservadores, provavelmente desconhecem que, de fato, quando se trata de arte e literatura, a maioria desses acadêmicos argumenta contra a possibilidade de tais definições. O que acontece é que os mais perspicazes dentre eles dão razões mais convincentes e sugestivas para o que fazem, e assim se distinguem daqueles que consideram as definições fúteis por definição.
Os leitores ficarão surpresos, e talvez consternados, ao se verem mergulhados desde o início numa discussão marcada por uma escolástica medieval. Talvez seja o meu próprio fedor da escolástica, para usar uma expressão de Joyce, que ajuda a explicar o interesse pelas questões abordadas neste livro. Há certamente uma ligação entre o fato de ter sido criado católico – fui, portanto, ensinado a não desconfiar dos poderes da razão analítica, entre outras coisas – e a minha carreira posterior como teórico da literatura. Alguns poderão também atribuir o meu interesse pela filosofia da literatura ao fato de ter desperdiçado tempo demais nas cidadelas flagrantemente anglo-saxônicas de Oxford e Cambridge.
No entanto, ninguém precisa ser ex-papista ou ex-professor de Oxbridge para perceber a estranheza de uma situação em que professores e estudantes de literatura têm o hábito de usar palavras como “literatura”, “ficção”, “poesia”, “narrativa” e assim por diante sem estarem totalmente bem equipados para iniciar uma discussão sobre o que elas significam. Os teóricos da literatura são aqueles que acham isso tão estranho ou tão alarmante quanto encontrar médicos que, embora capazes de reconhecer um pâncreas visualmente, fossem incapazes de explicar o seu funcionamento.
Além disso, há muitas questões importantes que o fenômeno de afastamento da teoria literária deixou em suspensão, e este livro tenta abordar algumas delas. Começo avaliando a questão de as coisas terem ou não naturezas gerais, o que tem uma óbvia relação com a questão de ser ou não possível falar sobre “literatura”. Em seguida, observo como o termo “literatura” é geralmente empregado hoje e, para tanto, examino cada uma das características que considero centrais para o significado da palavra.
Uma dessas características, a ficcionalidade, é tão complexa que requer um capítulo especial. Finalmente, passo à questão da teoria literária, perguntando se é possível demonstrar que as suas diversas formas têm atributos centrais em comum. Se eu fosse imodesto, diria que este livro oferece um relato sensato do que a literatura (ao menos no presente) realmente significa, além de chamar atenção, pela primeira vez, para o que quase todas as teorias literárias têm em comum. Mas não o sou, então não direi isso.[3]
*Terry Eagleton, filósofo e crítico literário, é professor emérito de literatura inglesa na Universidade de Oxford. Autor, entre outros livros, de O sentido da vida (Unesp). [https://amzn.to/4ii1u5c]
Referência
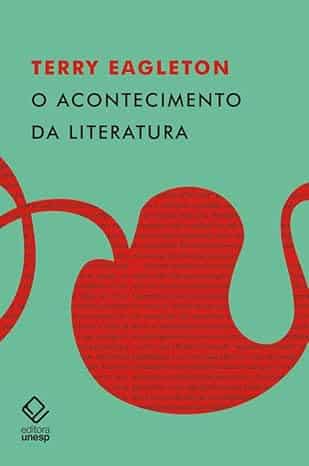
Terry Eagleton. O acontecimento da literatura. Tradução: Thomaz Kawauche. São Paulo, Unesp, 2024, 320 págs. [https://amzn.to/3Z8cRnn]
Notas
[1] Série de animação norte-americana criada por Seth MacFarlane e transmitida pela Fox entre 1999 e 2002; no Brasil, recebeu o título Uma família da pesada. (N. T.)
[2] Eagleton, After Theory, cap.2.
[3] Sou grato a Jonathan Culler, Rachael Lonsdale e Paul O’Grady, que apresentaram críticas e sugestões inteligentes. Também estou em dívida com meu filho Oliver Eagleton, que falou comigo sobre a ideia do fingimento e me esclareceu vários pontos vitais.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA