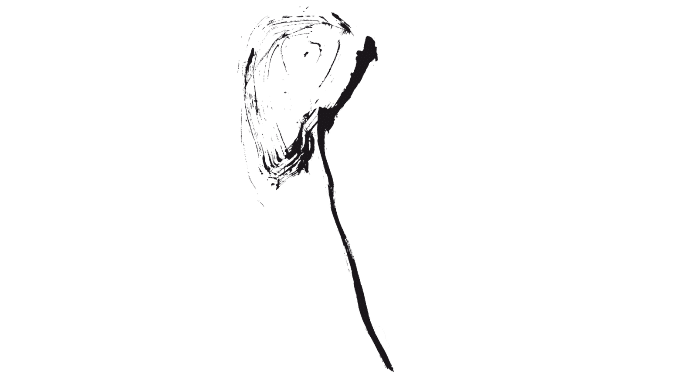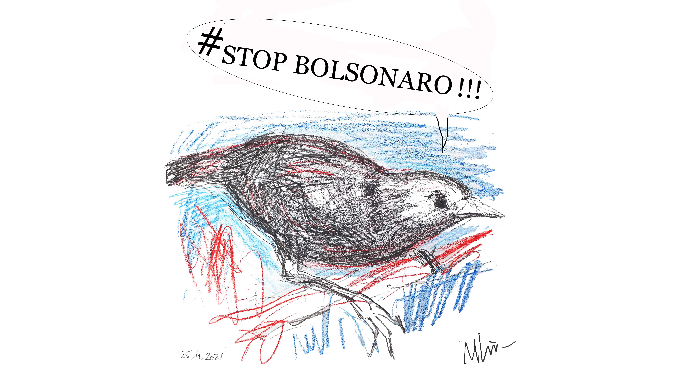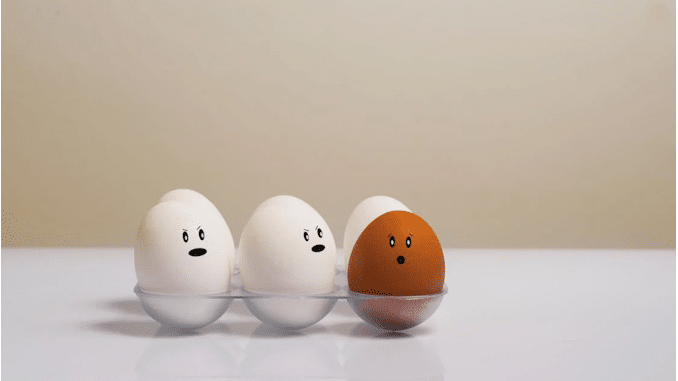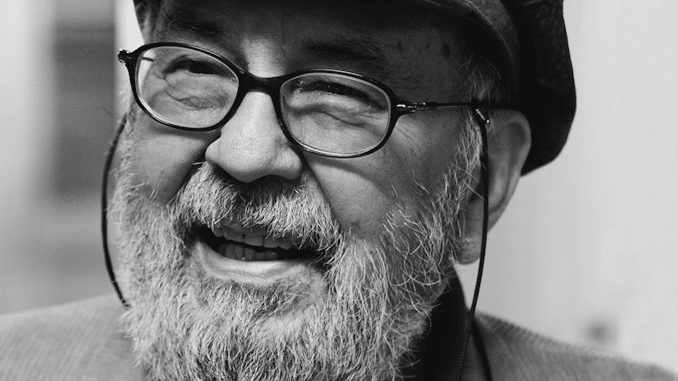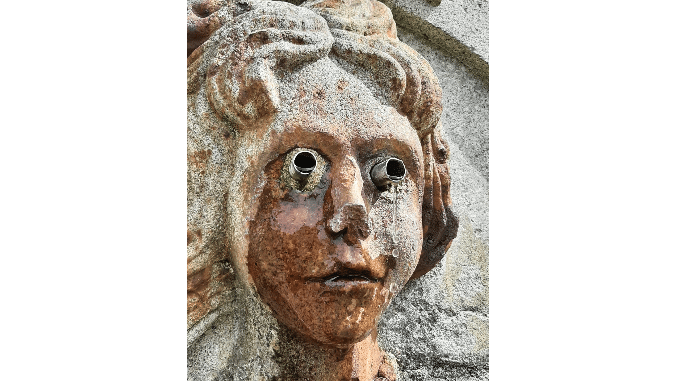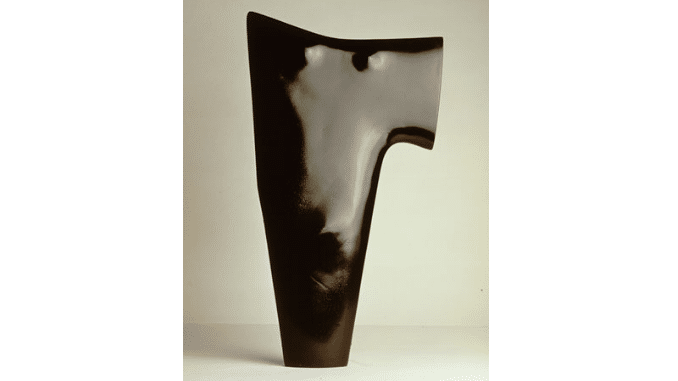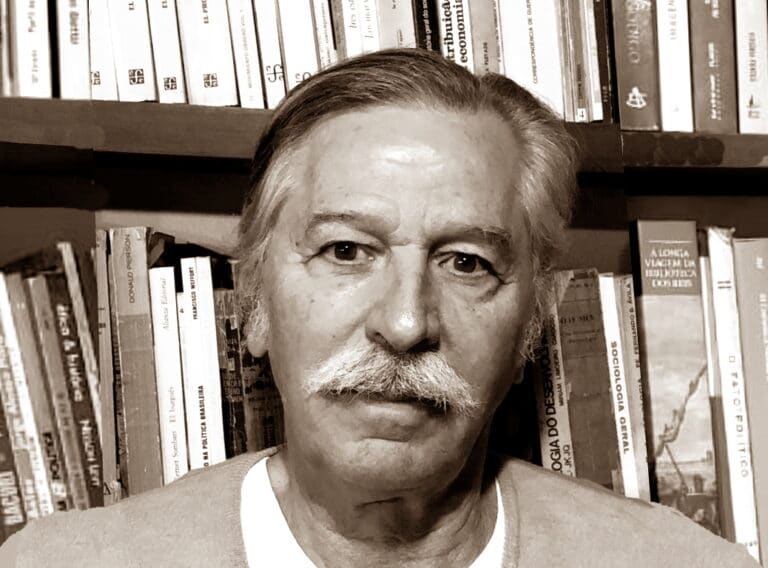Por PAULO MARTINS*
Comentário sobre o livro de Cilaine Alves, uma análise da recepção crítica e da obra de Álvares de Azevedo
O livro de Cilaine Alves sobre a poesia de Álvares de Azevedo é precioso. Recupera e analisa a recepção crítica da obra, processa e delimita o código e, por fim, opera e conceitua o estilo. O que faz, portanto, é analisar um sistema poético e retórico que, simultaneamente, observa certos equívocos da recepção, circunscreve o autor em questão num código estético-poético e refaz o percurso estilístico que sintetiza o registro em forma poética. Ou seja, Cilaine propõe, inusitadamente e na contramão da convencional crítica, a leitura da obra de Azevedo e não a leitura de Azevedo.
A recepção crítica do autor de Macário está dividida no livro sob dois prismas. O primeiro chamado de crítica “psicobiográfica” e o segundo de “psicoestilística”. Assim percorre a produção da recepção de Azevedo, observando Joaquim Norberto, José Veríssimo, Silvio Romero, Ronald de Carvalho, Afrânio Peixoto, Mário de Andrade e Antonio Candido. Esse processo, portanto, é o ponto de partida do livro.
Manoel Antônio Álvares de Azevedo, nas palavras de Antonio Candido na Formação da literatura brasileira (Ed. Ouro sobre azul), é, dentre os poetas românticos, aquele “que não podemos apreciar moderadamente: ou nos apegamos à sua obra, passando por sobre defeitos e limitações que a deformam, ou a rejeitamos com veemência, rejeitando a magia que dela emana. Talvez por ter sido um caso de notável possibilidade artística sem a correspondente oportunidade ou capacidade de realização, temos de nos identificar ao seu espírito para aceitar o que escreveu”.
A afirmativa de Candido, de certa forma, pode ser considerada a síntese de parte da crítica literária brasileira que leu os poetas românticos e, especificamente, Álvares de Azevedo sob o recorte da uma psicoestilística. Transfere essa crítica aspectos psicológicos do autor, ou melhor, do sujeito da enunciação poética para caracterizar a produção. Assim observada, esta poesia se impregna de conceitos psicológicos que poderiam ou não ser atribuídos ao autor.
Depositário de certo matiz psicobiográfico, Mário de Andrade em “Amor e Medo”, por seu turno, compõe a partir de suas leituras de Álvares de Azevedo uma visão do poeta. O cerne da discussão poética migra do “fazer” para o “ser”, ou seja, desconsidera o protocolo e cânone poético para considerar o poeta em si como objeto de estudo, deslocando a importância do estudo literário, do texto para o construtor do texto. Assim, “as teorias que afirmam ou tentam comprovar que o poeta desconhecia a prática do ato sexual soam deslocadas. As ideias que circulam em torno do ‘medo de amar’, ‘complexo de Édipo’ ou qualquer coisa do gênero seriam interessantes e oportunas em outras ocasiões, mas não como interpretação dos conteúdos das obras.” (O belo e o disforme, p. 56)
Logo, temos ao percorrer nossos mestres, a impressão que a leitura dos textos românticos antes de tudo deve observar os aspectos pessoais de afinidade e de empatia, não devendo ser norteada por uma paideia que está na base do estudo da crítica que se preocupa com produção do texto. Sob aquele aspecto, ecoam algumas proposições como: Álvares de Azevedo foi “um homem de imaginação doentia”. Destarte, ele foi (in)devidamente “etiquetado” de devasso, depravado, incestuoso, angelical, homossexual, casto, ingênuo, etc.
Em rodapé do prefácio ao livro, João Adolfo Hansen propõe, observando Mário de Andrade, falando de Maneco de Azevedo: “Fazer psicanálise de supostos sintomas de supostas neuroses de personagens é só verossímil, porque metaforização de discursos psicanalíticos tidos como ‘verdadeiros’ quando aplicados a sujeitos históricos empíricos. Seres de papel são puramente funcionais, não são passíveis de juízos de existência, desconhecem o real desejo etc.” (O belo e o disforme, p. 10-11)
Poderíamos atribuir tal imprecisão técnica da crítica brasileira à suposição de que, por ser um momento de ruptura inquestionável, o romantismo, ao contrário de momentos anteriores ao século XIX, carece de preceptivas que instaurem procedimento, e, nesse sentido, o que se pode dizer acerca dessa produção, está limitado aos sentimentos pessoais, ao prazer do gosto e ao gênio poético, elementos subjetivos que desconsideram a prática poética no seu sentido original, primevo. Afinal, o poieîn (ποιεῖν, fazer), mesmo para os românticos, não havia morrido, como, seguramente, para nós, pós-românticos, ou melhor, pós-tudo não morreu.
Contudo, o romântico efetiva-se como poética pela substituição de uma retórica clássica – digamos greco-latina –, que prevê uma elocução subjetivada, onde há espaço programático para o discurso personalizado, genericamente tomado, pela prática que entende a forma como “reflexão da própria essência”, “auto-reflexão infinita”, logo uma retórica que é essencialmente subjetivação da elocução. Este projeto passa, por conseguinte, pela invisibilidade do artifício.
Dessa forma, lendo-se Álvares de Azevedo, Sousândrade, Castro Alves e tantos outros, observa-se a pseudo-ausência de procedimento, o que para eles era programático e resultado efetivo de efeito pretendido, fundado em regras estéticas que propunham ora a imediatez da expressão subjetivada do patético, segundo já advertira Schiller, ora a poesia como auto-reflexão infinita, pedra de toque de Schlegel.
A crítica entendeu, portanto, este deslocamento retórico como rejeição de projeto retórico, instituindo a negatividade do procedimento como mera ausência de protocolo regularizador da ordem poética, e, consequentemente, atribui à obra de Álvares de Azevedo inépcia em certos momentos. Em suma, entendeu equivocadamente certa crítica “romântica” os próprios românticos.
Observe-se ainda Candido ao falar da “poesia” de Álvares: “mistura a ternura casimiriana e nítidos traços de perversidade; desejo de afirmar e submisso temor de menino amedrontado; rebeldia de sentidos, que leva duma parte à extrema idealização da mulher e, de outra, à lubricidade que a degrada”. Dessa forma, a crítica literária até hoje muito nos apontou muito sobre suas “psicopatologias” e pouco nos ajudou na leitura, tendo em vista os aspectos estéticos, que devem – mormente para a produção do século do mal – ser analisados com muito vagar.
Os desacertos de leitura da obra de Álvares de Azevedo, segundo a pesquisadora, tendo em vista o código poético do autor, se verificam pela inobservância de quatro características basilares da paideia (παιδεία, educação em sentido amplo) romântica que circunscrevem a poética da sublimidade, típica do romantismo: um sistema dual, a ascese anímica (ἄσκησις, áskesis, autocontrole), a infinitude do texto e o matiz byroniano.
Observa a autora que a poesia de Álvares de Azevedo subdivide-se em dois momentos. Um primeiro que visa a “dissolver as contradições da cultura procurando unificar a alma num reino transcendental, cantando a fé e a esperança numa civilização ideal” (O belo e o disforme, p. 71). E um segundo que efetiva um rompimento com o mundo de cultura a partir de uma “adoção de valores e formas de vida condenados pela moralidade vigente” (idem ibidem), instaurando consciência lírica céptica que refuta a imortalidade da alma.
Estes dois momentos, quando sobrepostos no terreno da criação poética, correspondem a códigos poéticos próprios. Nesse sentido, quando as poesias visam à transcendência, apresentam metáforas vagas e indefinidas que retratam certa espiritualidade e, quando expressam a vida marginal, observam um código de insatisfação que dialoga com os rumos da cultura, mediante a exploração da vida material e sensível.
Essa desigualdade binômia caracteriza proposta romântica de entender a poesia como tarefa progressiva ou infinita que objetiva a aproximação entre o mundo divino e o mundo terreno, mediada pelo “eu artístico”, singular e genial. À duplicidade temática, associam-se duas concepções do ideal que singularmente propõem asceses anímicas.
Para comprovação dessa tese, Cilaine Alves opta por observar a obra Macário. Assim, “enquanto Macário reage contra o sentimento de alienação do sujeito e da arte na civilização industrial professando um tipo de poesia que retrate tal descontentamento, Penseroso acredita na possibilidade de atingir um estágio civilizatório ideal com o advento do progresso” (O belo e o disforme, 77). Vale dizer que a autora associa a posição de Macário, descrente em relação à cultura, à própria posição poética de Álvares de Azevedo que busca a plenitude no ideal infinito.
Por outro lado, esta mesma busca será, também, construída pela figuração do amor-paixão. Dessa forma, invariavelmente, Azevedo revitaliza o sentimento em sua essência como ideia e possibilidade de transcendência, de elevação do espírito ao reino do Absoluto. O embate nuclear entre a realidade cotidiana e a idealização do infinito “propicia a adoção do amor irrealizado” onde a donzela virgem e angelical é a personificação desse ideal.
Cilaine Alves infere, contudo, que, à certa altura de Lira dos Vinte Anos, Álvares de Azevedo introduz um “eu crítico” em sua obra que questiona a validade da postura poética adotada até então. Ou seja, “exausto de perseguir um ideal inapreensível”, concebe o prefácio ao livro citado, transformando-o numa autocrítica que assume um desconforto, ou até, um desapontamento com a “banalização do código poético sentimental” (O belo e o disforme, p.87).
Tal ato, que poderia e, seguramente, pôde confundir a recepção que talvez aferisse a partir disso, talvez, um sintoma de esquizofrenia, mostra a autora, ser absolutamente programático dentro do cânone romântico onde a reflexão sobre a obra, amiúde, é inerente ao sistema poético. Pressupõe a arte romântica, pois, uma crítica imanente capaz de propor um crítico que esteja no centro do texto, e não, externo a ele. Dessa forma, “na própria ideia que concebe o artista como mediador entre o finito e o infinito, entre o eterno e o efêmero, encontra-se, paradoxalmente, uma restrição que limita o âmbito da ação do gênio romântico, impedindo que seu livre-arbítrio desemboque na ‘iliberalidade’.” (O belo e o disforme, p.89)
Cilaine vai além, indica que o procedimento poético-elocutivo que permitirá ao poeta romântico se tornar o próprio crítico de sua obra, será a ironia que, simultaneamente, é a auto-eliminação da subjetividade, soterrando o sentimentalismo exacerbado e, é, também, a mediadora da anulação da forma poética, explicitando um momento objetivo, ou seja, a ironia da forma, conforme bem expressou Walter Benjamin.
O quarto elemento, levantado n’O belo e o disforme revê “o maior caso de byronismo explícito das letras brasileiras”, como aponta Hansen no Prefácio da obra (O belo e o disforme, p. 9), isto é, no trabalho de processamento e de delimitação do código poético alvaresino, é trabalhada uma acurada análise daquilo que, acertadamente, a crítica tradicional já observara na obra de Álvares de Azevedo: o byronismo. Contudo, jamais de maneira historicizada.
É oferecida, pois, uma contribuição de inscrição histórica desse “movimento” de letras, socialmente observado. Destaca a importância de certas sociedades e revistas cujo ideário indicava “a adoção da ‘filosofia’ byroniana, do estilo de vida boêmio, além da crítica, através do gênero ‘bestialógico’, aos falsos poetas” (O belo e o disforme, p. 134).
Esse aspecto do código poético sintetiza a binomia explícita da obra uma vez que o sujeito da enunciação observa “a inapreensibilidade de esferas cósmicas e de que a ciência não é capaz de explicar os mistérios da vida” (O belo e o disforme, p. 9). Diante da impossibilidade do mundo, revitaliza, pois, certos estereótipos avessos à vida mundana “normal”. A autora prova que a esse procedimento, absolutamente, programático, na obra de Azevedo, corresponde a sublimidade sentimentalmente idealizada da donzela pura, o lírio branco, como contrapartida da binomia que busca o infinito.
Na terceira e última parte do livro, Cilaine Alves opera a estilística alveresina, tanto naquilo que há de dualidade (chamou Álvares de binomia), porquanto é resultado dessa expressão, quanto naquilo que há de fusão desse processo, uma vez que a obra resulta una. O estilo, portanto, encerra um sistema proposto, recuperando em forma poética a binomia estilística e, consequentemente, uma fusão de elementos que busca o ideal.
Para assentar a duplicidade imposta pelo conteúdo, o autor d’O conde Lopo propõe, segundo Cilaine, a operação de dois estilos, ora o baixo e vezo que dá conta da bestialidade byrônica, ora o alto e sublime que recupera o conteúdo de sentimentalismo exacerbado.
Assim, “enquanto na fundamentação de um mundo visionário e platônico a imitação remete a esferas elevadas, ideais e inapreensíveis, após essa exposição a representação busca retratar, de forma diametralmente oposta, os elementos sensíveis do cotidiano prosaico, interpretando-os na chave de uma estilística baixa” (O belo e o disforme, p. 129).
Portanto, aquilo que a crítica observou como imprecisão, altos e baixos, momentos bons e maus representam uma intenção poética subliminar que visa a, “heteronimicamente”, dar conta de várias consciências, e daí, certa infinitude da imensidão cósmica. Segundo a autora, esta postura permite estabelecer a relação entre o pensamento estético de Kant e a sua particular assimilação por parte de Schiller.
Estilisticamente, portanto, Álvares de Azevedo num primeiro momento esforça-se em passar ao largo do mundo sensível, buscando a sublimidade e num segundo, trabalha a representação da natureza sensível e corpórea, assumindo experiências conflituosas do cotidiano (boemia literária, pobreza material do poeta, anonimato etc.).
O belo e o disforme constitui, sem dúvida, um marco na crítica literária brasileira acerca do romantismo, pois consegue normatizar algo que, para muitos, era inormatizável e, para outros, fruto de mentes doentias, logo próximo da incongruência, da inépcia e da infantilidade: a poesia romântica de Álvares de Azevedo.
*Paulo Martins é professor de Letras Clássicas da USP e autor de Elegia romana: construção e efeito (Humanitas).
Publicado originalmente no Jornal da Tarde, em 06 de junho de 1998.
Referência
Cilaine Alves. O belo e o disforme: Álvares de Azevedo e a ironia romântica. São Paulo, EDUSP/Fapesp.