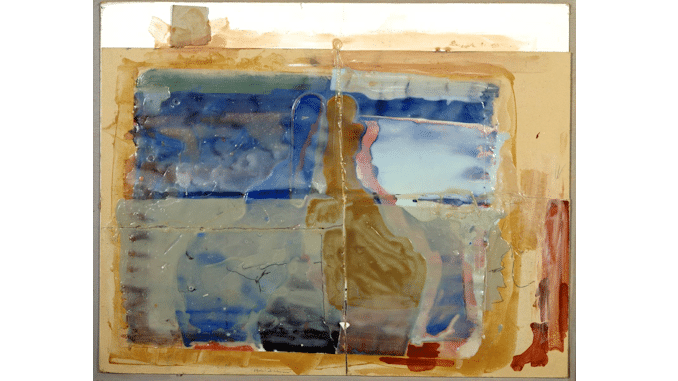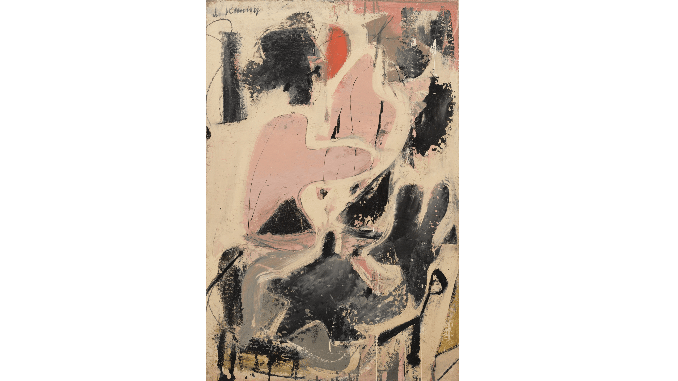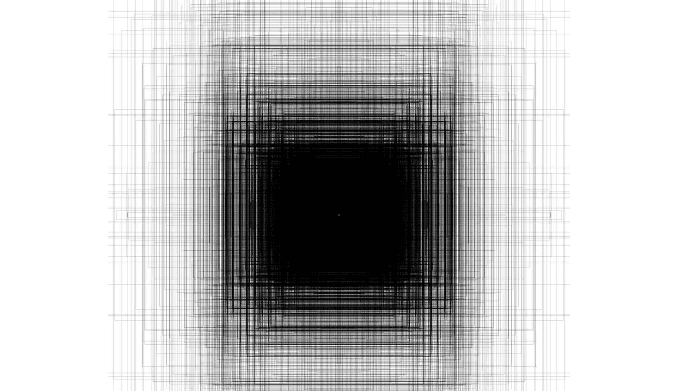Por RICARDO ABRAMOVAY*
A ideia de uma comunidade global regendo todas as interações do planeta e abolindo interesses geopolíticos regionais ruiu
A ciência econômica, tal como ela se consolidou desde o final do Século XIX, afastou de seu horizonte intelectual e cultural a discussão sobre os valores ético-normativos que regem a maneira como as sociedades humanas usam os recursos materiais, energéticos e bióticos dos quais dependem. Este afastamento se radicalizou com o domínio daquilo que um número cada vez maior de economistas vem denunciando como o ultraliberalismo que marcou a disciplina, sobretudo a partir de meados dos anos 1970.
A ideia central desta vertente era que os mercados tinham uma inteligência necessariamente superior à de qualquer planejador. Esta presunção não se referia apenas ao Estado, mas ao próprio setor privado. Quem deveria ditar a forma de as empresas se organizarem não era sua direção e sim os mercados e, especialmente, os mercados financeiros. Os acionistas e os investidores deveriam ter a palavra final, expressa em números, no valor das ações e dos ativos das empresas.
As decisões empresariais seriam, por esta visão, permanentemente submetidas ao escrutínio descentralizado não de uma burocracia administrativa com interesses próprios, mas sim de uma instância sobre a qual ninguém tem controle. A organização empresarial do século XXI extirparia, assim, o parasitismo das administrações convencionais, seria mais leve, operaria em rede e ganharia agilidade para aproveitar as oportunidades, propiciando assim maior crescimento econômico. Neil Fligstein, um dos autores mais importantes da sociologia econômica contemporânea descreveu este processo num livro fundamental publicado em 2001.
Esta ficção, que se impôs globalmente desde meados dos anos 1970, começou a desabar com a crise de 2008, mas ainda sobreviveu com impressionante arrogância, até o início da pandemia. A invasão da Ucrânia fincou definitivamente os pregos em seu caixão. A ideia de que os interesses dos indivíduos e os das empresas poderiam se exprimir numa espécie de comunidade global, onde a inovação e a eficiência seriam condições necessárias e suficientes para ampliar a riqueza, promovendo então a convergência entre os países e a abolição de interesses geopolíticos regionais, esta ideia ruiu. E com ela, ruiu igualmente outra crença ingênua, a de que a democracia resulta da capacidade de as sociedades respeitarem os mercados e prosperarem a partir deste respeito.
Dani Rodrik, professor da John F. Kennedy School of Government da Universidade de Harvard em entrevista a Daniel Rittner, no Valor Econômico, exprime bem esta ideia: “A hiperglobalização, diz Rodrik, foi um mundo no qual presumimos que preocupações geopolíticas e de segurança poderiam não apenas ser administradas, mas enfraquecidas ou até eliminadas graças à integração econômica e financeira”. A China, por exemplo, se aproximaria do Ocidente e ficaria mais democrática, graças ao poder da integração econômica, dos mercados.
Esta ilusão é igualmente denunciada por Timothy Snyder, historiador da Universidade de Yale e autor de TheRoad do Unfreedom no que ele chama de “política da inevitabilidade, um sentimento de que o futuro consiste em mais do próprio presente, que as leis do progresso são conhecidas…que a natureza trouxe o mercado, que trouxe a democracia, que trouxe a felicidade”.
O desabamento deste mundo e a decomposição dos mitos em que ele se apoia traz duas consequências fundamentais para o futuro das sociedades contemporâneas. Em primeiro lugar, como a pandemia já havia mostrado, a aposta na eficiência das cadeias globais de valor para a provisão dos bens e serviços necessários ao crescimento econômico, pertence ao passado. Os blocos regionais serão fortalecidos e a dependência com relação a circuitos longos será colocada sob suspeita. A geopolítica, mais que a economia, terá papel decisivo nas relações comerciais e, de forma geral, nas relações internacionais. É claro que este horizonte inspira medo, sobretudo diante da ameaça real de que os conflitos de interesse descambem para a agressão nuclear.
Mas há uma segunda consequência que, de certa forma, se contrapõe à primeira. O desabamento do que Tymothy Snyder chamou de política da inevitabilidade, do vínculo mágico entre mercado, democracia e felicidade este desabamento recoloca a discussão sobre valores ético-normativos no cerne tanto da teoria como das decisões econômicas. Aumenta de maneira impressionante a pressão para que as iniciativas das empresas e as infraestruturas planejadas pelos governos sejam norteadas não mais pela ambição geral e abstrata de promover o crescimento econômico e sim pela urgência de levar adiante o tríplice combate à crise climática, à erosão da biodiversidade e ao avanço das desigualdades.
Oferecer bens e serviços demandados pelos diferentes mercados será cada vez menos suficiente para legitimar a licença social para operar das empresas. A União Europeia já decidiu que não mais comprará commodities vindas de áreas desmatadas a partir de dezembro de 2020. A declaração de trinta e quatro organizações brasileiras que pertencem ao Observatório do Clima, propondo que as restrições europeias se apliquem não só à Amazônia, mas também ao Cerrado, à Caatinga, ao Pantanal e ao Pampa é uma importante indicação sobre a incontornável presença de valores ético-normativos (no caso, a urgência em se garantir os serviços ecossistêmicos dos quais todos dependemos) no interior dos mercados.
Outro exemplo na mesma direção e que se contrapõe à ideia de que possa existir um mecanismo automático, descentralizado capaz de assegurar um vínculo construtivo entre economia, democracia e prosperidade, vem do Banco Central Europeu que acaba de divulgar um relatório mostrando que nenhum dos 109 bancos por ele supervisionados tinha um nível satisfatório de transparência com relação às mudanças climáticas: “um montão de barulho branco e nada de substância real”, diz o relatório do BCE. Apenas 15% dos bancos divulgam dados sobre as emissões das companhias por eles financiadas.
A vantagem do fim da hiperglobalização é que ela vai exigir dos cidadãos, dos consumidores, das empresas, das organizações da sociedade civil e dos governos que todas, absolutamente todas as suas decisões sejam tomadas com base em valores ético-normativos. E como estes valores não são, felizmente, unânimes, está aberto o caminho pelo qual democracia e vida econômica poderão passar por uma construtiva fertilização recíproca. É nosso maior e fascinante desafio depois que o fanatismo fundamentalista for afastado do Planalto e da Esplanada dos Ministérios.
*Ricardo Abramovay é professor titular sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Autor, entre outros livros, de Amazônia: por uma economia do conhecimento da natureza (Elefante/Terceira Via).
Publicado originalmente no portal UOL.