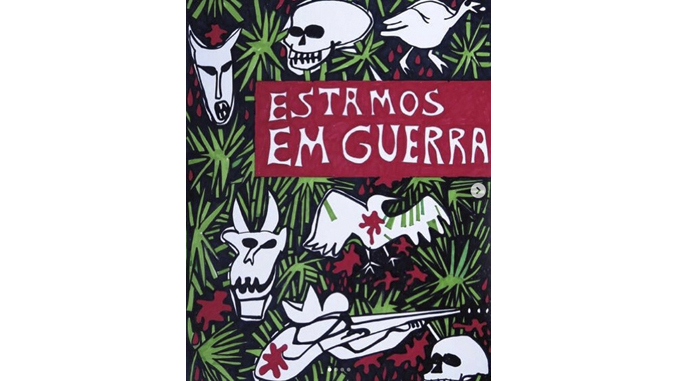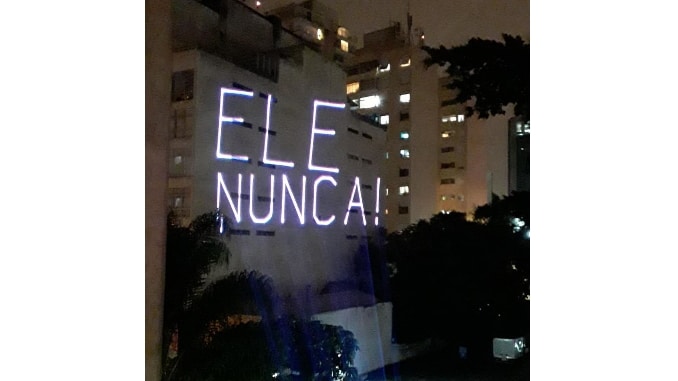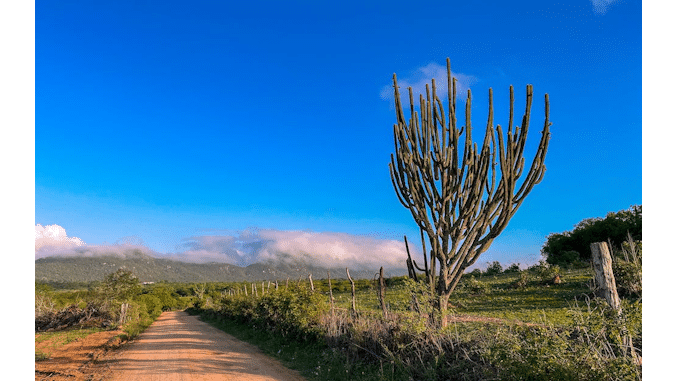Por OSVALDO COGGIOLA*
Uma reconstituição histórica e política dos debates sobre a questão do imperialismo no âmbito da Segunda Internacional (1889-1914).
Dois autores franceses afirmaram que “até 1914, faltava à teoria do partido de Lênin o mesmo que à teoria da revolução permanente de Trotsky: a análise do imperialismo, época de guerras e revoluções, era da revolução mundial do proletariado”.[i] Ora, em 1914 já existiam estudos sobre as bases econômicas e sociais do imperialismo (e teorias a respeito) e, durante a guerra mundial, os livros de Bukhárin e Lênin sobre a questão foram publicados, mas as divergências na socialdemocracia russa continuaram.
A questão em debate era precisar a conexão entre um fenômeno “geopolítico” de importância cada vez maior com as leis e tendências gerais do capitalismo. O debate sobre o imperialismo reformulava uma questão que já tinha mais de meio século de existência: “[O termo ‘imperialismo’] desde seus primórdios, na década de 1840, mudou seu significado doze vezes, e ninguém da geração atual está ciente de seu primeiro significado ou dos significados subsequentes que esse termo possuía nos dias de Palmerston e Disraeli.
Hoje, a palavra pode ser encontrada aplicada a sistemas de controle mantidos em um território por colonos densamente povoados do povo dominante, mas também à influência política exercida por agências militares e administrativas, ou mesmo à influência de interesses comerciais que conseguiram se impor no país dependente. O domínio chamado de ‘imperialista’ pode ter se originado na conquista ou em tratados concluídos com governantes indígenas. O valor prático da dominância parece na maioria dos casos se materializar nos retornos financeiros. Mas o imperialismo também pode ser pensado como constantemente preocupado em garantir posições internacionais estratégicas avançadas”.[ii]
No passado, o colonialismo tinha estado estreitamente vinculado ao tráfico intrernacional de escravos, que sobreviveu até depois de meados do século XIX. Em carta a Engels (de 1860), Marx afirmara que a luta contra a escravidão era “a coisa mais importante que estava acontecendo no mundo”. Karl Marx não foi original devido a pôr em evidência as iniquidades da escravidão africana, o que era um consenso na “sociedade ilustrada” europeia, mas por situá-la no contexto do desenvolvimento do modo de produção capitalista: “No Brasil, no Suriname, nas regiões meridionais da América do Norte, a escravidão direta é o pivô em cima do qual nosso industrialismo de hoje faz girar a maquinaria, o crédito, etc. Sem escravidão não haveria nenhum algodão, sem algodão não haveria nenhuma indústria moderna. É a escravidão que tem dado valor às colônias, foram as colônias que criaram o comércio mundial, e o comércio mundial é a condição necessária para a indústria mecânica em grande escala. Consequentemente, antes do comércio de escravos, as colônias davam muito poucos produtos ao mundo velho, e não mudaram visivelmente a face do mundo. A escravidão é consequentemente uma categoria econômica de suprema importância. Sem escravidão, a América do Norte, a nação a mais progressista, ter-se-ia transformado em um país patriarcal. Risque-se apenas a América do Norte do mapa dos povos e ter-se-á a anarquia, a decadência completa do comércio e da civilização modernos. Mas fazer desaparecer a escravatura seria riscar a América do mapa dos povos. Por isso a escravatura, sendo uma categoria econômica, se encontra desde o começo do mundo em todos os povos. Os povos modernos só souberam disfarçar a escravatura no seu próprio seio e importá-la abertamente no Novo Mundo”.[iii] Não eram as colônias as que precisavam de escravos (havia colônias sem escravos), mas a escravidão a serviço da acumulação capitalista a que precisava de colônias.
Diversa era a situação em finais do século XIX: no esteio da Inglaterra, todas as grandes potências tinham decretado a proibição da escravidão; a nova percée europeia na África e no mundo colonial era realizada, com outros objetivos, em nome da liberdade de comércio e de investimento. Em 1843, quando era quase o único país exportador de capital, a Inglaterra possuía títulos da dívida pública dos países da América por valor de 120 milhões de libras esterlinas (vinte vezes mais que o montante dos investimentos britânicos além-mar nas maiores 24 companhias mineiras). Em 1880, o montante desses mesmos títulos, da América Latina, dos EUA e do Oriente, de posse da Inglaterra, já ascendia a 820 milhões de libras esterlinas, sete vezes mais. A exportação de capitais não tinha substituído, mas acompanhado, o crescimento da corrente comercial: a partir de 1840 verificara-se uma forte expansão do comércio externo britânico; em 1860, as exportações inglesas já representavam 14% da renda nacional, percentual que cresceu até atingir, nas vésperas da guerra mundial, 40% dessa renda.[iv]
No que diz respeito ao aspecto financeiro, em 1915, calculava-se em 40 bilhões de dólares (200 bilhões de francos), os capitais exportados pela Inglaterra, Alemanha, França, Bélgica e Holanda, cifra que superava folgada e qualitativamente aquelas correspondentes ao mesmo rubro no século XIX. No que concerne à disputa estratégica, na virada para o século XX, com a Conferência de Berlim (1885) e a “corrida colonial” das potências europeias, o debate sobre a questão deixou de se referir a uma dominação imperial em particular (a britânica) e cada vez mais a um sistema, baseado numa rede econômica e dotado de suas próprias características específicas, vinculadas com as do modo de produção capitalista, e nesse sentido foi objeto de discussão por parte de autores socialistas e marxistas. A questão dividiu a Internacional Socialista e o movimento operário na década que precedeu o enfrentamento bélico mundial. Posta no primeiro plano da política internacional, ela não preocupou apenas socialistas: o primeiro estudo clássico sobre o imperialismo (modelo para muitos que o seguiram), escrito em inícios do século XX, foi obra do economista liberal inglês John A. Hobson, e referido basicamente (embora não somente) ao colonialismo e ao “império informal” britânico.[v]
Os motivos eram fortes. O império inglês conhecera um desenvolvimento fulminante no último quartel do século XIX. Em 1879, Inglaterra empreendeu a segunda guerra afegã. Na China, os ingleses estabeleceram-se em Xangai, Hong-Kong e outros pontos costeiros e insulares. Na África, graças às iniciativas de Cecil Rhodes, alimentou-se cada vez mais o sonho de construir um império inglês ininterrupto entre o Cairo, no Egito, e a Cidade do Cabo, na África do Sul, o que foi parcialmente conseguido depois da Conferência de Berlim, que legitimou a anexação inglesa de todos os territórios ao longo desse corredor (Egito, Sudão, Quênia, Rodésia – que tomou seu nome do paladino do Império Britânico na África – e Transvaal). A expansão colonial-militar inglesa, porém, já suscitava reações negativas na metrópole, incluídas as dos setores burgueses que preferiam uma forma menos custosa e mais segura de garantir os lucros advindos dos investimentos externos e do comércio internacional: Hobson (membro do partido liberal inglês) propôs, em finais do século XIX, aos círculos dirigentes ingleses, a retirada do país da Índia.
A aquisição de novos territórios africanos fora uma medida defensiva dos expansivos interesses mundiais ingleses que sofriam o ataque de outras potências. Nas últimas décadas do século XIX o empresário inglês Cecil Rhodes impulsionou o projeto britânico de construção da ferrovia que ligaria o Cairo ao Cabo, projeto nunca realizado. Rhodes foi um dos fundadores da companhia De Beers, que detinha em finais do século XX 40% do mercado mundial de diamantes (já teve 90%). Sua divisa pessoal era “so much to do, so little time…” (Tanto para fazer, tão pouco tempo…). A Companhia Britânica da África do Sul foi criada por Rhodes através da fusão da Central Gold Search Association, empresa liderada por Charles Rudd, e da Exploring Company, Ltd, de Edward Arthur Maund. Em um período de menos de dez anos, Rhodes e sua companhia tinham invadido ou levado a autoridade imperial britânica a se impor sobre uma região correspondente às modernas Botswana, Zimbábue, Zâmbia, e Malaui, uma área equivalente a três vezes o tamanho da França.
Rhodes, em um de seus testamentos, escreveu: “Considerei a existência de Deus e decidi que há uma boa chance de que ele exista. Se ele realmente existir, deve estar trabalhando em um plano. Portanto, se devo servir a Deus, preciso descobrir o plano e fazer o melhor possível para ajudá-lo em sua execução. Como descobrir o plano? Primeiramente, procurar a raça que Deus escolheu para ser o instrumento divino da futura evolução. Inquestionavelmente, é a raça branca… Devotarei o restante de minha vida ao propósito de Deus e a ajudá-lo a tornar o mundo inglês”. Rhodes morreu e foi enterrado em 1902 nas colinas de Matobo, na África do Sul, onde ele dominara uma rebelião dos matabeles, que assim mesmo vieram ao seu enterro. A cerimônia foi cristã, mas os chefes matabeles pagaram tributos a Rhodes de acordo com as suas crenças.[vi]
No quadro dessa corrida colonial, a África perdeu qualquer independência política. Os franceses expandiram-se para o interior e para Sul africanos, criando em 1880, a colônia do Sudão Francês (atual Mali); nos anos que se seguiram, ocuparam grande parte do Norte de África e da África ocidental e central. Leopoldo II da Bélgica, por sua vez, “usava um de seus Estados, o Congo, para fortalecer seu outro Estado, a Bélgica. Sonhava com prosperidade econômica, estabilidade social, grandeza política e orgulho nacional. Na Bélgica, claro – caridade bem entendida começa em casa. Reduzir seu empreendimento a um enriquecimento pessoal não faz justiça aos motivos nacionais e sociais de seu imperialismo. A Bélgica era ainda jovem e instável; com o Limburgo holandês e o Luxemburgo tinha perdido importantes porções de seu território; católicos e liberais estavam dispostos a se devorar crus; o proletariado começava a se movimentar: um coquetel explosivo. O país parecia ‘uma caldeira sem válvula de escapamento’, segundo Leopoldo. O Congo se transformou nessa válvula”.[vii]
Na Europa, Leopoldo II apresentava sua “obra” colonial com uma aureola de altruísmo humanitário, de defesa do livre comércio e de luta contra o comércio de escravos, mas, na África, expropriava os povos locais de todas suas terras e recursos, com seu exército privado, que submetia à população a trabalhos forçados. A crueldade repressiva incluía assassinatos, violações, mutilações e decapitações. Dez milhões de congoleses, estimadamente, perderam a vida entre 1885 (ano do reconhecimento internacional do “Livre Estado do Congo”) até 1908 (alguns autores elevam essa cifra até vinte milhões). Leopoldo II morreu em 1909; durante seu reinado a população do Congo se reduziu em mais de dois terços (de trinta para nove milhões de habitantes nativos). A história colonial do Congo expõe um dos genocídios mais sangrentos da era contemporânea.
Na penúltima década do século XIX acelerou-se a divisão da África. Ameaçados, os chefes africanos cediam o poder a comandantes de tropas europeias. Outros assinavam tratados de proteção, na ignorância de que transferiam aos estrangeiros a soberania sobre suas terras, riquezas e habitantes: julgavam estar arrendando ou cedendo para uso provisório um certo território, como de praxe quando um estrangeiro pedia o privilégio e a honra de viver e comerciar entre eles. Se espantavam quando dois grupos de homens brancos de língua diferente disputavam entre si com violência essa honra e esse privilégio, em vez de compartilhá-lo. Em 1885, Portugal conseguiu firmar com o rei Glelê, do Danxomé, o tratado de Aguanzum, que estabelecia o protetorado português sobre o litoral, dando-lhe direitos sobre o interior. Os franceses, que haviam renovado com o mesmo rei o acordo de 1878, de cessão de Cotonu, reagiram prontamente, obrigando Lisboa, em 1887, a renunciar a suas pretensões.
Pela Conferência de Berlim, “os territórios que hoje correspondem a Ruanda e Burundi foram atribuídos à Alemanha. Assim, em 1894, o Conde Von Götzen se tornou o primeiro homem branco a visitar Ruanda e sua corte, e, em 1897, instalou os primeiros postos administrativos e impôs o governo indireto. Porém, em 1895 havia falecido o mwami Rwabugiri, desencadeando-se violenta luta pela sucessão entre os tutsis. Em consequência, os líderes dos clãs mais fracos passaram a colaborar com os chefes alemães, que concederam a membros da elite tutsi proteção e liberdade, o que lhes permitiu consolidar a posse sobre terras e submeter os hutus”;[viii] e “completou a Conferência de Berlim uma outra, ainda mais sinistra e ameaçadora, do ponto de vista africano: a de Bruxelas, em 1890. Chamaram-lhe sintomaticamente Conferência Antiescravagista, e o texto que nela se produziu é um violento programa colonizador. Tudo dentro da melhor lógica política, pois afinal fora em nome da luta contra o tráfico negreiro e a escravidão que a Europa começara a ocupar a África. Como os europeus partiam do princípio, de todo equivocado, de que na África não havia governos, o artigo primeiro da Ata Geral da Conferência recomendava a ‘organização progressiva dos serviços administrativos, judiciais, religiosos e militares nos territórios sob a soberania ou o protetorado de nações civilizadas’’, a instalação de fortes no interior do continente e nas margens dos rios, a construção de estradas de ferro e de rodagem e a proteção da livre navegação pelas vias fluviais, ainda que em áreas sobre as quais os europeus não tinham sequer arremedos de jurisdição”.
Prossegue o mesmo autor: “Uma das principais disposições era aquela que restringia a compra de armas de fogo pelos africanos, por serem eles instrumentos de escravização. Imposto o domínio colonial, a consciência europeia deixou de considerar urgente o fim da escravidão. Esta continuou a existir como atividade legal até 1901 no sul da Nigéria, até 1910 em Angola e no Congo, até 1922 em Tanganica, 1928 na Serra Leoa e 1935 na Etiópia… Os impérios, reinos e cidades-estado da África eram entidades políticas inexistentes para os diplomatas europeus que participaram das Conferências de Berlim e de Bruxelas. Não os tinham como interlocutores. Mas, quando seus países tiveram de ocupar os terrenos que dividiram no mapa, e seus militares de tornar efetivos tratados de protetorado que para os soberanos da África eram contratos de arrendamento ou empréstimo de terras, toparam a resistência de estados com firmes estruturas de governo e povos com forte sentimento nacional. Venceram-nos, graças aos fuzis de cartucho e de fechadura a ferrolho, à metralhadora e aos canhões sobre rodas, contra os quais os africanos opunham a lança, a azagaia, o arco-e-flecha, as espingardas de pederneira ou de agulha e cápsula fulminante, que se carregavam pela boca, e os velhos canhões imobilizados no solo ou de difícil transporte. Venceram-nos porque souberam jogar os povos vassalos contra os senhores e os inimigos tradicionais uns contra os outros. Assim, os britânicos usaram os ibadãs contra Ijebu Ode e os fantes contra os achantis. Assim, os franceses juntaram às suas tropas as de Quêto, para dar combate ao Danxomé, e as bambaras, para fazer frente aos tucolores de Ahmadu. Venceram-nos, mas algumas vezes com grande dificuldade e após demorada luta”.[ix]
Nas metrópoles, os partidos socialistas se opuseram (foram os únicos a fazê-lo) à onda de investidas colonialistas na África. Em março de 1885, depois do ataque britânico contra a Alexandria, a Socialist League inglesa distribuiu em todo o país milhares de cópias de uma declaração em que se lia: “Uma guerra injusta e malvada foi desencadeada pelas classes dominantes e proprietárias deste país, com todos os recursos de civilização, contra um povo mal armado e semibárbaro, cujo único crime é o de ter se rebelado contra a opressão estrangeira, que as próprias classes mencionadas admitem ser infame. Dezenas de milhares de trabalhadores, tirados da atividade neste país, foram desperdiçados para realizar uma carnificina de árabes, pelas razões que seguem: 1) Para que África Oriental possa ser ‘aberta’ ao envio de mercadorias com data vencida, péssimas bebidas alcoólicas, doenças venéreas, bibelôs baratos e missionários, tudo para que comerciantes e empresários britânicos possam fincar seu domínio sobre as ruínas da vida tradicional, simples e feliz, dos filhos do deserto; 2) Para criar novos e vantajosos postos de governo para os filhos das classes dominantes; 3) Para inaugurar um novo e favorável terreno de caça aos esportistas do exército que acham tediosa a vida na pátria, e estão sempre prontos para um pequeno genocídio de árabes, quando exista a ocasião.. Mas, quem é que vai ao combate nesta e em análogas ocasiões? As classes que estão à procura de mercados? São elas as que constituem a tropa de nosso exército? Não! São os filhos e os irmãos da classe trabalhadora de nosso país. Que por um soldo miserável são obrigados a servir nestas guerras comerciais. São eles que conquistam, para as ricas classes médias e superiores, novos países a serem explorados e novas populações para serem despojadas…”.[x]
Assinavam a declaração 25 responsáveis socialistas e operários ingleses, encabeçados por Eleanor Marx-Aveling, filha caçula de Karl Marx e provavelmente autora do documento, pois era responsável pela rubrica internacional do jornal socialista inglês. Na Internacional Socialista, fundada em 1889, no entanto, ganharam força os posicionamentos que justificavam a colonização africana (e outras) em nome da “missão civilizadora” da Europa. Os socialistas revolucionários, anti-imperialistas, sustentavam que a guerra colonial era a maneira de manter os privilégios das grandes burguesias metropolitanas e a condição para que se mantivesse o nível de vida de parcelas privilegiadas do proletariado europeu (Marx e Engels já tinham apontado esse fato no que dizia respeito à atitude do operário inglês em relação à colonização da Irlanda). Nas metrópoles colonizadoras, surgia uma nova figura, o “colonizador de esquerda (que) não detém o poder, suas afirmações e promessas não têm nenhuma influência sobre a vida do colonizado. Ele não pode, além disso, dialogar com o colonizado, fazer-lhe perguntas ou pedir garantias… O colonizador que recusa o fato colonial não encontra em sua revolta o fim de seu mal-estar. Se não suprime a si mesmo como colonizador, ele se instala na ambiguidade. Se rejeita essa medida extrema, concorre para confirmar e instituir a relação colonial, a relação concreta de sua existência com a do colonizado. Pode-se compreender que seja mais confortável aceitar a colonização, percorrer até o fim o caminho que leva do colonial ao colonialista. O colonialista, em suma é apenas o colonizador que se aceita como colonizador”.[xi]
Em reação à partilha colonial da África, em finais do século XIX, surgiu nas Américas o pensamento pan-africanista, com dois líderes negros que vincularam a África com sua diáspora no Caribe: Silvestre Williams e George Padmore. O primeiro era advogado, nascido em Trinidad Tobago. Em 1900, organizou em Londres uma conferência para protestar contra o açambarcamento das terras da África pelos europeus, que foi o ponto de partida do pan-africanismo político, retomado pelo dirigente socialista afro-americano W.E. Du Bois, de família haitiana, nos EUA, quem escreveu que “o grande teste para os socialistas americanos seria a questão negra”. Marcus Garvey, nascido na Jamaica, fundou nos EUA a UNIA (Associação Universal para a Superação do Negro), que abriu mais de mil filiais em quarenta países; contra a NAACP (National Association for the Advance of Colored People) Garvey buscava aprofundar as distâncias entre trabalhadores brancos e negros, e unificar trabalhadores e capitalistas negros no mesmo movimento econômico e político. Marcus Garvey chegou a se apresentar como o verdadeiro criador do fascismo. O movimento negro se expandiu simultaneamente na África, na Europa e nas Américas. Um hibridismo cultural, que impactou a cultura mundial, se desenvolveu a partir da diáspora mundial africana, que preservou suas raízes e as adaptou ao meio em que populações de origem africana tinham sido forçadas a se deslocar.
O motivo era bem claro: o racismo “científico” foi uma componente da corrida colonial das potências, de modo perfeitamente explícito: “Era uma doutrina com múltiplos aspectos, sedutores pela sua modernidade prospectiva civil, que a distinguia da longa e brutal conquista da Argélia ou das impopulares expedições longínquas do Segundo Império. Ela repousava sobre a total ignorância das estruturas sócias e mentais dos indígenas, imaginados prontos a colaborar, e sobre a convicção ingênua de que a única civilização era a ocidental; as ‘raças inferiores’ só poderiam aspirar a elevar-se até ela para usufruir de seus benefícios. Isto supunha que na França industriais e banqueiros estavam dispostos a fornecer para isso os meios necessários”.[xii] No Reino Unido, Rudyard Kipling celebrizou e popularizou na ideia do “fardo do homem branco”, com sua suposta “obrigação moral” de levar a civilização para os povos atrasados e “incivilizados”. A expedição de Robert Livingston em busca das nascentes do Nilo ganhou ares de epopeia civilizadora.
A chamada “ciência das raças” encontrava-se em voga na Europa e, nos estudos sobre os povos da África Central, prevalecia a hipótese hamítica, proposta pelo explorador inglês John Hanning Speke, em 1863. Segundo essa “ciência”, a civilização teria sido introduzida na África por um povo caucasóide branco de origem etíope, descendente do Rei Davi e, portanto, superior aos negros nativos. Para Speke, essa “raça” seria de cristãos perdidos… Assim, foi em nome de seu “progresso” que “as potências coloniais dividiram à África, rapidamente e sem dor, no decorrer dos últimos vinte anos do século XIX, pelo menos no papel. As coisas, porém, foram totalmente diferentes no próprio terreno africano. A larga difusão das armas na população local, os códigos de honra militares e uma longa tradição de hostilidade a todo controle externo, transformaram a resistência popular africana à conquista europeia muito mais temível que a da Índia. As autoridades coloniais se esforçaram em criar Estados em um continente pouco povoado mas turbulento, dispondo de vantagens técnicas: poder de fogo, transportes mecânicos, competências médicas, escrita. Os Estados assim criados não passavam de esqueletos aos quais as forças políticas africanas davam carne e vida. Cada colônia teve que desenvolver uma produção especializada em direção do mercado mundial, o que determinou uma estrutura econômica que sobreviveu a todo o século XX”.[xiii]
O racismo era explícito, e também publicamente exposto. No Jardim de Aclimatação, em Paris, e depois em outras capitais europeias, foi organizada a exposição de “selvagens” de diversos pontos do planeta, em especial da África. A mania europeia de ver humanos “primitivos” se espalhou. Caçadores especializados em trazer animais selvagens para a Europa e os Estados Unidos foram instruídos para buscar vida humana “exótica”. Assim, houve exposições de esquimós, cingaleses, kalmuks, somalis, etíopes, beduínos, núbios do Alto Nilo, aborígenes australianos, guerreiros Zulu, índios Mapuche, ilhéus Andaman do Pacífico Sul, caçadores de cabeças de Bornéu: os “zoológicos humanos” se espalhavam na Alemanha, na França, Inglaterra, Bélgica, Espanha, Itália e Estados Unidos. Representantes de grupos étnicos exóticos se tornaram destaque das “feiras mundiais”, em exibições propostas como experiências educacionais pelos governos e as empresas que lucravam com elas.
O desenvolvimento econômico africano não foi deformado, mas simplesmente afundado e destruído. O colonialismo africano, porém, foi o rebento tardio e final do imperialismo europeu. A concorrência entre as potências originou conflitos entre elas: desde o início da década de 1880 até ao início do século XX, as relações anglo-francesas nunca foram serenas, tanto em relação à corrida colonial como à situação geopolítica na Europa; suas rotas chegaram quase a colidir ao ponto de deflagrar uma guerra entre os dois países. Tudo se complicou depois da ocupação britânica do Egito em 1882. A partir de 1884, França e Inglaterra empenharam-se numa crescente corrida naval, que do lado britânico estava associada à possível perda da sua linha mediterrânea de comunicações e aos receios de uma invasão francesa pelo Canal da Mancha. Ainda mais persistentes e ameaçadores eram os frequentes choques coloniais, em relação ao Congo em 1884-1885 e em relação à África Ocidental durante as décadas de 1880 e 1890.
Em 1893, os dois países pareciam estar à beira da guerra pelo Sião (Tailândia). A crise mais grave ocorreu em 1898, quando a rivalidade de dezesseis anos sobre o controle do vale do Nilo chegou ao auge no confronto entre o exército de inglês de Kitchener e a pequena expedição francesa de Marchand, em Fashoda. No mesmo ano, a resistência nativa africana no Golfo da Guiné chegava ao seu fim com a derrota do almamy Samori, que levantara “um formidável tata, a que deu o nome de Boribana (acabou a fuga). Os franceses aplicaram um novo método para exterminar esse inimigo irredutível; daí por diante, na estação das chuvas, nada de pausas que permitissem ao almamy refazer suas forças. Além disso, para o reduzir à fome aplicou-se à sua volta o método da terra queimada… Certos sofas começaram a desertar. Mas a maior parte deles rodearam-no com fidelidade, mais do que nunca”.[xiv] Samori foi capturado em setembro de 1898: condenado e encerrado em uma prisão longínqua, morreu dois anos depois.
No extremo Sul da África, na região do Cabo, o interesse inglês era pela posição estratégica que permitia as comunicações oceânicas com a Índia. O imperialismo britânico estimulou os ingleses de Transvaal a exigir direitos políticos especiais. O avanço inglês no Sul da África concluiu com dois confrontos armados na África do Sul, que opuseram os colonos de origem holandesa e francesa, os bôers, ao exército britânico, que pretendia se apoderar das minas de diamante e ouro recentemente encontradas no território. Os bôers estavam sob o domínio britânico, com a promessa de futuro autogoverno.[xv] Esta situação degenerou numa dura luta entre as duas partes no período compreendido entre 1877 e 1881, em que as tropas inglesas foram batidas pelas do presidente bôer Paulus Kruger. A primeira “Guerra dos Bôers” foi travada entre 1880 e 1881: a vitória dos colonos garantiu a independência da república bôer do Transvaal. Foi negociada a Convenção de Pretória, revista em 1884, que reconheceu a autonomia ao Transvaal, conservando os ingleses direitos em matéria de política externa. A trégua não durou muito. A descoberta de minas de diamantes e de ouro levou o Reino Unido a mudar de estratégia, devido aos novos interesses econômicos da região. Os ingleses renunciaram à política de celebrar tratados com os indígenas e procederam à anexação de novos territórios. Esta atitude veio ao encontro das ideias de Rhodes, que mais tarde desempenhou o cargo de primeiro-ministro do Cabo. A belicosidade dos bôers aumentava.
Em 1895, da costa atlântica até a costa oriental, toda a África austral encontrava-se controlada pela Inglaterra, à exceção das duas repúblicas bôers: a República da África do Sul (Transvaal), surgida em 1853, e a República do Estado Livre de Orange, reconhecida pelo Reino Unido em 1852. Depois do reconhecimento da independência bôer, a situação no território tinha ficado comprometida. A crise econômica agravou-se pela divisão do país em duas unidades políticas opostas (repúblicas bôers e colônias inglesas). Os problemas multiplicaram-se com a chegada de trabalhadores indianos e chineses, imigrantes recrutados para as minas do Transvaal. Nos anos que se seguiram, teve lugar um longo duelo político entre o líder bôer Paulus Kruger e o colonialista britânico Rhodes, com fortes ameaças recíprocas. O que esteve na origem da “segunda guerra dos bôers” foi o ultimato dado aos ingleses por Kruger, exigindo a dispersão das tropas britânicas que se encontravam ao longo das fronteiras das repúblicas bôers. Assim, a era das guerras do século XX teve início na África. Em outubro de 1899, o aumento da pressão militar e política britânica incitou o presidente do Transvaal, Paulus Kruger, a dar um ultimato exigindo garantia da independência da república e cessação da crescente presença militar britânica nas colônias do Cabo e de Natal.
O ultimato não foi tido em conta pelos ingleses, e o Transvaal declarou guerra ao Reino Unido, tendo por aliado a República de Orange, dando início à guerra. O conflito teve início a 12 de outubro de 1899 e terminou a 31 de maio de 1902, com a deposição do presidente do Transvaal. Os britânicos tinham mobilizado quase 500 mil soldados brancos de todo o império, auxiliados por cerca de 100 mil trabalhadores não brancos. 45 mil pessoas perderam a vida na África do Sul em consequência da guerra, e mais de 100 mil mulheres e crianças foram internadas em “campos de concentração” britânicos em condições deploráveis. 20% dos internados morreram, de modo por vezes horroroso. Lorde Kitchener, o comandante militar inglês, além disso, incendiou indiscriminadamente fazendas de africanos e de bôers. A política de terra arrasada das autoridades coloniais chegou a provocar protestos de rua na própria metrópole britânica. Nos termos do Tratado de Paz, as duas repúblicas bôers regressaram à sua condição de colônias britânicas. O rei Eduardo VII foi reconhecido como seu soberano legítimo. Estava deste modo selada a unificação política (colonial) da África do Sul: a vitória militar inglesa levou à criação da União Sul-Africana através da anexação das repúblicas bôers do Transvaal e do Estado Livre de Orange às colônias britânicas do Cabo e de Natal.
A guerra de 1899-1902 foi a expressão da crise da “corrida colonial”, do fato que esta tinha atingido os limites de seu desenvolvimento “pacífico” (entre as potências, e entre estas e os colonos). No que diz respeito às populações nativas, essa corrida nunca foi “pacífica”: a devastação da população do mundo colonial combinou a violência direta com a indireta – a dizimação populacional como resultado da depreciação espetacular das condições de vida -, o que levou Mike Davis a se perguntar pela razão pela qual, no século em que a fome desapareceu para sempre da Europa ocidental, ela “aumentou de forma tão devastadora em grande parte do mundo colonial? Do mesmo modo, como pesarmos as presunçosas afirmações sobre os benefícios vitais do transporte a vapor e dos modernos mercados de grãos, quando tantos milhões, sobretudo na Índia britânica, morreram ao lado dos trilhos das ferrovias ou nos degraus dos depósitos de grãos? E como explicarmos, no caso da China, o drástico declínio na capacidade do Estado de proporcionar assistência social popular, em especial no socorro à fome, que pareceu seguir a passo travado a forçada abertura do império para a modernidade pela Grã-Bretanha e as outras potências… Não estamos tratando de terras de fome paradas nas águas estagnadas da história mundial, mas do destino da humanidade tropical no exato momento (1870-1914) em que sua mão de obra e seus produtos eram dinamicamente recrutados para uma economia mundial centralizada em Londres. Milhões morreram, não fora do sistema mundial moderno, mas exatamente no processo de violenta incorporação nas estruturas econômicas e políticas desse sistema. Morreram na idade de ouro do capitalismo liberal; na verdade, muitos foram assassinados pela aplicação teológica dos princípios sagrados de Smith, Bentham e Mill”.
Como vimos, a conquista colonial teve em considerações de “superioridade civilizacional” seu principal alicerce ideológico, e produziu vítimas em dimensões só comparáveis com a dizimação das populações ameríndias nos séculos XVI e XVII: “Cada seca global foi o sinal verde para uma corrida imperialista pela terra. Se a seca sul-africana de 1877, por exemplo, foi a oportunidade de Carnarvon para atacar a independência zulu, a fome etíope de 1889-91 foi o aval de Crispi para construir um novo Império Romano no Chifre da África. Também a Alemanha guilhermina explorou as inundações e a seca que devastaram Shandong no final da década de 1890 para expandir agressivamente sua esfera de influência no norte da China, enquanto os Estados Unidos, ao mesmo tempo, usaram a fome e a doença causadas pela seca como armas para esmagar a República das Filipinas de Aguinaldo. Mas as populações agrícolas de Ásia, África e América do Sul não entraram tranquilamente na nova Ordem Imperial. As fomes são guerras pelo direito de existência. Embora a resistência à fome na década de 1870 (à parte o sul da África) fosse esmagadoramente local e turbulenta, com poucos casos de organização insurrecional mais ambiciosa, sem a menor dúvida teve muito a ver com as recentes lembranças do terror de estado da repressão do Motim Indiano e da Revolução de Taiping. A década de 1890 foi uma história inteiramente diferente, e os historiadores modernos têm estabelecido com muita clareza a contribuição da seca/fome na Rebelião dos Boxers, no movimento coreano de Tonghak, na sublevação do Extremismo Indiano e na Guerra de Canudos brasileira, além de inúmeras revoltas no leste e no sul da África. Os movimentos milenaristas que varreram o futuro ‘Terceiro Mundo’ em fins do século XIX extraíram grande parte de sua ferocidade escatológica da agudeza dessas crises de subsistência e ambientais”.[xvi]
Desprovida de qualquer veleidade “pacifista”, a corrida colonial continuou no século XX. Em 1912, os franceses obrigaram o sultão de Marrocos a assinar o Tratado de Fez, tornando-o outro protetorado africano das potências europeias. As colônias e posses francesas compreendiam Argélia, Tunísia, a África Ocidental Francesa, a África Equatorial Francesa, a Costa dos Somalis e Madagascar. Na véspera da Primeira Guerra Mundial, a recolonização do continente africano era quase completa. Por volta de 1914, a Bélgica, a França, a Alemanha, a Grã-Bretanha, a Itália, a Espanha e a Turquia tinham dividido entre si a quase totalidade do território africano. No início da Primeira Guerra Mundial, 90% das terras africanas estavam sob domínio da Europa. O imperialismo capitalista demorou em ser visto a partir do ângulo de suas vítimas, os povos coloniais, em especial na África. Os números da colonização não expressam cabalmente sua realidade humana. A partilha da África teve características inéditas na era do capital monopolista, quando serviu aos objetivos da expansão econômica dos monopólios industriais e financeiros antes que à expansão política dos Estados colonialistas, embora a incluísse como seu instrumento.
Qual foi a atitude dos socialistas a respeito? Em 1902, no mesmo ano da publicação do ensaio inicialmente citado de Hobson, durante a guerra que opôs a Grã-Bretanha aos colonos holandeses na África do Sul, foi publicado um manifesto da corrente trabalhista inglesa conhecida como “fabiana” (denominação derivada de Fabian Society) que afirmava que o conflito era uma questão “que o socialismo não poderia resolver, e que não lhe dizia respeito”. A guerra, calculada para não se estender além do Natal de 1899, foi, ao contrário dessas expectativas, a mais longa (quase três anos de duração, concluindo em 1902), mais custosa (mais de 200 milhões de libras esterlinas) e mortífera (22 mil soldados britânicos, 25 mil “bôers” – colonos holandeses – e 12 mil nativos africanos) e “mais humilhante” guerra que Inglaterra combateu entre 1815 e 1914, o “século britânico”.[xvii] Ela marcou com sangue e horror uma mudança de época: o nascimento no decorrer dela da nobre instituição do “campo de concentração” (expressão cunhada pelas forças inglesas), onde morreram 32 mil pessoas, incluídos velhos, mulheres e crianças, simbolizou isso. Durante a guerra, George Bernard Shaw, socialista fabiano de destaque, publicou uma brochura, Fabianism and the Empire, na qual justificava o imperialismo inglês, apoiando-se no argumento de que as nações “adiantadas” tinham o direito e o dever de conquistar e submeter os povos atrasados em nome do progresso destes. Na literatura inglesa, como vimos, Rudyard Kipling lhe fazia eco, ao mesmo tempo em que, publicado no mesmo ano de 1902, o romance O Coração das Trevas, de Joseph Conrad,[xviii] mergulhava no abismo humano de colonizadores e colonizados, em um romance que virou um cânone da literatura ocidental.
“Em casa” (nas metrópoles imperialistas), o socialismo virava uma técnica de reformas legislativas no marco do capitalismo: qual era a relação entre ambos os fenômenos, se é que existia alguma? Os marxistas revolucionários tentaram estabelecer uma relação direta, de causa e efeito. Para “fabianos” e revisionistas bernsteinianos, a tarefa dos socialistas não consistia em derrubar a sociedade burguesa, mas em acelerar, com reformas graduais, sua marcha para o “coletivismo”. Eles opinavam que Marx havia errado em quase todos seus prognósticos. Rejeitavam a tese de que o capitalismo desaguaria de forma necessária em uma série de guerras e de crises econômicas catastróficas. Embora a Sociedade Fabiana não fosse numerosa, conseguiu influenciar um setor cada vez mais importante do Partido Trabalhista inglês. Em 1906, o secretário do partido, Ramsay MacDonald,[xix] expôs os princípios do Labour Party em termos que refletiam a influência dos fabianos: o partido deveria opor-se a qualquer tentativa de apresentá-lo como um movimento só dos trabalhadores, dado que os princípios nos quais se baseava não eram resultado “de um processo de raciocínios econômicos ou de experiências da classe trabalhadora”. Isto se parecia bastante mais com o “substitucionismo” da classe operária pelos intelectuais atribuído ao “leninismo” (ou ao bolchevismo) pelos seus adversários, do que as formulações do próprio Lênin, que se referiam, nas suas versões mais polêmicas ou enfáticas, ao papel dos intelectuais no partido operário, não à natureza de classe deste.
Resumindo a evolução política do socialismo, Lênin relatou, em Duas Épocas na Vida da II Internacional, que “os trabalhos que conduziram à constituição da Segunda Internacional tiveram lugar entre 1885 e 1890. O renascimento da organização internacional de trabalhadores depois da ruína da Primeira Internacional se produziu na linha de demarcação de duas épocas. Porque os anos de 1880-1890 foram um período de crise e de transformação em numerosos aspectos; foi nesses anos quando se abriu a era do imperialismo moderno, que atingiu seu apogeu no decorrer dos dez primeiros anos do século XX.
A história da Segunda Internacional pode também ser dividida em dois períodos. O primeiro vai do Congresso de Paris (1889) ao de Amsterdã (1904). O segundo período se estende entre (os congressos de) Stuttgart e Basileia. É o sentido da ação da Segunda Internacional no primeiro período de seu desenvolvimento. Contra o imperialismo foi a principal consigna da Internacional em seu segundo período”.[xx] Lênin resgatava elementos do desenvolvimento da Internacional para alicerçar a continuidade do movimento operário; só depois avançou uma hipótese para explicar porque, longe de desaparecer, como havia previsto inicialmente Engels, a “aristocracia operária” metropolitana (fenômeno para o qual Marx e Engels já tinham chamado a atenção), ela estendia-se com o desenvolvimento do capital monopolista, embora Lênin rejeitasse, até 1914, a hipótese de uma degeneração política da Internacional Socialista com essa base social e devido a esse motivo.
A expansão imperialista resultara da evolução e das contradições intrínsecas do capitalismo metropolitano? Não era esse o ponto de vista do principal ideólogo da Internacional, Karl Kautsky, quem argumentava que “o imperialismo não era produto de uma necessidade econômica inerente do capitalismo em certo estágio de seu desenvolvimento, mas uma política contingente (portanto, reversível) adotada pela burguesia em um contexto caracterizado por rivalidades coloniais”.[xxi] Qual era esse contexto? A expansão econômica e colonial do século XIX viu surgirem, ao lado da Grã-Bretanha, novos concorrentes na partilha do mundo. Estados Unidos e Alemanha foram os mais significativos. Mas também a França (já possuidora de um importante império colonial) e, em menor medida, a Rússia e o Japão. Nessa concorrência pelo mercado mundial e pelas posses coloniais se preparavam as grandes linhas dos conflitos militares mundiais do século XX.
O “novo capitalismo” metropolitano se baseava em sociedades por ações, forma muito mais plástica do capital do que aquela baseada na propriedade individual, familiar ou limitadamente societária; ela permitiu que a circulação de capitais atingisse níveis muito superiores, com a exportação de capitais para financiar empreendimentos e o débito público da periferia do mundo capitalista. O fenômeno já tinha sido antecipado pelos “pais fundadores” do socialismo moderno. Segundo Engels “a Bolsa modifica a distribuição no sentido da centralização, acelera enormemente a concentração de capitais e, nesse sentido, é tão revolucionária quanto a máquina a vapor”. O companheiro de Marx sublinhou a necessidade de “identificar na conquista colonial o interesse da especulação na Bolsa”; para Engels, a configuração das sociedades anônimas baseadas nas ações, como nova forma dominante do capital, antecipava negativamente a socialização futura dos meios de produção; a nova expansão do capital, simultaneamente, tinha relação com a expansão dos interesses financeiros.
Engels, no prólogo à primeira edição dos volumes II e III de O Capital, procurou situar esses fenômenos no contexto do desenvolvimento geral do capitalismo: “A colonização é hoje uma efetiva filial da Bolsa, no interesse da qual as potencias europeias partilharam a África, entregue diretamente como botim às suas companhias”. Ainda não estávamos, porém, diante da caracterização de uma nova era histórica do desenvolvimento capitalista: “Discípulos mais recentes de Marx, incluindo Lênin, Rosa Luxemburgo e Karl Kautsky, viriam a colocar o imperialismo no centro de suas análises sobre o capitalismo; porém, o próprio Marx, a exemplo do que ocorrera com seus escritos sobre o imperialismo nos anos 1850, não distinguia essa conexão”.[xxii] Ao mesmo tempo, Marx e Engels assumiram claras posições anti-imperialistas e anticolonialistas em relação, especialmente, à China e à Índia, mas analisavam os episódios sangrentos da partilha da Ásia e da África entre as metrópoles como aspectos das disputas geopolíticas entre as potências europeias. Nunca realizaram qualquer apologia da expansão colonial dessas potências; situaram-na no marco da expansão mundial das relações de produção capitalistas.
As teorias acerca do “novo imperialismo” da era capitalista se originaram e inseriram no quadro de um debate com a participação de autores marxistas e não marxistas e também da discussão no interior do movimento operário e socialista, tendo como eixos interpretativos o papel decisivo do monopólio, o surgimento do capital financeiro, como produto da fusão do capital bancário e industrial, e sua hegemonia sobre as outras formas do capital,[xxiii] o predomínio crescente da exportação do capital sobre a exportação de mercadorias, a divisão do mercado mundial entre monopólios capitalistas competidores e a conclusão da divisão territorial do mundo pelas grandes potências. O debate afunilou na busca de uma interpretação global, que vinculasse a depressão econômica mundial (1873-1895), a expansão colonial, a exportação de capital, as disputas geopolíticas, o nacionalismo xenófobo, o racismo, e, finalmente, a guerra mundial. As diversas teorias acerca do imperialismo foram a pedra de toque de estratégias políticas diferenciadas e contrapostas.
Hobson escrevia, em finais do século XIX: “Nação atrás de nação entra na máquina econômica e adota métodos avançados industriais e, com isso, se torna mais e mais difícil para seus produtores e mercadores venderem com lucro seus produtos. Aumenta a tentação de que pressionem seus governos para lhes conseguir a dominação de algum Estado subdesenvolvido distante. Em toda parte, há excesso de produção, excesso de capital à procura de investimento lucrativo. Todos os homens de negócios reconhecem que a produtividade em seus países excede a capacidade de absorção do consumidor nacional, assim como há capital sobrando que precisa encontrar investimento remunerativo além-fronteiras. São essas condições econômicas que geram o imperialismo”.[xxiv] As bases econômicas do imperialismo residiam, para ele, no “excesso de capital em busca de investimento” e nos “recorrentes estrangulamentos do mercado”. O imperialismo europeu transformara a Europa em uma área dominada por “um pequeno grupo de aristocratas ricos, que tiram suas rendas e dividendos do Extremo Oriente, junto com um grupo um pouco mais numeroso de funcionários e comerciantes, e um grupo maior ainda de criados, trabalhadores de transportes e operários das indústrias manufatureiras. Desaparecem então os mais importantes ramos industriais, e os alimentos e semielaborados chegam como tributo da Ásia e África”. Ele considerava que a perspectiva de uma federação europeia “não apenas não faria avançar a obra da civilização mundial, como apresentaria o gravíssimo risco de um parasitismo ocidental, sob o controle de uma nova aristocracia financeira”.
Hobson também se referiu ao novo imperialismo japonês, cuja irrupção tinha abalado o mundo nos conflitos de finais do século XIX com a China, e se manifestaria de modo vitorioso na guerra russo-japonesa (1904). Em inícios do século XX já era clara a percepção de que o crescimento da potência imperialista do Japão iria incidir profundamente no curso da história: “Este novo capítulo da história mundial muito depende da capacidade japonesa de manter sua própria independência financeira”. Superada uma primeira fase de dependência, “a grande potência industrial do Extremo Oriente pode rapidamente lançar-se sobre o mercado mundial como o maior e mais válido competidor na grande indústria mecânica, conquistando primeiro o mercado asiático e pacífico e logo invadindo os mercados ocidentais – empurrando assim estas nações a um protecionismo mais rígido, como corolário de uma proteção diminuída”. A Rússia czarista, provavelmente bem menos informada do que Hobson, iria sofrer as consequências do novo papel de protagonista internacional do Japão.
O monopólio, produto da fusão de empresas, ou da aquisição das empresas pequenas pelas maiores, contribuíra para colocar na mão de poucos empresários uma enorme quantidade de riquezas, criando uma poupança automática. O investimento dessa poupança em outras indústrias contribuiu para sua concentração sob o controle das primeiras empresas fusionadas. Paralelamente, o desenvolvimento da sociedade industrial elevava a demanda da população, com novas necessidades sociais. O problema surgia quando o aumento do consumo nacional era proporcionalmente menor que o aumento do índice de poupança, resultando numa capacidade de produção superior ao consumo. A solução seria a redução contínua dos preços até que as empresas menores quebrassem, privilegiando as empresas de melhor instalação, provocando mais acumulação de capital, aumento do nível de riqueza e, consequentemente, maior poupança. Isso induziria os capitalistas a buscarem outros investimentos, para dar destino à poupança gerada, já que o mercado não podia absorver tal excesso, restando ao capitalista exportar mercadorias para onde não houvesse concorrência, ou investir capital em áreas mais lucrativas.
“Pode parecer que o amplo predomínio da concentração do capital nos pools, trustes e várias associações, cuja existência se comprovou nas diversas áreas da indústria, seja contraditório com o grande volume de provas quanto à sobrevivência de pequenas empresas. A incoerência é, contudo, apenas aparente. Em toda a área da indústria, nem o número agregado de pequenas empresas, nem o percentual de operários nelas empregados estão em declínio; mas a independência econômica de muitos tipos de pequena empresa é violada pelo capitalismo organizado, que se implanta nos pontos estratégicos de quase todo fluxo produtivo, a fim de impor tributos sobre o tráfego em direção ao consumidor”. Esse “capitalismo organizado” (conceito retomado pelo marxista Rudolf Hilferding, na sua análise do capital financeiro), por sua vez, era dominado por uma fração específica, pequena e concentrada a classe capitalista: “A estrutura do capitalismo moderno tende a lançar um poder cada vez maior nas mãos dos homens que manejam o mecanismo monetário das comunidades industriais, a classe dos financistas”.[xxv]
Para Hobson, a partir de David Ricardo e John Stuart Mill a economia política centrara indevidamente suas atenções na produção e acumulação de riquezas, negligenciando o consumo e a utilização das riquezas já acumuladas. Hobson rechaçava como indesejável a essência econômica do imperialismo; via como a sua força motora o patriotismo, a aventura, o espírito militar, a ambição política; mas não concebia o imperialismo como um negócio rentável para nenhuma nação, a não ser para os grupos financeiros, especuladores de bolsas de valores e investidores, que chamou de “parasitas econômicos do imperialismo”, por colocarem no exterior o excedente ocioso de capital que não podiam investir mais lucrativamente em seu país, obtendo com isso inúmeras vantagens. Para combater isso, Hobson propunha uma reforma social, com elevação dos salários e aumento dos impostos e gastos públicos.
Ele considerava o “fenômeno imperialista” como um desajuste temporal e uma doença curável do capitalismo da época, associando a expansão colonial e o desenvolvimento capitalista das metrópoles ao excesso de poupança e ao subconsumo, em conjunto com os aspectos políticos, ideológicos e morais da época. Para Hobson, as anexações novas da Grã-Bretanha tinham sido de alto custo e só capazes de proporcionar mercados “pobres e inseguros”. Também classificava como imperialismo a submissão das colônias ao poder absoluto das metrópoles. Funcionários, mercadores e industriais exerciam seu poder econômico sobre “as raças inferiores”, consideradas incapazes de autogoverno. A única vantagem real do imperialismo, segundo Hobson, era o escoamento da sobre-população industrial da Inglaterra; o movimento migratório para as colônias havia poupado à grande potência de sofrer “uma revolução social”. Nesse último ponto, não havia diferenças entre o liberal Hobson e o negociante imperialista Cecil Rhodes.
Hobson explicou as “contradições do imperialismo” a partir das “recorrentes crises do capitalismo, quando a superprodução se manifesta nas principais indústrias”. Hobson não escondeu que o novo imperialismo capitalista, apesar de ser um “mau negócio para a nação”, era um bom negócio para certas classes, cujos “bem organizados interesses de negócios são capazes de sufocar o débil e difuso interesse da comunidade” e de “usar os recursos nacionais para seus lucros privados”. Por outro lado, assinalava que “os termos credor e devedor, aplicados aos países, mascaram a principal característica deste imperialismo. Já que, se as dívidas são ‘públicas’, o crédito é quase sempre privado”. Dentro da classe dos capitalistas tendia a predominar a figura do rentier desvinculado da produção;[xxvi] o capital financeiro passava a comportar-se como um prestamista e, finalmente, como um agiota internacional, criando um sistema internacional de dívidas cada vez maior.
Por trás dessas classes agia, segundo obson,Hobson,Hobson, o grande “capital cosmopolita”, em primeiro lugar a indústria pesada, direta e indiretamente interessada nos gastos de armamento: “O imperialismo agressivo, que custa caro ao contribuinte, é fonte de grandes lucros para o investidor que não encontra no interior um emprego lucrativo para o seu capital”. O desenvolvimento armamentista tinha, para ele, razões econômicas e consequências políticas. Levava a que “malvados demagogos políticos controlem a imprensa, as escolas e se necessário as igrejas, para impor o capitalismo às massas”. Para Hobson, “a essência do imperialismo consiste no desenvolvimento dos mercados para o investimento e não para o comércio”,não em “missões de civilização” (no estilo ideológico europeu) ou “manifestações de destino” (no estilo norte-americano).
O novo imperialismo era filho da exportação maciça de capitais, consequência da “grande depressão” econômica, o que recolocou, junto com o problema do imperialismo, a questão do estatuto teórico da crise na teoria econômica. A Índia, segundo calculou Hobson em finais do século XIX, fora o destino de 20% dos investimentos externos britânicos em todo o mundo. A expansão do investimento fez com que, no último quartel do século XIX, a frente internacional das guerras coloniais inglesas se estendesse no Hindustão, o que era condenável e prejudicial para a própria Inglaterra, na visão do autor que, como vimos, propôs dar um fim político a esse fenômeno.
Do ponto de vista da teoria das crises, Mikhail J. Tugan Baranowsky, “marxista legal” russo (corrente que se diferenciava dos “marxistas ilegais”, os socialdemocratas), sustentou o que segue: 1) O sistema capitalista não enfrentava problemas de realização e que, portanto, podia reproduzir-se de maneira ampliada de modo indefinido; 2) Posto que não existiam problemas de realização, as crises e os desequilíbrios deviam ser interpretados como simples “desproporções” no investimento; 3) Se o sistema se desenvolvesse, deviam ser consideradas falsas as outras teorias da crise que Tugan acreditava reconhecer na obra de Marx, a saber, a teoria da baixa tendencial da taxa de lucro e a teoria do subconsumo.[xxvii] Embora muito criticado, Tugan Baranowsky teve uma influência decisiva em toda uma geração de marxistas, que deduziram o equilíbrio tendencial do capitalismo da modificação dos esquemas de reprodução ampliada de Marx.
Em artigos de Die Neue Zeit de 1901-1902, Karl Kautsky atacou as teorias de Tugan-Baranowsky e assemelhadas, sem atacar, porém, a “teoria da desproporcionalidade” como causa fundamental das crises, assinalando que toda produção tem por objetivo final a produção de bens de consumo. O equilíbrio, em si, careceria de significado prático, pois “os capitalistas, e os trabalhadores que eles exploram, proporcionam, com o crescimento da riqueza dos primeiros e do número dos segundos, o que constitui certamente um mercado para os meios de consumo produzidos pela indústria capitalista; o mercado cresce, porém, menos rapidamente do que a acumulação de capital e o aumento da produtividade do trabalho. A indústria capitalista deve, portanto, procurar um mercado adicional fora de seu domínio nas nações não capitalistas e nas camadas da população em situação idêntica. Encontra tal mercado e se expande cada vez mais, porém não com a necessária velocidade… Dessa forma, cada período de prosperidade, que se segue a uma significativa ampliação do mercado, está destinado a uma vida breve, e a crise se torna seu fim necessário”.
Chegaria, então, uma época em que “a superprodução será crônica para todas as nações industriais. Mesmo então, os altos e baixos da vida econômica são possíveis e prováveis; uma série de revoluções técnicas, que desvalorizam a massa dos meios de produção existentes exigem a criação em larga escala de novos meios de produção, a descoberta de novos campos auríferos ricos, etc., podem mesmo então, durante certo tempo, estimular o ritmo dos negócios. Mas a produção capitalista exige uma expansão ininterrupta, rápida, para que o desemprego e a pobreza dos operários, de um lado, e a insegurança do pequeno capitalista, de outro, não atinjam a uma tensão extrema. A existência continuada da produção capitalista perdura mesmo nesse estado de depressão crônica, mas se torna completamente intolerável para a massa da população; esta é forçada a procurar uma saída da miséria geral, e só pode encontrá-la no socialismo”.[xxviii] Esboçada a teoria de uma “depressão crônica” como futuro do capital, Kautsky não foi muito além: “Kautsky foi pouco além da repetição dos conceitos de Marx sobre a dependência geral em que a produção está do mercado para os bens de consumo”.[xxix]
E a exportação de capitais? Para Karl Kautsky, o imperialismo consistia, basicamente, na colonização dos países agrários pelos países industriais, produto inexorável do avanço mundial do capitalismo. Os capitalistas metropolitanos se opunham, segundo Kautsky, à industrialização das regiões colonizadas ou economicamente atrasadas: “Pretendem mantê-las como regiões agrárias através de uma legislação desfavorável, que impeça sua industrialização”, que as transformaria em competidoras das velhas metrópoles. “O imperialismo substituiu o livre-comércio como meio da expansão capitalista … Será o imperialismo o único meio de manutenção da necessária relação entre indústria e agricultura dentro dos limites do sistema capitalista?”, se perguntava o “papa do socialismo”. E respondia: “O esforço para conquistar regiões agrárias, para submeter suas populações à escravidão, é tão inevitável à sobrevivência do capitalismo que impede que qualquer grupo capitalista se lhe oponha seriamente”.
Vejamos o desenvolvimento da questão na Internacional Socialista. No Congresso de Stuttgart da Internacional, celebrado em 1907, o debate sobre a questão colonial foi revelador. Um setor da socialdemocracia alemã (encabeçado por Vollmar e David) não vacilou em autodesignar-se como “social-imperialista”. O pensamento dessa corrente se refletiu na intervenção do dirigente holandês Van Kol, quem afirmou que o anticolonialismo dos congressos socialistas precedentes não havia servido para nada, que os socialdemocratas deveriam reconhecer a existência indiscutível dos impérios coloniais e apresentar propostas concretas para melhorar o tratamento aos indígenas, o desenvolvimento dos seus recursos naturais, e o aproveitamento desses recursos em benefício de toda a raça humana. Perguntou aos opositores ao colonialismo se seus países estavam realmente preparados para prescindir dos recursos das colônias. Lembrou que Bebel (um dos fundadores da socialdemocracia alemã) havia dito que nada era “mau” no desenvolvimento colonial como tal, e se referiu aos sucessos dos socialistas holandeses ao conseguirem melhoras nas condições dos indígenas das colônias de sua metrópole.[xxx]
A comissão do Congresso encarregada da questão colonial apresentou a seguinte posição: “O Congresso não rechaça por princípio em toda ocasião uma política colonial, que sob um regime socialista possa oferecer uma influência civilizadora”. Lênin qualificou de “monstruosa” a posição e, junto com Rosa Luxemburgo e Martov, apresentou uma moção anticolonialista, que seria vencedora. A hora da verdade também se apresentou para o único partido latino-americano presente no Congresso de Stuttgart, o Partido Socialista Argentino. O delegado do partido, Manuel Ugarte, votou a favor da moção anticolonialista e anti-imperialista; poucos anos depois foi expulso do partido, sob a acusação de nacionalismo.[xxxi] O principal dirigente do PSA, Juan B. Justo qualificou, mais adiante, de “idiotices” as teorias de Lênin acerca do imperialismo. O comentário que a resolução anticolonialista mereceu da sua parte foi: “As declarações socialistas internacionais sobre as colônias, salvo algumas frases sobre a sorte dos nativos, se limitaram a negações insinceras e estéreis. Não mencionaram sequer a liberdade de comércio, que teria sido a melhor garantia para os nativos, e reduzido a questão colonial ao que devia ser”.[xxxii]
O resultado da votação acerca do colonialismo na Internacional foi uma amostra da divisão existente: a posição colonialista foi rejeitada por 128 votos contra 108: “Neste caso marcou-se a presença de um traço negativo do movimento operário europeu, que pode ocasionar não poucos danos à causa do proletariado. A vasta política colonial levou, em parte, ao proletariado europeu a uma situação pela qual não é seu trabalho o que mantém toda a sociedade, mas o trabalho dos indígenas quase totalmente subjugados das colônias. A burguesia inglesa, por exemplo, obtém mais ingressos da exploração de centenas de milhões de habitantes da Índia e de outras colônias, do que dos operários ingleses. Tais condições criam em certos países uma base material, uma base econômica, para contaminar o chauvinismo colonial ao proletariado desses países”.[xxxiii] O colonialismo capitalista era, para Lênin, uma maneira de manter e aumentar os lucros das grandes burguesias metropolitanas e a condição para que se mantivesse ou melhorasse o nível de vida de parcelas privilegiadas do proletariado europeu.
Os autores marxistas, em geral, privilegiaram as relações econômicas e suas consequências internacionais na sua análise do fenômeno dos monopólios. As imbricações entre as razões econômicas e as estratégicas constituíram, desde o início, o núcleo do debate acerca do imperialismo capitalista. Rudolf Hilferding, no seu Capital Financeiro, de 1910, analisou de modo pioneiro a nova figura do capital, resultante da fusão entre o capital bancário e o capital industrial. A era da ilusão liberal do livre entrelaçamento econômico dos indivíduos havia sido substituída pela era das relações entre monopólios. O imperialismo começava a se caracterizar pela produção multinacional. A mistificação capitalista da livre concorrência entre indivíduos independentes cedia seu lugar à produção em larga escala e à concentração e centralização de capitais. A absorção dos indivíduos às leis do modo de produção capitalista poderia (e deveria) agora exprimir-se diretamente como subordinação de uma classe a outra, não mais aparecendo como relação entre indivíduos singulares. A alteração sofrida pelo conceito de Estado acompanhou o fim do capitalismo da livre concorrência. No capitalismo monopolista a ideologia prevalecente passou a ser a que assegurava à própria nação o domínio internacional, “ambição tão ilimitada quanto a própria ambição do capital por conquistar o lucro”.[xxxiv]
No entanto, no que diz respeito à crise evidenciada pela depressão mundial, Hilferding sustentou que, se se produzisse nas proporções corretas, a produção poderia se ampliar infinitamente sem conduzir à sobreprodução de mercadorias. As crises não poderiam ser explicadas pelo consumo escasso. Hilferding atribuiu importância tanto aos movimentos acumulativos como aos efeitos dos desequilíbrios parciais das diferentes trocas de preços, dos momentos de atraso e dos fatores institucionais. Observou, por exemplo, o efeito de aumentos irregulares da oferta, os quais devem ser atribuídos a longos prazos de maturação dos investimentos, e que multiplicam, por sua vez, o perigo de investimentos exagerados quanto mais o desequilíbrio entre oferta e demanda durar. A exportação de capitais parecia ser um paliativo a essa tendência.
Num texto de 1913, o socialista francês Lucien Sanial, radicado nos EUA, caracterizou que a nova “era dos monopólios” tinha definido o lugar hegemônico do capital financeiro; ela precedia a bancarrota geral do capitalismo, embora sem vincular explicitamente esse fenômeno com o imperialismo nem com as tendências antirrevolucionárias derivadas dele. A nova era histórica (sua análise tomava como centro os EUA) era dominada pelo capital financeiro (os bancos) e substituía “a concorrência pela concentração”, na qual “novas máquinas e novos processos de produção criaram nos ramos fundamentais da manufatura condições que não só requerem um capital considerável para sua operação, mas também tornam suicida a concorrência entre poderosas firmas e corporações”; uma análise que lembra a realizada por Karl Kautsky. E completava: “No curso natural do desenvolvimento capitalista o Poder Bancário obteve o comando supremo das atividades da nação. Em tão elevada posição ele perdeu todo senso de responsabilidade econômica, dever público e princípios morais, corrompendo os poderes públicos e tornando-os o instrumento de seu despotismo… Nada pode salvar (à nação) das consequências de seus desmandos. Seu colapso é inevitável… O último dia do Poder Bancário será também o último do Sistema Capitalista e o primeiro da Comunidade Socialista”.[xxxv]
Faltava em Sanial uma “teoria do imperialismo [que] trata da forma fenomênica especial que adota o processo (capitalista) em uma etapa particular do desenvolvimento do modo de produção capitalista”.[xxxvi] Segundo Trotsky, a mudança histórica propiciada por essa “etapa particular” se contrapunha à perspectiva inicialmente traçada por Marx (“O país mais desenvolvido industrialmente – escrevera Marx no prefácio da primeira edição de O Capital – não faz mais do que representar a imagem futura do menos desenvolvido”): “Somente uma minoria de países realizou completamente a evolução sistemática e lógica desde a mão de obra, através da manufatura doméstica até a fábrica, que Marx submeteu à uma análise detalhada. O capital comercial, industrial e financeiro invadiu, desde o exterior, os países atrasados, destruindo em parte as formas primitivas da economia nativa e, em parte, sujeitando-os ao sistema industrial e banqueiro do Oeste. Sob a imensa pressão do imperialismo, as colônias e semicolônias se viram obrigadas a abrir mão das etapas intermediárias, apoiando-se ao mesmo tempo artificialmente em um nível ou em outro. O desenvolvimento da Índia não duplicou o desenvolvimento da Inglaterra; não foi para ela mais que um complemento”.[xxxvii]
A caracterização do império britânico foi objeto de controvérsias. Dois autores contemporâneos, Robinson e Gallagher, enfatizaram a continuidade da política imperial britânica durante todo o século XIX, ressaltando que a estratégia dos estadistas britânicos não se alterou em nenhum momento. Crises na periferia levaram o governo britânico a intervir em defesa dos interesses econômicos e estratégicos da Grã-Bretanha, e essa seria a base do imperialismo britânico. O scramble for Africa, eles argumentaram, foi um resultado da defesa pela Grã-Bretanha de rotas estratégicas no continente frente à crescente rivalidade de outras potências europeias. Segundo esses autores, o “novo imperialismo” britânico teria surgido como resultado da necessidade da Grã-Bretanha de manter os territórios que eram importantes para os seus interesses estratégicos e não, como defendido por Hobson e Lênin, para dar vazão ao excesso de capitais acumulados na metrópole.[xxxviii] O imperialismo inglês teria tido, para Robinson e Gallagher, razões geopolíticas mais do que econômicas.
Uma nova geração de teóricos marxistas enfrentou a questão, ou melhor, as questões do imperialismo e da crise, e a de seus vínculos, na década de 1910. Em 1913, em A Acumulação de Capital, Rosa Luxemburgo postulava que a acumulação de capital, na medida em que saturava os mercados capitalistas, exigia a conquista periódica e constante de espaços de expansão não capitalistas: na medida em que estes se esgotassem, a acumulação capitalista tornar-se-ia impossível. A acumulação de capital, sua reprodução ampliada, seria impossível em um sistema puramente capitalista: “A realização da mais-valia requer, como condição primeira, um estrato de compradores situados fora da sociedade capitalista”, que fosse nas metrópoles (camponeses, pequenos comerciantes e pequenos produtores) ou nas colônias.
Para Rosa, desse modo, o imperialismo era uma necessidade inelutável do capital, de qualquer capital e não necessariamente do capital monopolista ou financeiro, não sendo específico de uma fase diferenciada do desenvolvimento capitalista; era a forma concreta que adotava o capital para poder continuar sua expansão, iniciada nos seus próprios países de origem e levada, por sua própria dinâmica, ao plano internacional, no qual se criavam as bases de seu próprio desmoronamento: “Deste modo o capital prepara duplamente sua derrubada: por um lado, ao estender-se à custa das formas de produção não capitalistas, aproxima-se o momento em que toda a humanidade se comporá efetivamente de operários e capitalistas, situação em que a expansão ulterior e, portanto, a acumulação, se farão impossíveis. Por outro lado, na medida em que avança, exaspera os antagonismos de classe e a anarquia econômica e política internacional a tal ponto que provocará uma rebelião do proletariado mundial contra seu domínio muito antes que a evolução econômica tenha chegado até suas últimas consequências: a dominação absoluta e exclusiva do capitalismo no mundo”.[xxxix]
A análise de Rosa Luxemburgo foi objeto de críticas de todo tipo, logo após sua publicação. A principal referia-se ao fato de Rosa manter implicitamente os pressupostos da reprodução simples para analisar a reprodução ampliada. Para um economista tão partidário quanto Rosa da “teoria do colapso” do capitalismo: “Se os partidários da teoria de Rosa Luxemburgo querem reforçar essa teoria mediante a alusão à crescente importância dos mercados coloniais; se eles se remetem ao fato de que a participação colonial no valor global das exportações da Inglaterra representava em 1904 pouco mais de um terço, enquanto que em 1913 esta participação se aproximava de 40%, então a argumentação que sustentam a favor daquela concepção carece de valor, e, mais do que isto, com ela conseguem o contrário do que pretendem obter. Pois estes territórios coloniais têm realmente cada vez mais importância como áreas de colocação, mas só na medida em que se industrializam; ou seja, na medida em que abandonam o seu caráter não capitalista”.[xl] Rosa chegava à conclusão de uma tendência incontornável para a uniformização econômica do mundo capitalista. Ficavam em segundo plano as diferenças nacionais no interior do sistema capitalista mundial; países inteiros foram forçados a se integrar ao capitalismo de maneira dependente e associada, outros se impuseram como dominantes e expropriadores de nações.
O célebre texto de Lênin a respeito do imperialismo foi escrito três anos depois daquele de Rosa Luxemburgo, já em plena guerra mundial, e fortemente condicionado por esta. A definição mais breve do imperialismo era, segundo Lênin, “a fase monopolista do capitalismo”. A relação entre a Bolsa (as companhias capitalistas), a partilha colonial, e o desenvolvimento do capital bancário, foi o eixo da sua interpretação, que associou as noções de capital monopolista, capital financeiro e imperialismo: “Os bancos se transformam e, de modestos intermediários, viram poderosos monopólios, que dispõem da quase totalidade do capital-dinheiro do conjunto dos capitalistas e dos pequenos proprietários, assim como da maior parte dos meios de produção, e das fontes de matérias primas de um dado país, ou de vários países”.[xli] Lênin se opôs a ideia de Kautsky, para quem o imperialismo consistia, basicamente, na colonização dos países agrários pelos países industriais; o imperialismo não era uma política internacional opcional; era o produto da monopolização e contradições do capitalismo nas metrópoles. A concepção diametralmente antitética à de Lênin, desvinculando o fenômeno imperialista das leis capitalistas, foi exposta ulteriormente por Joseph Schumpeter, economista alemão de origem socialista, para quem o imperialismo não era uma componente orgânica ou necessária do capitalismo, mas o fruto de sobrevivências pré-capitalistas situadas em diversas esferas (política, cultural, econômica) que se contrapunham à lógica do capital, sendo capazes de se impor politicamente, gerando assim a política imperialista.[xlii]
Considerar o imperialismo como um fenômeno econômico vinculado à fase monopolista do capital não significava afirmar que não fosse, também, um fenômeno político internacional, vinculado: 1) ao entrelaçamento inédito entre o capital e o Estado; 2) à desigual força dos Estados a escala mundial, que chegava ao seu extremo as relações entre as metrópoles e as colônias. A caracterização do imperialismo como etapa do capitalismo não tinha um caráter conjuntural; marcava um ponto de inflexão histórico em que a livre concorrência capitalista se transformava em seu contrário, o monopólio. A monopolização do ramo bancário possibilitou e acelerou esse processo, mediante uma política de depósitos e créditos que permitiu eliminar os competidores dos monopólios em formação, criando a nova forma dominante do capital: o capital financeiro. Nas palavras de Lênin: “A união pessoal dos bancos e as indústrias completa-se com a união pessoal destes com o governo”, trazendo mudanças decisivas à estrutura do Estado e à vida política e social. Junto com o domínio do capital monopolista mudavam as relações entre o interesse privado e o Estado, suposto representante do interesse público, subordinando o segundo ao primeiro, e transformando qualitativamente sua função.
A “estatização da vida social”, com o Estado absorvendo novas funções disciplinadoras da sociedade, foi estudada por Nikolai Bukhárin em O Imperialismo e a Economia Mundial (obra de 1916 em que usou a imagem do “novo Leviatã” para referir-se ao Estado imperialista), prefaciada por Lênin. O fortalecimento do Estado era ditado pela nova fase do desenvolvimento do capital: “As etapas de repartição pacíficas são sucedidas pelo impasse em que nada resta para distribuir. Os monopólios e seus Estados procedem então a uma repartição pela força. As guerras mundiais inter-imperialistas se transformam em um componente orgânico do imperialismo”.[xliii] O recurso às guerras, regionais ou internacionais, era ditado pela magnitude dos interesses econômicos em jogo. Bukhárin resumiu as características do imperialismo capitalista: “O desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo mundial deu um salto gigantesco nas últimas décadas. No processo de luta pela concorrência, a grande produção saiu vitoriosa em todas as partes, agrupando os magnatas do capital em uma férrea organização que estendeu sua ação à totalidade da vida econômica. Uma oligarquia financeira instalou-se no poder e dirige a produção, que se encontra reunida em um só feixe por meio dos bancos. Este processo de organização partiu de baixo para se consolidar no marco dos Estados modernos, que se converteram nos intérpretes fiéis dos interesses do capital financeiro. Cada uma das economias nacionais desenvolvidas, no sentido capitalista da palavra, transformou-se em uma espécie de truste nacional de Estado”.
As contradições da fase precedente não se anulavam, ao contrário, atingiam seu paroxismo: “O processo de organização das partes economicamente avançadas da economia mundial é acompanhado de um agravamento extremo da concorrência mútua. A superprodução de mercadorias, inerente ao desenvolvimento das grandes empresas, a política de exportação dos cartéis e a redução dos mercados por causa da política colonial e aduaneira das potências capitalistas; a desproporção crescente entre a indústria, de desenvolvimento formidável, e a agricultura, atrasada; enfim, a imensa proporção da exportação de capital e a submissão econômica de países inteiros por consórcios de bancos nacionais, levam o antagonismo entre os interesses dos grupos nacionais do capital até o paroxismo. Estes grupos confiam, como último recurso, na força e potência da organização do Estado e em primeiro lutar da sua frota e de seus exércitos… Uma unidade econômica e nacional, autossuficiente, aumentando sem fim sua força até governar o mundo em um império universal, tal é o ideal sonhado pelo capital financeiro”.[xliv]
Lênin, de modo semelhante, caracterizou o imperialismo pela nova função dos bancos e pela exportação de capitais. Isso gerava a necessidade de uma nova partilha do mundo entre os grupos capitalistas, tendo à testa seus respectivos Estados Nacionais: “O imperialismo, como fase superior do capitalismo na América do Norte e na Europa, e depois na Ásia, formou-se plenamente no período 1898-1914. As guerras hispano-americana (1898), anglo-bôer (1899-1902) e russo-japonesa (1904-1905), e a crise econômica de Europa em 1900, são os principais marcos históricos dessa nova época de história mundial”.[xlv] Lênin definiu a base econômica do imperialismo, e suas consequências históricas: “O imperialismo capitalista foi o resultado do processo de concentração-centralização dos capitais nos países de capitalismo mais avançado, onde o monopólio tendeu a substituir à livre concorrência, assim como a exportação de capitais a exportação de mercadorias, inclusive em direção ao mundo atrasado, mudança que deu lugar ao imperialismo como fase superior do desenvolvimento do capitalismo. Nos países avançados o capital ultrapassou o marco dos Estados Nacionais, substituiu a concorrência pelo monopólio, criando todas as premissas objetivas para a realização do socialismo”.[xlvi]
O que se fechava, para Lênin, era o ciclo histórico do capitalismo de livre concorrência e definitiva passagem para uma nova época marcada por cinco traços fundamentais: 1) a concentração da produção e do capital levada a um grau tão elevado de desenvolvimento que criava os monopólios, os quais desempenhavam um papel decisivo na vida econômica; 2) a fusão do capital bancário com o capital industrial e a criação, baseada nesse “capital financeiro” da oligarquia financeira; 3) a exportação de capitais, diferentemente da exportação de mercadorias, adquiria uma importância particularmente grande; 4) a formação de associações internacionais monopolistas de capitalistas, que partilhavam o mundo entre si, e 5) o termo da partilha territorial do mundo entre as potências capitalistas mais importantes.
Uma nova partilha do mundo levava necessariamente ao confronto bélico, agravando as condições de existência do operariado e das massas pobres do mundo colonial: o imperialismo era uma era de guerras e revoluções. Na medida em que amadureciam as contradições do processo de acumulação nos países capitalistas avançados, os aparelhos, principalmente bélicos, dos Estados passavam a ser usados para garantir a exportação de capital, ou seja, para garantir a receptividade do capital internacional nas regiões menos desenvolvidas e se contrapor aos adversários metropolitanos. O grau de receptividade das regiões subdesenvolvidas estava diretamente relacionado ao tamanho do interesse do capital internacional – e, portanto, das classes dominantes dos países de capitalismo adiantado – pelas regiões cobiçadas. Esses interesses provinham das necessidades de exportações de capital acrescidas da necessidade de insumos e matérias-primas a preços mais baixos.
Bukhárin caracterizou o imperialismo como “a reprodução ampliada da concorrência capitalista” e concluiu que “não é pelo fato de constituir a época do capitalismo financeiro um fenômeno historicamente limitado que se pode, entretanto, concluir que ela tenha surgido como um deus ex machina. Na realidade, ela é a sequência histórica da época do capital industrial, da mesma forma que esta última representa a continuidade da fase comercial capitalista. Esta é a razão pela qual as contradições fundamentais do capitalismo – que, com seu desenvolvimento, se reproduzem em ritmo crescente – encontram, em nossa época, expressão particularmente violenta”.[xlvii] Para Lênin: “A exportação de capital influi sobre o desenvolvimento do capitalismo nos países onde o capital é aplicado, acelerando-o extraordinariamente. Se por esta razão, tal exportação pode ocasionar, até certo ponto, uma determinada estagnação do desenvolvimento dos países exportadores, isto só pode ser produzido à custa da ampliação e do aprofundamento do desenvolvimento do capitalismo no mundo todo”.[xlviii]
O novo imperialismo fazia ingressar o mundo numa nova era, a da transição do capitalismo para o socialismo: “O imperialismo capitalista foi o resultado do processo de concentração e centralização dos capitais nos países de capitalismo mais avançado, onde o monopólio tendeu a substituir à livre concorrência, assim como a exportação de capitais a exportação de mercadorias, inclusive em direção ao mundo atrasado, mudança que deu lugar ao imperialismo como fase superior do desenvolvimento do capitalismo. Nos países avançados o capital ultrapassou o marco dos Estados Nacionais, substituiu a concorrência pelo monopólio, criando todas as premissas objetivas para a realização do socialismo”.[xlix] Isso não anulava as questões políticas internacionais (luta nacional e anti-imperialista) postas pelo imperialismo. As diferenças e desigualdades no interior do sistema capitalista mundial faziam com que alguns países fossem forçados a se integrar ao capitalismo de maneira dependente e associada e outros se impusessem como dominantes e expropriadores de nações. Explorando essa tendência, Trotsky ressaltou o caráter diferenciado e desigual do desenvolvimento das nações, fazendo disso a base para a formulação teórica do conceito de desenvolvimento combinado.[l] Para ele, a fundamentação da revolução proletária apresentada por Marx e Engels “situava-se no plano exclusivo das forças produtivas e fazia do esgotamento das possibilidades de desenvolvimento do capitalismo uma condição indispensável para colocar na ordem do dia sua abolição” (“Nenhuma formação social desaparece antes que se desenvolvam todas as forças produtivas que ela contém”).
Trotsky interpretava essa afirmação como relacionada aos grandes sistemas produtivos em escala histórico-mundial (feudalismo, capitalismo) e não a nações isoladas: “A teoria do desenvolvimento desigual e combinado é interessante não apenas por sua contribuição à reflexão sobre o imperialismo, mas também como uma das tentativas mais significativas de romper com o evolucionismo, a ideologia do progresso linear e o eurocentrismo”.[li] Uma nação atrasada, como a Rússia, estava obrigada a incorporar as conquistas técnicas das nações avançadas para poder se manter como força autônoma e não ser incorporada sob a forma de colônia de uma potência. Mesmo que sobre bases distintas, as colônias também passariam por um processo de incorporação da técnica avançada de seus dominadores.
A técnica incorporada pelos países atrasados, por sua vez, exigiria a criação de relações de produção que lhe correspondessem, o que significava a instauração brusca, acelerada, de formas de organização social condizentes. O processo ocorreria por meio de “saltos históricos”, eliminando-se as etapas que haviam caracterizado a evolução econômica e social dos países pioneiros do capitalismo: a nova estrutura socioeconômica apresentada pela nação atrasada não reproduziria simplesmente uma etapa histórica precedente do país avançado. A técnica e as relações de produção capitalistas incorporadas sobre uma base arcaica semifeudal, no caso da Rússia, criavam um quadro novo que não podia ser comparado ao de uma nação capitalista “antiga”. A teoria da revolução permanente, desenvolvida sobre a base dessas premissas, poderia ser considerada como “a expressão de uma nova compreensão da teoria das etapas, entendida como o processo histórico geral da humanidade”.[lii] A etapa democrática burguesa já se realizara a nível mundial, fazendo necessário que se abrisse, a partir da Rússia, uma nova via revolucionária. Se Rússia estava atrasada em relação à Europa ocidental, a Europa como um todo, Rússia incluída, estava historicamente avançada em relação às demais regiões do globo, o que significava que a revolução, de fato, partiria do setor capitalista mundial mais avançado, embora na sua porção mais “atrasada”. O “desenvolvimento combinado” e a possibilidade do “salto histórico” estavam determinados tanto pela persistência do atraso quanto pela introdução de elementos de avanço.[liii]
A concorrência imperialista e armamentista provocara as guerras “parciais” (como a guerra anglo-bôer, a revolta dos Boxers e a intervenção das potências estrangeiras na China, a guerra russo-japonesa, a guerra ítalo-turca, a guerra dos Bálcãs, a revolução e a guerra civil no México,[liv] e uma multidão de conflitos regionais) e, finalmente, a Primeira Guerra Mundial; seria o imperialismo, e as guerras dele decorrentes, doravante necessárias para a sobrevida do próprio capitalismo? Kautsky respondia negativamente: “Não há nenhuma razão econômica para a continuação da grande competição na produção de armamentos depois de acabada a presente guerra [que acabara de explodir – o artigo citado é de setembro de 1914 – e que Kautsky, como a maioria de seus contemporâneos, imaginava de curta duração]. No máximo, tal continuação serviria apenas para alimentar os interesses de uns poucos grupos capitalistas. A indústria capitalista se encontra ameaçada pelas disputas entre os vários governos. Todo capitalista de visão deveria conclamar seus associados: ‘Capitalistas de todo o mundo, uni-vos!”.[lv]
Com esse wishful thinking a respeito de um possível acordo mundial “pacificador” (embora reacionário) entre capitalistas-imperialistas “dotados de visão”, Kautsky chegava até a formulação de uma teoria do “super (ou ultra) imperialismo”, que afirmava que o imperialismo não era necessariamente a “fase final do capitalismo”. Kautsky formulava a hipótese de que depois da fase imperialista poderia existir uma nova fase capitalista baseada no entendimento entre grupos e Estados capitalistas: “De um ponto de vista puramente econômico, não há nada que impeça dar origem a uma Santa Aliança entre imperialistas”. Kautsky chegou a essas conclusões examinando as consequências do armamentismo e das guerras sobre a indústria capitalista: as indústrias militares eram favorecidas; as outras, desfavorecidas, eram contrárias às guerras. O capital financeiro ganhava hegemonia sobre o industrial; Kautsky definia o capital financeiro como a “forma mais brutal e violenta do capital”. Através do “ultra-imperialismo”, os “cartéis mundiais dos capitalistas” buscavam impor seu próprio monopólio derrotando seus concorrentes. Quando estes, finalmente, fossem poucos e fortes, prefeririam não se combater e encontrariam um acordo na forma do cartel ou do truste mundial.
Se essa tendência se verificasse entre empresas capitalistas, caberia supor que também fosse possível verificá-la nas relações entre Estados. Kautsky esperava que a chegada do “ultra-imperialismo” evitasse a explosão de novas guerras. Essa teoria supunha a possibilidade de um grau máximo de monopolização econômica que levaria, se não à eliminação, pelo menos a atenuar as contradições do capitalismo, inclusive a concorrência entre capitais e nações; isso era equivalente a conceber um processo de concentração e centralização do capital tendencialmente sem contradições, que superasse os antagonismos nascidos da concorrência entre capitais e Estados. Bukhárin se contrapôs a essa interpretação, considerando o processo de conjunto da acumulação capitalista: “O processo de internacionalização dos interesses capitalistas obriga imperiosamente à formação de um truste capitalista estatal mundial. Qualquer que seja, entretanto, seu vigor, este processo se vê contrariado por uma tendência mais forte à nacionalização de capital e ao fechamento de fronteiras”.[lvi] Os anos que precederam à Primeira Guerra Mundial ilustravam a tendência exposta por Bukhárin: eles se destacaram pela concorrência acirrada entre potências e empresas capitalistas por mercados espalhados pelo mundo inteiro.
Para Bukharin e Lênin, o capitalismo, tendo preenchido sua função histórica, unificar economicamente o mundo destruindo tendencialmente os modos de produção precedentes, tendia a desenvolver prevalentemente suas tendências parasitas: a possibilidade de fixação de preços de monopólio, por exemplo, fazia desaparecer, até certo ponto, a tendência para o progresso cientifico e técnico (inclusive quando isto se expressava não como estagnação científica ou tecnológica, mas como ratio cada vez menor de uso do fundo acumulado de conhecimentos científicos e potenciais inovações tecnológicas, ou como uso improdutivo/destrutivo dos mesmos, através dos gastos armamentistas ou da irracionalidade econômica destrutiva do meio ambiente); nos países atrasados a pobreza tendeu a piorar, incrementando o fosso da desigualdade social entre países “ricos” e “pobres”.
O desenvolvimento anárquico da produção provocava também um saque e destruição crescente dos recursos e do meio natural, assim como uma degradação relativa e crescente das condições do trabalho. Lênin também se ocupou pioneiramente das transformações na esfera do trabalho provocadas pela disseminação do “taylorismo”, sistema de trabalho originado nos EUA de início do século XX: “Que enorme ganho de produtividade! Mas o salário do trabalhador não se multiplicou por quatro, no máximo duplicou e somente por um curto período de tempo. Assim que os trabalhadores se acostumarem com o novo sistema, seu salário é reduzido ao nível anterior. O capitalista obtém um enorme lucro, mas os trabalhadores trabalham quatro vezes mais do que antes e desgastam seus nervos e músculos quatro vezes mais rápido que antes”.[lvii] Lênin concluía em que a racionalização do trabalho nas fábricas era contraditória com a anarquia do regime de produção capitalista.
Ao realizar a unificação da economia mundial sob a égide do capital financeiro, o imperialismo fazia nascer também, como consequência da exacerbação de suas contradições e da tendência para a intervenção estatal, a necessidade de uma ordem mundial a ser preservada por meios políticos supranacionais. A existência de uma “ordem mundial”, que subordinava as situações regionais ou nacionais, derivava-se diretamente do papel do mercado mundial na dinâmica do capitalismo: se o mercado mundial não se limitava à soma das economias nacionais, a “ordem mundial” não poderia consistir só nos acordos bilaterais entre os diversos Estados nacionais. A caracterização do imperialismo se constituiu como fundamento de opções políticas de alcance mundial. Embora configurando as bases para uma nova era histórica, o imperialismo capitalista dava também continuidade a tendências precedentes: já no primeiro quartel do século XIX os processos diferenciados de industrialização e desenvolvimento econômico influenciavam a divisão de poder no sistema mundial.
O “Concerto Europeu” ainda funcionara na partilha da África em 1885, na intervenção conjunta na China contra as revoltas internas, e, finalmente, em 1912, na conferência internacional de Londres que evitou a escalada das tensões entre a Áustria-Hungria e a Rússia no contexto das guerras balcânicas. As peculiaridades significativas das relações internacionais que marcaram o período 1871-1914 fizeram com que os principais debates da política internacional se concentrassem em: a) O caráter do sistema internacional e das relações internacionais; a existência de um equilíbrio de poder ou de uma hegemonia da Alemanha após 1871; b) O problema da nova expansão imperial europeia, depois de 1870; c) A partir de 1914, na explicação das causas da Primeira Guerra Mundial.
Para Lênin, o imperialismo era uma fase necessária do desenvolvimento capitalista uma vez que este atingira sua fase monopolista. A síntese das características do imperialismo (exploração das ações atrasadas, tendência para as guerras mundiais e para a militarização do Estado, aliança dos monopólios com o Estado, tendência geral à dominação e à subordinação da liberdade) levou-o a definir a nova etapa histórica como época de “reação em toda a linha e exacerbação da opressão nacional”. O enorme desenvolvimento das forças produtivas, a concentração da produção e a acumulação sem precedentes de capitais tornavam a produção cada vez mais social nos ramos econômicos decisivos. Isso entrava cada vez mais em contradição com a propriedade privada dos meios de produção nas mãos de um número cada vez menor de capitalistas, o que marcava o sintoma da transição para um novo regime social de produção, o socialismo. A tendência para a guerra mundial não era, portanto, mais aleatória do que a própria crise econômica. A contradição entre o desenvolvimento mundial das forças produtivas capitalistas e o estreito marco dos Estados nacionais era a forma em que a crise capitalista assumia dimensões mundiais.
Ao mesmo tempo, o capital monopolista dissolvia as velhas relações produtivas e acelerava o desenvolvimento capitalista nos países atrasados, sob a forma do monopólio econômico: os países atrasados conheciam do capitalismo só as desvantagens da sua maturidade, sem chegar a conhecer as virtudes da sua juventude. O proletariado industrial que surgia dessa penetração capitalista teve um desenvolvimento forte, que não guardava relação com o raquitismo da burguesia nacional dos países retrasados, o que determinaria as formas políticas autoritárias adotadas por estes no século XX.
Com o frequente uso da tecnologia de produção na composição de novos produtos com novos materiais, as possibilidades do uso de componentes ainda não desenvolvidos evidenciaram a necessidade de reservas territoriais. Em função disso, o capital financeiro não restringia seus interesses apenas às fontes de matérias primas já conhecidas, passando a interessar-se igualmente por fontes possivelmente existentes em regiões aleatoriamente diversas. A expansão dos domínios do capital financeiro se deu não apenas pela necessidade de manutenção de excedentes crescentes e influência sobre fontes de produção de mercadorias de baixo valor agregado (matérias primas), mas, principalmente, pela garantia estratégica da possibilidade constante de exploração de novos recursos: “Donde a inevitável tendência do capital financeiro para alargar o seu território econômico”. A “receptividade” das regiões subdesenvolvidas relacionava-se com a formação política e econômica do território ou país “hospedeiro”; a maneira como se processava a expansão de capital variava de acordo com o nível de desenvolvimento do capitalismo dessas regiões. Os Estados “independentes” da periferia estavam fadados à subordinação ao capital financeiro, assim como os países coloniais.
A expansão mundial do capital foi justificada ideologicamente pelo novo conceito de nação, onde uma poderia sobrepujar outras por considerar-se “eleita” entre as demais, fundamentada na afirmação da sua superioridade: “Para manter e ampliar sua superioridade, [o capital monopolista] precisa do Estado que lhe assegure o mercado interno mediante a política aduaneira e de tarifa, que deve facilitar a conquista de mercados estrangeiros. Precisa de um Estado politicamente poderoso que, na sua política comercial, não tenha necessidade de respeitar os interesses opostos de outros Estados. Necessita, em definitivo, de um Estado forte que faça valer seus interesses financeiros no exterior, que entregue seu poder político para extorquir dos Estados menores vantajosos contratos de fornecimento e tratados comerciais. Um Estado que possa intervir em toda parte do mundo para converter o mundo inteiro em área de investimento para seu capital financeiro”.[lviii] O conceito de Estado modificou-se para acrescentar o papel de “agregador” de sociedades inferiores ou atrasadas, para “ajudá-las em seu desenvolvimento”.
O papel do Estado permanecia basicamente o mesmo, assegurando a hegemonia de uma classe social na manutenção de um conjunto de relações de propriedade e de estruturas de classe, mas agora no mundo inteiro. Este último aspecto refere-se a estrutura social desses países, ou seja, à forma de suas relações internas de propriedade, assim como à influência exercida pelas relações de propriedade das classes sociais dominantes dos países de capitalismo desenvolvido. A “questão nacional” não fora eliminada pelo imperialismo; fora, ao contrário, aguçada e projetada no plano mundial. Para Lênin, o imperialismo capitalista redefinia as relações internacionais em um mundo que a característica central passava a ser a divisão do mundo entre nações opressoras e nações oprimidas. Na sua sistematização compreensiva da questão, escreveu que “se fosse necessário dar uma definição o mais breve possível do imperialismo, dever-se-ia dizer que o imperialismo é a fase monopolista do capitalismo. Essa definição compreenderia o principal, pois, por um lado, o capital financeiro é o capital bancário de alguns grandes bancos monopolistas fundido com o capital das associações monopolistas de industriais, e, por outro lado, a partilha do mundo é a transição da política colonial que se estende sem obstáculos às regiões ainda não apropriadas por nenhuma potência capitalista para a política colonial de posse monopolista dos territórios do globo já inteiramente repartido”.[lix]
O chamado “neocolonialismo” (diferenciado do “Antigo Sistema Colonial”, que marcara os inícios da Era Moderna) surgira com o intuito de submeter regiões menos desenvolvidas aos interesses econômicos dos países mais desenvolvidos, mas também com o de “fechar” essas regiões à penetração econômica das potências concorrentes. Nessa fase inicial da “era do imperialismo” não houve, no entanto, convergência entre a resistência anti-imperialista dos povos coloniais (já atuante, porém) e a luta do proletariado metropolitano. A maioria da classe operária das metrópoles achava que poderia tirar vantagens da conquista colonial (e, de fato, tirava-as, pelo menos suas camadas mais bem posicionadas, a chamada “aristocracia operária”).[lx] “Se o imperialismo aparecia, por pedido da socialdemocracia alemã, na ordem do dia do Congresso da Internacional (Socialista) que devia se reunir em Viena na última semana de agosto de 1914 [que nunca foi realizado], o Birô Socialista Internacional decidiu, na reunião que teve em Londres a 13 e 14 de dezembro de 1913, não incluir na agenda do congresso a questão colonial”.[lxi]
A tara colonialista da “velha Internacional” sobrevivera à sua rejeição oficial em congressos internacionais. O apoio da maioria do operariado metropolitano à investida colonial das potências europeias era citado como justificativa para as posições claudicantes da Internacional Socialista perante as pressões nacionalistas e colonialistas, que haviam se manifestado no apoio de diversos partidos operários ao colonialismo e se manifestaram quando, por ocasião da eclosão do conflito mundial, os partidos mais importantes da Internacional (em primeiro lugar, o socialismo francês e o alemão) votaram favoravelmente a solicitação de créditos de guerra por parte de seus governos, e também a mobilização militar de seus países. Lênin chegou a uma conclusão sobre as razões da conduta da Internacional Socialista analisando as bases sociais do “social-patriotismo” prevalecente na organização quando explodiu o primeiro grande conflito mundial: “O imperialismo tem a tendência de formar categorias privilegiadas também entre os operários, e de divorciá-las da grande massa do proletariado. A ideologia imperialista penetra inclusive na classe operária, que não está separada das outras classes sociais por uma muralha chinesa. Os chefes do partido socialdemocrata da Alemanha foram, com justiça, qualificados de social-imperialistas, isto é, socialistas de palavra e imperialistas de fato”.[lxii]
O bolchevique Grigorii Zinoviev caracterizou a formação de uma camada com interesses próprios e diferenciados no aparato dos partidos operários e dos sindicatos dos países europeus mais desenvolvidos, no caso na Alemanha: “No índice de todos os funcionários pagos trabalhando para o partido e os sindicatos livres, com apenas seu registro de nomes, ocupa 26 páginas de três colunas, cada uma impressa no menor tipo pequeno. De acordo com nosso cálculo, o número total de funcionários pagos trabalhando para o partido e os sindicatos em 1914 é de 4.010. Somente na Grande Berlim, é de 751, em Hamburgo, de 390. Os quatro mil constituem uma empresa particularmente única que possui seus próprios interesses. Para proteger seus interesses corporativos, eles fundaram sua própria associação sindical especial de funcionários partidários e sindicais. Essa associação contava com 3.617 membros em 1916 e teve uma renda de 252.372 marcos em quotas. Os juros sobre capital (e outras rendas) forneceram a associação 475.521 marcos em 1913. Além disso, os funcionários dos ramos individuais do movimento operário formaram ainda outras sociedades de ajuda mútua separadas. Assim, por exemplo, uma associação de todos os funcionários empregados no movimento cooperativo. Em 1912, essa associação tinha 7.194 membros e seu capital totalizava 2.919.191 marcos.
“Os funcionários da imprensa trabalhista, os editores, correspondentes, repórteres etc. formam um grupo numericamente grande em si mesmo; basta salientar que os sindicatos gastaram 2.604.411 marcos apenas para seus órgãos sindicais em 1912. Se somarmos a isso os 70 jornais diários socialdemocratas e todos os numerosos semanários e órgãos mensais socialdemocratas, a soma dos salários recebidos por todos os funcionários dessas publicações atinge milhões a cada ano. É fácil imaginar o que grande número de jornalistas, secretários etc. vive desses milhões. Os participantes do trabalho dessa imprensa têm sua própria sociedade profissional, a ‘Associação da Imprensa Operária’, que existe há mais de uma década. Esta associação elaborou uma escala inteira de salários para editores e funcionários editoriais. Os salários de um editor, por exemplo, devem ser de pelo menos 2.200 marcos – com um aumento semestral de 300 – podendo chegar até 4.200 marcos. Na realidade, eles são pagos consideravelmente mais… O poder real do partido não reside nas mãos dessa camada relativamente ampla de ‘representantes’. Está nas mãos de uma camada muito menor de funcionários do partido, sua principal burocracia. Mais de mil pequenos funcionários e gerentes, dependem diretamente do ponto de vista econômico da liderança do partido e do sindicato. Em 1904, já havia 1.476 empregados nas gráficas pertencentes ao partido socialdemocrata (o número de editores havia chegado a 329). Em 1908, 298 homens trabalhavam apenas na gráfica do Vorwärts [jornal socialdemocrata alemão]. Todas essas pessoas são tão dependentes economicamente dos burocratas que ocupam os postos mais altos quanto os trabalhadores o são de qualquer empresário privado”.[lxiii]
“Aristocracia operária” dos países imperialistas, e aparato burocrático dos partidos e sindicatos operários eram, claro, dois conceitos (e duas realidades sociais) diversas: ocupando o mesmo habitat, porém, seus interesses (e políticas) podiam eventualmente coincidir, como constatava o marxista holandês Anton Pannekoek: “A socialdemocracia alemã é uma organização gigantesca e firmemente estabelecida, que existe quase como um estado dentro do estado, com seus próprios funcionários, suas próprias finanças, sua própria imprensa; dentro de uma esfera espiritual própria, com uma ideologia própria … Todo o caráter dessa organização é adequado à época pacífica pré-imperialista; os agentes humanos desse caráter são os funcionários, os secretários, os agitadores, os parlamentares, os teóricos, que formam uma casta própria, um grupo com interesses separados que domina as organizações, material e ideologicamente. Não é por acaso que todos eles, com Kautsky à frente, não queiram ter nada a ver com uma verdadeira luta contra o imperialismo. Todo o seu interesse na vida é de natureza hostil à nova tática, uma tática que põe em risco sua existência como funcionários. Seu trabalho silencioso nos escritórios e nas câmaras editoriais, nas conferências e nas reuniões do comitê de conselheiros, na redação de artigos eruditos e não tão eruditos contra a burguesia e de uns contra os outros – toda essa atividade pacífica de negócios está sendo ameaçada pelas tempestades da época imperialista.
“O aparato burocrático-acadêmico [atuante nas escolas e universidades de formação política socialistas] só pode ser anulado sendo removido fora da panela fervendo, fora da luta revolucionária, fora da corrente principal de vida real (e, consequentemente, ao serviço de sua própria burguesia). Se o partido e a liderança adotassem a tática da ação de massas, o poder estatal imediatamente invadiria as organizações – a base de toda a sua existência e de toda a sua atividade na vida – e talvez as destruísse, confiscasse seus tesouros, prendesse os líderes. Naturalmente, seria uma ilusão acreditar que o poder do proletariado pode ser quebrado: o poder organizacional dos trabalhadores reside não na forma de suas associações corporativas, mas no espírito de solidariedade, na disciplina, na unidade; por esses meios, os trabalhadores poderiam criar melhores formas de organização. Mas para os funcionários isso significaria o fim da sua forma específica da organização, sem a qual eles não poderiam existir ou funcionar. O desejo de autopreservação, os interesses do grupo de seu ofício, deve obrigatoriamente impor-lhes a tática de evitar a luta e amolecer sua posição diante do imperialismo”.[lxiv]
A burocratização do movimento operário, e a cooptação política de setores importantes do operariado para as políticas nacionalistas e colonialistas nas metrópoles, não era, portanto, segredo para ninguém; elas faziam parte dos cálculos de lideranças de todas as cores ideológicas e, principalmente, dos titulares em exercício do regime político. Em relação à primeira, o sociólogo e ex socialista ítalo-alemão Robert Michels, desencantado com a falta de democracia interna no Partido Socialista Italiano, postulou na sua obra mais conhecida uma “lei de ferro da oligarquização” dos sindicatos e partidos operários.[lxv] Em relação à segunda, boa parte da população dos países imperialistas acreditava, obviamente em função de seus próprios e muito concretos interesses, que a dominação colonial era justa e até benéfica à humanidade, em nome de uma “ideologia do progresso” baseada na ideia de que existiam povos – os europeus – superiores a outros; o racismo rasteiro e o darwinismo social pseudocientífico interpretavam a teoria da evolução biológica a sua maneira, afirmando a hegemonia de alguns pela seleção natural aplicada à sociedade.
Essas ideias remontavam aos primórdios do colonialismo europeu, mas se expressavam, na etapa primeira da expansão colonial, sob uma ideologia religiosa, a da necessidade de converter as populações indígenas (asiáticas, africanas ou americanas) à “verdadeira fé” (a cristã), concedendo aos cruzados dessa fé (que, em geral, pouco se importavam com ela) o direito de saqueá-las e explorá-las economicamente. O “darwinismo social” de cunho racista (inclusive quando este ficava total ou parcialmente oculto) reformulava essas ideias numa era laica, a era do “imperialismo de investimentos”, na qual, nas metrópoles capitalistas, o Estado tendia a separar-se das Igrejas, e as ideias das classes dominantes tendiam a se expressar de forma não religiosa, até “científica”, lançando mão do progresso da ciência (inclusive, e especialmente, a biologia) e de teorias filosóficas, em especial o positivismo, comtiano ou benthamiano.
A burocracia sindical e partidária poderia se aproximar dessas visões de mundo a partir de seus interesses, por carecer de formação ou firmeza ideológica, ou por uma combinação de ambos os fatores. Os Estados alimentavam um sentimento nacionalista que afetava não só a mentalidade dos povos subjugados a uma dominação estrangeira (“internalizando-a” como uma ideia ou sensação de inferioridade racial ou cultural, como analisaram autores como Frantz Fanon ou Albert Memmi), mas também os Estados independentes com uma população relativamente homogênea (o que favorecia atitudes racistas neles), nos quais essa ideologia se traduzia pela vontade de afirmar o poder do Estado e de aumentar seu prestígio e influência no mundo. Econômica e politicamente, as lutas das grandes potências entre si já não focavam apenas restritas questões europeias, mas também mercados e territórios que se estendiam por todo o mundo. Os debates e enfrentamentos políticos a respeito desses abalos permearam e precederam a crise geral que levou Europa à guerra.
Para Lênin e os marxistas revolucionários, o imperialismo traduzia uma mudança de era histórica: “A época do imperialismo capitalista é a época de um capitalismo que já tem alcançado e ultrapassado seu período de amadurecimento, que se adentra na sua ruína, maduro para deixar seu espaço ao socialismo. O período de 1789 a 1871 havia sido a época do capitalismo progressista: sua tarefa era derrotar o feudalismo, o absolutismo, a libertação do jugo estrangeiro”; “Libertador das nações que foi o capitalismo na sua luta contra o regime feudal, o capitalismo imperialista se converteu no maior opressor das nações. O capitalismo, antigo fator de progresso, tem se tornado reacionário; após ter desenvolvido as forças produtivas até tal ponto que a humanidade não lhe resta mais que passar ao socialismo ou sofrer durante anos, inclusive dezenas de anos, a luta armada das grandes potências por manter artificialmente o capitalismo por meio das colônias, monopólios, privilégios e opressões nacionais de todo tipo”.[lxvi] A Primeira Guerra Mundial foi o teste das análises e das estratégias em confronto, baseadas não em constatações empíricas ou impressionistas de curto prazo, mas em um forte debate teórico precedente.
*Osvaldo Coggiola é professor titular do Departamento de História da USP. Autor, entre outros livros de Marx e Engels na história (Xamã).
Notas
[i] Pierre Foulan (codinome de Pierre Fougeyrollas e Denis Collin). Introduction à l’Étude du Marxisme. Paris, SELIO, sdp, p. 96.
[ii] Richard Koebner e Helmut Dan Schmidt. Imperialism. The story and significance of a political word, 1840-1960. Londres, Cambridge University Press, 1964.
[iii] Karl Marx. Carta a Pável V. Annekov (1846).
[iv] Paul Bairoch. Revolución Industrial y Subdesarrollo. México, Siglo XXI, 1967, p. 285.
[v] John A. Hobson. L’Imperialismo. Roma, Newton & Compton, 1978 [1902].
[vi] Martin Meredith. Diamonds, Gold and War. Nova York, Public Affairs, 2007. A Rhodes Scholarship é uma prestigiosa bolsa internacional para estudantes externos na Universidade de Oxford na Inglaterra.
[vii] David Van Reybrouck. Congo. Une histoire. Paris, Actes Sud/Fond Flammand des Lettres, 2012, pp. 80-81.
[viii] Marina Gusmão de Mendonça. Guerra de Extermínio: o Genocídio em Ruanda. Texto apresentado no Simpósio “Guerra e História”, realizado no Departamento de História da USP, em setembro de 2010.
[ix] Alberto da Costa e Silva. O Brasil, a África e o Atlântico no século XIX. Estudos Avançados vol. 8, nº 21, São Paulo, Universidade de São Paulo, maio-agosto de 1994.
[x] Apud Yvonne Kapp. Eleanor Marx. Turim, Einaudi, 1980, vol. II, p. 50.
[xi] Albert Memmi. Retrato do Colonizado. Precedido do retrato do colonizador. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2007, pp. 78 e 83.
[xii] Henri Brunschwig. Le Partage de l’Afrique Noire. Paris, Flammarion, 1971, pp. 34-35.
[xiii] John Iliffe. Les Africains. Histoire d’un continent. Paris, Flammarion, 2009, p. 376.
[xiv] Joseph Ki-Zerbo. História da África Negra. Lisboa, Europa-América, 1991, p. 55.
[xv] A conquista inglesa do Cabo, colonizado inicialmente pelos holandeses, remontava à bem-sucedida expedição do Almirante Pophan, em inícios do século XIX. A vitória inglesa fez de Pophan um herói nacional, o que o levou a conceber a possibilidade de substituir Espanha no controle de suas posses americanas. Por razões de proximidade, tentou a empresa a partir do Vice-Reinado do Prata, o mais próximo do Cabo, invadindo Buenos Aires em 1806. A resistência da população fez fracassar essa primeira tentativa, que foi repetida, com um efetivo militar oito vezes superior, no ano sucessivo, colhendo um novo fracasso, desta vez mais fragoroso, que produziu uma grave crise política no Parlamento inglês. A derrota das “invasões inglesas” de 1806-1807 foi considerada o determinante da consolidação de uma consciência nacional argentina; o país foi um dos baluartes das revoluções pela independência das colônias da América espanhola, incidas em 1810. Inglaterra, por sua vez, renunciou a todo projeto de uma colonização abrangente das Américas ibéricas, limitando-se a posses coloniais insulares no Caribe, na América Central (Belize) e no Atlântico Sul (as ilhas Malvinas, ocupadas por Inglaterra em 1833).
[xvi] Mike Davis. Holocaustos Coloniais. Clima, fome e imperialismo na formação do Terceiro Mundo. Rio de Janeiro, Record, 2002. Segundo Davis, “o único historiador do século XX que parece ter compreendido que as grandes fomes vitorianas eram capítulos integrais na história da modernidade capitalista foi Karl Polanyi, em seu livro de 1944, The Great Transformation. “A verdadeira origem das fomes nos últimos cinquenta anos”, escreveu, “foi a livre comercialização de grãos, combinada com a falta de rendimentos locais””.
[xvii] Thomas Pakenham. The Boer War. Londres, Widenfeld & Nicolson, 1979.
[xviii] Publicado inicialmente em 1899, como folhetim por entregas, no Blackwood’s Magazine.
[xix] James Ramsay MacDonald (1866-1937) foi um dos fundadores e dirigentes do Partido Trabalhista Independente e do Partido Trabalhista (Labour Party); foi o primeiro líder trabalhista a se tornar primeiro-ministro do Reino Unido, no reinado de George V. Era filho ilegítimo e recebeu sua instrução elementar na “Igreja livre”. Em 1881, tornou-se professor tornando-se assistente de clérigo em Bristol. Em 1866, seguiu para Londres, conseguindo emprego como caixeiro e associando-se à União Socialista de C.L. Fitzgerald, que lutava para fazer avançar reformas sociais através do sistema parlamentar inglês. Em 13 de novembro de 1887, MacDonald presenciou o Domingo Sangrento (Bloody Sunday), no Trafalgar Square, e escreveu o panfleto Remember Trafalgar Square: Tory Terrorism in 1887. Em 1892, transformou-se em jornalista. Em 1893 esteve entre os criadores do Partido Independente dos Trabalhadores (ILP). Casou-se com Margaret Gladstone, da família de William Gladstone, ex primeiro-ministro, e de Herbert Gladstone, líder do Partido Liberal. Os dois viajaram por vários países, dando a MacDonald a oportunidade de encontrar-se com líderes socialistas de outros países. Em 1906 foi eleito para o parlamento pelo Partido Trabalhista. Em 1911 transformou-se em líder do grupo trabalhista no Parlamento. Transformou-se em líder do partido e líder da oposição, com fortes críticas ao governo conservador. Em 1924, foi convidado pelo rei George V para formar governo, quando a maioria conservadora de Stanley Baldwin faliu, iniciando o primeiro mandato trabalhista do Reino Unido.
[xx] In: Vladimir I. Lênin. Obras Escolhidas. Vol. 1. São Paulo, Alfa-Ômega, 1980.
[xxi] Manuel Quiroga e Daniel Gaido. La teoria del imperialismo em Rosa Luxemburgo y sus críticos: la era de la Segunda Internacional. Crítica Marxista nº 37, São Paulo, outubro de 2013.
[xxii] Jonathan Sperber. Karl Marx. Uma vida do século XIX. Barueri, Amarilys, 2014, p. 502.
[xxiii] Antevista por Marx na forma D-D’, “inversão e materialização das relações de produção elevadas à potência máxima”, “mistificação capitalista em sua forma mais brutal”.
[xxiv] John A. Hobson. L’Imperialismo. Roma, Newton & Compton, 1996[1902].
[xxv] John A. Hobson. A Evolução do Capitalismo Moderno. São Paulo, Abril Cultural, 1983, pp. 158 e 175.
[xxvi] Veja-se: Nikolai Bukhárin. Economia Política del Rentista. Barcelona, Laia, 1974. Nesse texto, Bukhárin se ocupou pioneiramente da “revolução marginalista” na teoria econômica como expressão teórica indireta do parasitismo financeiro do capital monopolista.
[xxvii] Mikhail Tugan-Baranowsky. Les Crises Industrielles en Angleterre. Paris, Giard, 1913 (original: Studien Zur Theorie und Geschichte der Handelskrisen in England. Jena, Fischer, 1901). As ideias básicas do autor tinham sido desenvolvidas em artigos publicados no início do século XX.
[xxviii] Karl Kautsky. Teorie delle Crise. Florença, Guaraldi, 1976 [1902].
[xxix] Paul Sweezy. Teoria do Desenvolvimento Capitalista. Rio de Janeiro, Zahar, 1976,
[xxx] Leopoldo Mármora (ed.). La Segunda Internacional y el Problema Nacional y Colonial. México, Pasado y Presente – Siglo XXI, 1978.
[xxxi] As posições de Manuel Ugarte (1878-1951) em favor da “unidade hispano-americana” foram sintetizadas em El Porvenir de America Latina, publicado em 1910. Ugarte chegou a ser embaixador da Argentina no México, entre 1946 e 1948, durante o primeiro governo de Juan D. Perón.
[xxxii] Juan Bautista Justo (1865-1928) foi médico, jornalista, parlamentar socialista e escritor, fundador do Partido Socialista de Argentina, que presidiu até sua morte, do jornal La Vanguardia e da Cooperativa El Hogar Obrero. Foi deputado e senador nacional. Realizou seus estudos de medicina na Universidade de Buenos Aires, trabalhando como jornalista, formando-se em 1888 com diploma de honra. Viajou a Europa, onde tomou contato com as ideias socialistas. Na Argentina, foi cirurgião no Hospital de Crónicos. Na década de 1890 começou a escrever no periódico El Obrero. En 1894, junto a Augusto Kühn e Esteban Jiménez fundou o jornal La Vanguardia que, com a fundação do Partido Socialista, seria seu órgão oficial e passou a ser publicado diariamente. Justo também fundou a cooperativa El Hogar Obrero, a Biblioteca Obrera e a Sociedad Luz. Participou dos congressos da Internacional Socialista realizados em Copenhague e Berna. Criticou a “dialética” de Marx, culpada, segundo ele, por tê-lo feito antever, no Manifesto Comunista, revoluções proletárias no horizonte de 1848. Em 1921 casou-se com a feminista Alicia Moreau de Justo. Como deputado e senador pela Capital Federal (Buenos Aires), presidiu a comissão investigadora dos trusts, participou dos debates da Reforma Universitária (1918), e defendeu numerosos projetos de leis sociais, contra o jogo e o alcoolismo, e para eliminar o analfabetismo (Donald F. Weinstein. Juan B. Justo y su Época. Buenos Aires, Fundación Juan B. Justo, 1978).
[xxxiii] V. I. Lenin. Los Socialistas y la Guerra. México, Editorial América, 1939.
[xxxiv] Rudolf Hilferding. O Capital Financeiro. São Paulo, Abril Cultural, 1983, p. 314.
[xxxv] Lucien Sanial. General Bonkruptcy or Socialism. Nova York, Socialist Party, 1913.
[xxxvi] Tom Kemp. Teorie dell’Imperialismo. De Marx a oggi. Turim, Einaudi, 1969, p. 29.
[xxxvii] Leon Trotsky. Naturaleza y Dinámica del Capitalismo y la Economía de Transición. Buenos Aires, Ceip, 1999.
[xxxviii] John Gallagher e Ronald Robinson. The imperialism of free trade. Economic History Review, vol. VI, nº 1, Londres, 1953.
[xxxix] Rosa Luxemburgo. La Acumulación del Capital. Havana, Ciencias Sociales, 1968, p. 430.
[xl] Henryk Grossman. Las Leyes de la Acumulación y el Derrumbe del Sistema Capitalista. México, Siglo XXI, 1977.
[xli] V. I. Lênin. Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo. Campinas, Navegando Publicações, 2011 [1916].
[xlii] Joseph A. Schumpeter. Imperialismo e Classes Sociais. Rio de Janeiro, Zahar, 1961.
[xliii] V. I. Lênin. Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, cit.
[xliv] Nikolai Bukhárin. A Economia Mundial e o Imperialismo. São Paulo, Nova Cultural, 1986.
[xlv] V. I. Lênin. El imperialismo y la escisión del socialismo. Obras Completas, vol. 30, Moscou, 1963.
[xlvi] V. I. Lênin. Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, cit.
[xlvii] Nikolai Bukhárin. A Economia Mundial e o Imperialismo, cit.
[xlviii] V. I. Lênin. Op. Cit.
[xlix] V. I. Lênin. Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, cit.
[l] “O capitalismo surgiu com muito mais força na Europa e nos Estados Unidos do que na Ásia e na África. Estes foram fenômenos interdependentes, lados opostos de um mesmo processo. O baixo desenvolvimento capitalista nas colônias foi um produto e uma condição do super-desenvolvimento das áreas metropolitanas, que se realizou a expensas das primeiras. A participação de várias nações no desenvolvimento capitalista não foi menos irregular. Holanda e Inglaterra tomaram a dianteira no estabelecimento de formas e forças capitalistas no século XVI e XVII, enquanto a América do Norte estava ainda em grande medida em posse dos indígenas. Entretanto, na fase final do capitalismo, no século XX, os Estados Unidos superaram amplamente a Inglaterra e a Holanda. Na medida em que o capitalismo ia envolvendo em sua órbita um país atrás do outro, aumentavam as diferenças mútuas. Esta crescente interdependência não significa que sigam idênticas pautas ou possuam as mesmas características. Quanto mais se estreitam suas relações econômicas surgem profundas diferenças que os separam. Seu desenvolvimento nacional não se realiza, sob muitos aspectos, através de linhas paralelas, mas através de ângulos algumas vezes divergentes como ângulos retos. Adquirem traços desiguais, mas complementares” (George Novack. A Lei do Desenvolvimento Desigual e Combinado da Sociedade. Slp, Rabisco, 1988, p. 35).
[li] Michael Löwy. A teoria do desenvolvimento desigual e combinado. Outubro nº 1, São Paulo, 1998.
[lii] Denise Avenas. Teoria e Política no Pensamento de Trotsky. Lisboa, Delfos, 1973.
[liii] Leon Trotsky. Histoire da Révolution Russe. Paris, Seuil, 1950.
[liv] O jornalista, depois comunista, norte-americano John Reed cobriu a guerra civil mexicana e redigiu México Insurgente antes de ser destacado como correspondente na Rússia, onde cobriu as revoluções de 1917 (do que resultou seu famoso texto Dez Dias que Abalaram o Mundo) e constatou surpreso, in loco, a escassa informação que os dirigentes socialistas russos, de todas as tendências, tinham acerca dos acontecimentos mexicanos.
[lv] Karl Kautsky. Der Imperialismus. In: Die Neue Zeit, Berlim, 32 (1914), vol. 2. Em inglês: Imperialism and war. International Socialist Review, Nova York, novembro de 1914 (tradução brasileira: O imperialismo e a guerra. História & Luta de Classes nº 6, Marechal Cândido Rondon, novembro de 2008).
[lvi] Nikolai Bukhárin. Op. Cit., p. 106.
[lvii] V. I. Lenin. The Taylor system – man’s enslavement by the machine. Collected Works. Vol. 20, Moscou, Progress, 1972. Antonio Gramsci apontou que a “racionalização taylorista” apontava para profundas mudanças psicofísicas do trabalhador além dos muros da fábrica, “um fenômeno mórbido a ser combatido”, perguntando-se se seria possível “fazer com que os operários como massa sofressem todo o processo de transformação psicofísica capaz de transformar o tipo médio do operário Ford no tipo médio do operário moderno, ou se isto seria impossível, já que levaria à degeneração física e à deterioração da espécie” (Antonio Gramsci. Americanismo e Fordismo. Opere. Turim, Einaudi, 1978).
[lviii] Nikolai Bukhárin. Op. Cit.
[lix] V. I. Lênin. Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, cit.
[lx] Para uma verificação empírica, ver: Eric J. Hobsbawm. Sobre a aristocracia operária. Os Trabalhadores. Estudos da história do operariado. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1981; o autor afirma que o conceito de aristocracia operária, no caso inglês, estava apoiado em bases sólidas.
[lxi] Georges Haupt e Madeleine Rébérioux. La Deuxième Internationale et l’Orient. Paris, Éditions Cujas, 1976, p. 9.
[lxii] V. I. Lênin. Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, cit.
[lxiii] Grigorii Zinoviev [G. Sinowjew]. Die sozialen Wurzeln des Opportunismus. Der Krieg und die Krise des Sozialismus [1916]. https://bit.ly/2VyICa7
[lxiv] Anton Pannekoek. Der imperialismus und die aufgaben des proletariats. In: Vorbote Internationale Marxistische Rundschau. Berlim, janeiro de 1916.
[lxv] Robert Michels. Sociologia dos Partidos Políticos. Brasília, Universidade de Brasília, 1982.
[lxvi] V. I. Lenin. Los Socialistas y la Guerra, cit.