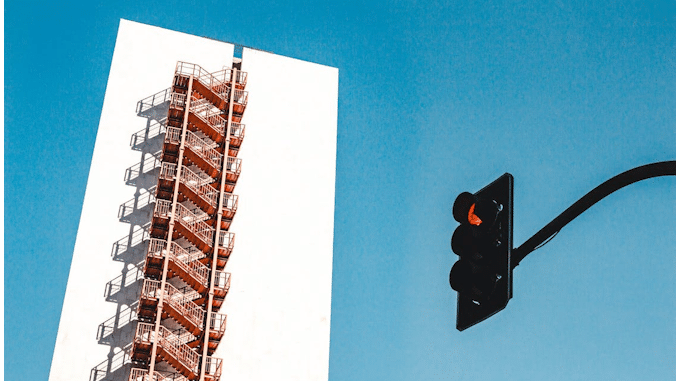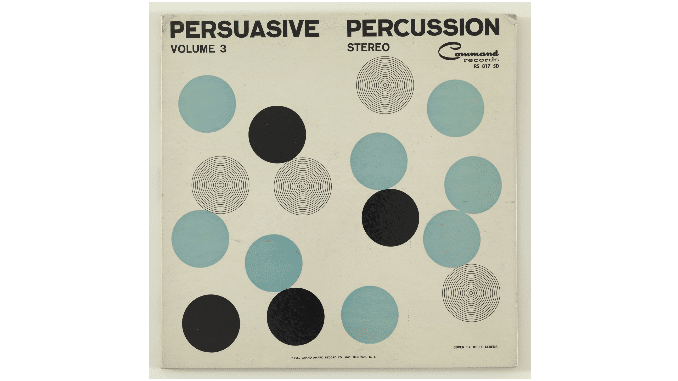Por OSVALDO COGGIOLA*
Os pressupostos políticos e ideológicos da historiografia do século XX
A “revolução historiográfica” do século XX foi oriunda de outros campos do conhecimento, principalmente dentro das ciências humanas, mas não só delas: climatologia e biologia, por exemplo, também tiveram forte influência. O século precedente, que recebeu a alcunha de “Século da História”, tinha preparado, inclusive de modo negativo, suas premissas.
O aspecto decisivo foi que, na segunda metade do século XIX, a sociologia francesa, o historicismo alemão, o utilitarismo inglês de Jeremy Bentham e o empirismo lógico de John Stuart Mill na Inglaterra, desaguaram na fundamentação das ciências “sociais” ou “humanas”, absorvendo nelas a economia, a filosofia, a história e até a geografia: “Na virada do século XIX para o século XX, a ordem do pensamento, do saber e das representações foi abalada pela sociologia nascente. A imagem do ‘homem’, da existência humana, viu-se profundamente transformada. Essa revolução sem mortos nem barricadas fez, no entanto, numerosas vítimas, a começar pela filosofia. Diante da ideia da autonomia e da singularidade irredutível dos fatos sociais, concluindo o desenvolvimento das aproximações objetivistas do espírito humano, a filosofia foi acuada e obrigada a se redefinir, abandonando à sociologia, pelo menos provisoriamente, o terreno da moral e o das condições e possibilidades do conhecimento”.[i]
Max Weber, Georg Simmel, Ferdinand Tönnies, na Alemanha, Émile Durkheim e Gabriel Tarde, na França, foram os expositores mais conhecidos dessa “revolução sociológica”. O positivismo de Auguste Comte, teoria e movimento que cunhou o termo “sociologia”, foi, no entanto, sua formulação inicial. O método geral proposto por Comte consistia na observação dos fenômenos, opondo-se igualmente ao racionalismo e ao idealismo hegemônicos – por meio da promoção do primado da experiência sensível –, única capaz de produzir a partir dos dados concretos (positivos) a verdadeira ciência, sem qualquer atributo teológico ou metafísico, subordinando a imaginação à observação, e tomando como base apenas o mundo físico ou material. Antes e durante essa “revolução”, e fora do espaço institucional em que tinha lugar, Karl Marx (que manifestou, apenas de passada, um desprezo displicente pela sociologia comtiana) adotou um ângulo diferenciado e original.
A era do capital, para ele, fornecia a chave para uma completa reformulação da história conhecida: “A sociedade burguesa é a organização histórica mais desenvolvida, mais diferenciada, da produção. As categorias que exprimem suas relações, a compreensão de sua própria articulação, permitem penetrar na articulação e nas relações de produção de todas as formas de sociedade desaparecidas, sobre cujas ruínas e elementos estão edificadas, e cujos vestígios não ultrapassados levam de arrastão, desenvolvendo tudo que fora antes apenas esboçado, que toma assim toda a sua significação. A anatomia do homem é a chave da anatomia do macaco”. A contemporaneidade, o “novo”, possuía, para Marx, a chave de esclarecimento do “velho”, da história pretérita, o que tornava natural considerar que “a história marcha de trás para frente, mas o homem – querendo-o ou não – a interpreta em sentido inverso, o presente em direção do passado, em virtude de sua situação histórica concreta”.[ii]
Isso significava projetar sobre o passado critérios de interpretação de que esse mesmo passado carecia para interpretar-se, embora a ideia de uma “correspondência” (articulação objetiva) entre os desenvolvimentos econômico, social, político e cultural, fosse bem antiga: “A lei da correspondência foi descoberta na Antiguidade, de modo parcial, e se encontra em muitas das obras mais importantes das ciências sociais produzidas depois. Em termos gerais, postula que os diversos níveis da atividade social do homem formam uma totalidade, na qual as transformações operadas em um nível, econômico, político, ideológico, repercutem nos outros níveis, gerando câmbios correspondentes, que tendem a manter a coerência do conjunto.
Tucídides explicou em forma análoga à de muitos autores de nossos dias os processos históricos em função das forças econômicas, e afirmou que a ascensão dos caudilhos políticos chamados tiranos, que substituíram os monarcas hereditários na etapa de maturidade da polis grega, foi resultado do desenvolvimento econômico. A historiografia grega do século V a. C. já mostrava consciência da relação dos processos econômicos com os políticos”.[iii] A sociedade burguesa recolocou, em novos termos, a correlação entre economia, sociedade, civilização e cultura. As resoluções dessa equação foram variadas e mutantes no tempo.
Os primeiros “cientistas sociais” da era moderna perceberam que a vida social constituía a resolução possível do ethos grego ou do “espírito das leis” de Montesquieu (“Várias coisas governam os homens; o clima, a religião, as leis, as máximas de governo, os exemplos do passado, os costumes, as maneiras; e assim forma-se um espírito geral, como resultado disso tudo”),[iv] tal como fez William Robertson,[v] coetâneo e conterrâneo de Adam Smith, em 1790: “Em toda investigação sobre a ação dos homens enquanto juntos em sociedade, o primeiro objeto de atenção deve ser o seu modo de subsistência. Segundo as variações deste, suas leis e políticas serão diversas”. A passagem da noção de “modo de subsistência” para a de modo de produção, foi marcada pela exposição realizada por Antoine Barnave a partir da análise do conflito entre agricultura e comércio nos tempos modernos,[vi] abrindo o caminho para uma nova inteligibilidade da história, uma ruptura em relação às visões precedentes e, também, a expressão de uma crise do conhecimento histórico.
A obra de Karl Marx não foi, portanto, um raio em céu de brigadeiro, mas a executante do arremate crítico de um vasto desenvolvimento prévio. Sintetizando a concepção marxiana, Emmanuel Terray definiu: (1) O modo de produção, como a combinação de uma base econômica e das superestruturas políticas e ideológicas correspondentes; (2) A base econômica do modo de produção como uma relação determinada entre os diferentes fatores do processo de trabalho: força de trabalho, objeto de trabalho, meio de trabalho – relação que deveria ser considerada sob uma dupla relação: a da transformação da natureza pelo homem – e deste ponto de vista ela aparece como um sistema de forças produtivas – e o do controle dos fatores da produção – e sob este ângulo, ela se apresenta como um conjunto de relações de produção; (3) A superestrutura jurídica-política como o conjunto das condições políticas e ideológicas da reprodução dessa relação.[vii]
Para Pierre Vilar, “um modo de produção é uma estrutura que expressa um tipo de realidade social total, que engloba elementos, em relações quantitativas e qualitativas, que se regem em uma interação contínua: (1) As regras que presidem a obtenção pelo homem de produtos da natureza, e a distribuição social desses produtos; (2) As regras que presidem as relações dos homens entre eles, por intermédio de agrupamentos espontâneos ou institucionalizados; (3) As justificações intelectuais ou míticas que [os homens] dão dessas relações, com diversos graus de consciência e de sistematização, os grupos que as organizam e se aproveitam delas, e que impõem a grupos subordinados”.[viii]
Essas ideias constituíam uma ruptura com a concepção prevalecente no período em que foram formuladas. O método historiográfico hegemônico do século XIX, influenciado tanto pela velha tradição historiográfica como pelo positivismo, se concentrava em buscar uma história “fidedigna aos fatos”. Marx, criticando-o, propôs que o modo com que o homem produzia sua vida material condicionava todas as dimensões da sua vida, sem, contudo, propor um esquema reducionista válido para todas as sociedades humanas, “adornadas com este ou aquele traço específico. Marx renunciou a definir um modelo deste tipo; em vez de abordar a sociedade como objeto dado e na forma em que ele se apresenta, analisou os processos de produção e de reprodução da vida social, criando assim o terreno necessário para abordar cientificamente ‘a lógica especial do objeto especial’, a lógica concreta das contradições e do desenvolvimento de uma dada formação social”.[ix]
Diversamente, no século XIX, a historiografia se mantinha como uma disciplina cujo objeto era um passado indiferenciado, baseada mais na erudição do que na teoria. Nos manuais universitários,[x] no quadro sinóptico que dava conta do conjunto dos estudos históricos, eram enumeradas como “ciências auxiliares da história”: a geografia, a cronologia, a arqueologia, a epigrafia, a numismática, a diplomática, a paleografia, a genealogia, a heráldica. Nenhuma palavra sobre a economia ou sobre a sociologia.
Os mísseis disparados contra a história “fática” ou positivista provieram de outras áreas de conhecimento. No final do século XIX, o filósofo inglês Herbert Spencer procurou generalizar as leis darwinianas da evolução a todos os aspectos da atividade humana, o que lhe rendeu a alcunha de “pai do darwinismo social” (embora nunca postulasse coisa parecida à eliminação dos “mais fracos”), sendo, certamente, um liberal até às últimas consequências.[xi] Foi o primeiro filósofo a vender mais de um milhão de cópias de seus trabalhos durante a sua vida, o que dá uma ideia de sua vasta influência.
A individualização da sociedade era a base do pensamento liberal. O liberalismo político, surgido no século precedente, fundamentou-se na necessidade de equilibrar os sentimentos humanos guiados pela irracionalidade: a superação do feudalismo e do jusnaturalismo auxiliou as primeiras declarações de direitos individuais; a “paixão liberal” se concentrou na formulação dos direitos fundamentais do indivíduo. O surgimento de uma burguesia capitalista, e a reivindicação de seus direitos políticos contra o Antigo Regime, acompanhou a gênese dos direitos individuais, formulando um credo filosófico e político em que a desconfiança em relação ao poder partia da constatação de que seu exercício era necessariamente corruptor e abusador.
A reação contra o individualismo liberal, a partir do último quartel do século XIX, tomou a forma da defesa da “comunidade nacional” como suposta portadora de interesses superiores aos do indivíduo (“cidadão”) considerado isoladamente, e se manifestou abertamente, na França, no embate entre republicanos liberais versus nacionalistas (monarquistas ou republicanos) por ocasião do “Caso Dreyfus”, na última década desse século. Partindo dessa ideia, os principais ideólogos do nacionalismo galo – Maurice Barrès, Charles Maurras – defenderam a culpabilidade do oficial judeu-francês, mesmo que ele fosse inocente, em defesa do exército francês como garante da unidade e da defesa nacional, da Pátria entendida como o locus natural do homem, da “preservação social” e da “segurança nacional” (sic: o conceito conheceria uma longa história), conceitos superiores às rejeitadas abstrações racionalistas liberais de “verdade” e de “justiça”: “Não se faz a união pelas ideias, enquanto forem raciocínios; é preciso que elas sejam multiplicadas por sua força sentimental. Na raiz de tudo há um estado de sensibilidade”; assim fundamentou “filosoficamente” Barrès, um escritor reconhecidamente talentoso até pelos seus inimigos políticos, a oposição nacionalista-comunitarista (laica ou religiosa) ao liberalismo republicano. Buscando fornecer ao nacionalismo comunitário uma base política popular, em 1898 Barrès se autodeclarou “socialista nacional”, uma combinação de termos que faria história e tragédia, nas décadas sucessivas, em outras latitudes europeias, sem poupar à França.
Confrontando antecipada e inconscientemente Max Weber, Charles Maurras chegou a escrever: “Impregnado de judaísmo, o verdadeiro protestante nasce inimigo do Estado e partidário da revolta individual”. O catolicismo de Maurras era postiço: pessoalmente, ele era agnóstico e formado filosoficamente na escola positivista de Comte (chegou a ser condenado pelo Papa). O antissemitismo vulgar estava longe de ser apanágio exclusivo de nacionalistas ou católicos antiliberais. O economista liberal inglês John A. Hobson, crítico do imperialismo de seu próprio país, e para nada católico, afirmava, na mesma época, no jornal progressista Manchester Guardian, que os campos de concentração instituídos pela Inglaterra nas África do Sul, na guerra anglo-bôer, que ele repudiava, eram produto do “capitalismo judeu”. Anatole France (chamado por Charles Maurras, revanchard da guerra franco-prussiana de 1870, de “Anatole Prússia”), no mesmo momento, escrevia no Figaro: “O antissemitismo é um preconceito bárbaro. Não acredito que perdure na França, em uma sociedade tolerante e civilizada, governada pela Razão. Essa paixão irada, essa mania bárbara, já agitou demais os espíritos”.[xii]
Contra a justificação da mentira consciente e deliberada, da injustiça e do preconceito racial, em nome da “defesa da Nação”, o pai da sociologia francesa, Émile Durkheim, “a sua maneira, também um anti-individualista, preocupado com os processos de integração à sociedade (cujos conceitos) deixam transparecer inclinações holísticas ou organicistas, dos quais muitos nacionalistas, como Barrès, tirarão proveito… [Durkheim] adverte que existe um outro individualismo, o de Rousseau, o de Kant, o que procura traduzir a Declaração dos Direitos do Homem: ‘Não há razão de Estado que possa justificar um atentado contra a pessoa, já que os direitos da pessoa estão acima dos de Estado’. Renunciar a esse princípio intangível é questionar ‘toda nossa organização moral’”.[xiii]
Se, em Durkheim, homem do século XIX, individualismo e “comunitarismo” (sob a forma da “integração social”) ainda podiam coexistir, ambos os polos se tornariam incompatíveis nas décadas e no século seguintes, nas quais o “comunitarismo nacional” (e, finalmente, racial) seria sobreposto por completo ao direito individual e, à luz da revolução soviética, à ideia de classes sociais, de luta de classes e de internacionalismo (proletário ou judeu, ou uma combinação de ambos). O impacto desses embates na teoria da história e na historiografia foi decisivo.
Foi nesse quadro que, levando o “organicismo” aos seus extremos, o alemão Oswald Spengler, sob o efeito da catástrofe provocada pela primeira conflagração bélica mundial, que lhe parecia anunciar a iminente decadência civilizacional do “Ocidente”, considerou a história das civilizações através de um paralelo com a história natural, considerando-as como seres vivos que nascem, florescem e morrem. Segundo Spengler, uma civilização se desenvolvia quando seus elementos constituintes evoluíam no mesmo ritmo e concordavam cada vez mais; atingia seu cume quando apresentava uma unidade concertada de seus elementos, declinando e morrendo quando eles se desordenavam, alguns deles tomando demasiada importância em detrimento de outros (a religião se tornava opressiva, ou a sede ou ambição material prevalecia sobre outras preocupações). Nesses esquemas não havia propriamente história, mas reprodução de ciclos civilizacionais baseada nos esquemas básicos dos ciclos naturais.[xiv] O pessimismo político/ social se transformava em “filosofia da história”.
No segundo pós-guerra, o erudito inglês Arnold Toynbee (que chegou a manifestar simpatia por Adolf Hitler e o nazismo, na década de 1930) submeteu a história universal a uma análise não só abrangente, mas totalizante, baseada numa aproximação semelhante, embora consideravelmente ampliada. Numa investigação sobre o nascimento, desenvolvimento e queda das civilizações históricas, Toynbee propôs um padrão comum, aplicável a todas elas. Segundo Toynbee, os grupos culturais ou “civilizações” (na sua análise compreensiva, ele elencou um total de 26) se sobrepunham às nacionalidades ou outras divisões contemporâneas, sendo mais bem-sucedidas aquelas civilizações que conseguiriam responder com mais eficiência aos desafios de diversas naturezas (esquema de “desafio e resposta”).
Sobre o declínio e fim de determinadas civilizações, afirmava que suas causas primárias eram sempre intrínsecas, ainda que sua causa imediata fosse externa, como uma invasão estrangeira ou um desastre natural (“civilizações morrem de suicídio, não de assassinato” – o autor denominou esse processo de “palingenesia”, termo grego que significa retorno à vida, viver de novo ou reencarnação, uma ideia com a qual o estoicismo adaptou a velha ideia oriental de eterno retorno, palingênese):[xv] “As forças em ação [na história] não são nacionais [o termo equivale a setoriais ou localizadas], procedem de causas mais vastas, agindo sobre cada uma das partes. Se se despreza sua ação de conjunto, sua intervenção não é inteligível. Diversos elementos são diversamente afetados por uma causa geral idêntica, em virtude de suas reações respectivas. Cada uma contribui à sua maneira para a ação de forças que uma mesma causa suscita. Uma sociedade confronta no decorrer de sua existência uma sucessão de problemas que cada um de seus membros deve resolver da melhor maneira…
“O enunciado de cada problema toma a forma de um desafio, sofrido como uma prova. Através dessas provas os membros da sociedade se diferenciam paulatinamente uns dos outros. Indo até o fim, é impossível compreender o significado de uma conduta individual numa situação determinada sem levar em conta a atitude, semelhante ou oposta, de outro indivíduo na mesma situação, sem considerar essas provas sucessivas como uma série de eventos na vida da sociedade”.[xvi] Nessa formulação, a sociedade seria um agregado de indivíduos (um princípio perfeitamente liberal) com o referencial comum de uma “civilização”. Para os autores citados, o caráter da produção social, ou qualquer noção que introduzisse de modo relevante a questão das classes e grupos sociais, seu confronto mútuo, e as transformações sociais dentro de cada “unidade civilizacional”, não teria relevância na hora de definir as “civilizações” e sua dinâmica. A ideia de uma única civilização mundial, com um fundamento econômico-social comum, também lhes era estranha. A especificidade histórica do capitalismo ficava diluída em determinantes culturais ou civilizacionais.
Lucien Febvre chamou as “filosofias da história” de Spengler e Toynbee de “oportunistas” (porque vinculadas com opções políticas – reacionárias – em ascensão no momento de sua concepção), sem ocultar que a obra de Toynbee “nos inspira um horror que não tentamos dissimular, embora, uma vez sopesados todos os fatores, deva inspirar-nos finalmente um metódico e raciocinado afastamento”. Spengler, nos anos 1920, suas profecias baseadas num pessimismo de efeitos retroativos, “e seus leitores, os futuros nazistas de obediência estrita, tinham inimigos em comum: a democracia, o liberalismo burguês e o marxismo. Spengler comercializava os artigos mais cobiçados: um ar patético, um anti-intelectualismo até as últimas consequências, uma noção heroica do destino, o anti-esteticismo, o calafrio da criatura humana diante do majestático, a ampla majestade da história (e) a profecia da ruína, tão cara ao pequeno burguês nazista, tão de acordo com seus sonhos de autarquia”. Spengler concluiu afastado dos nazistas, que rejeitaram seu pessimismo histórico, ao mesmo tempo em que ele rejeitava explicitamente as propostas eugenistas do partido e do governo de Hitler.
O texto citado de Febvre é de 1934, ou seja, um ano posterior à ascensão de Hitler ao poder, quando Spengler já tinha desenvolvido algum distanciamento com seus aliados nazistas, embora continuasse racista, pois as ideias extremas do nazismo tinham experimentado algumas mudanças “realistas” depois de sua chegada ao poder.
Quanto a Toynbee, “o que de louvável nos traz A Study of History não é grande coisa nova para nós. E o que nos traz de novo, não nos serve. Uma vez lido seu livro, andamos um pouco com passo vacilante, nada caiu por terra, nada ficou abalado… Não descobrimos em nosso bolso nenhuma chave, nenhuma chave mestra capaz de abrir, indistintamente, as vinte e uma portas das vinte e uma civilizações. Mas jamais pretendíamos tê-las! (…) Sabemos perfeitamente por que a história é ainda, entre as ciências humanas, uma Cinderela sentada embaixo da mesa. Nada há nisso que nos espante, nada que possa nos incitar, renunciando a nosso trabalho paciente e difícil, a nos jogar nos braços de milagreiros, de taumaturgos cândidos e astuciosos, de fabricantes de filosofias baratas da história. Mas em vinte volumes…”.[xvii]
Embora as teorias cíclicas da história não desaparecessem no segundo pós-guerra, inclusive nas versões dos dois autores criticados por Febvre, partindo da evidência da irremediável unificação econômica do mundo, os historiadores e sociólogos contemporâneos (sobretudo depois do segundo conflito bélico mundial) foram logicamente obrigados a considerar a origem do capitalismo, como sistema econômico/social, como uma questão central. Assim, Fernand Braudel identificou como capitalista a expansão da economia comercial e monetária medieval, acrescida da “mudança de mentalidade” econômica, ideia que fora argumentada no início do século XX pelos representantes da sociologia alemã (Tönnies e, sobretudo, Troeltsch),[xviii] por Werner Sombart e, finalmente, por Max Weber.
Para Sombart, o bourgeois, o homem econômico moderno, aliava a condição de cidadão (bürger, habitante da cidade) à de empresário, a “santa economicidade”, que seria possível identificar na masserizia de Florença no século XV, mas que já existia antes dela: “A meados do século XIII já existiam em Florença oitenta companhias dedicadas à banca… Nos negócios florentinos se usavam, com frequência, contratos singulares: acordava-se em trocar, em data determinada, trigo por óleo, tecidos por lã, e completar com dinheiro a diferença resultante do preço em curso entre as duas mercadorias. Era uma espécie de jogo de Bolsa”.[xix]
A moral dos negócios (previsibilidade, respeito pela palavra dada) e a mentalidade calculadora, que tudo tende a quantificar, originaram, para Sombart, o “espírito de empresa”: as campanhas militares e as atividades marítimas de corso deram origem ao “espírito capitalista”. Neste coexistiriam o desejo de enriquecimento, a paixão pelo dinheiro (substituindo à cobiça mercantilista pelo ouro), o espírito inventivo, inovador, conquistador e organizador, o sentido de oportunidade, o engenho, a inspiração. O “burguês”, um novo tipo histórico, criara uma época à sua imagem e semelhança.[xx]
Já segundo Max Weber, o capitalismo moderno nasceu no século XVI na Europa ocidental, no esteio da era da Reforma Protestante, quando o entesouramento do dinheiro foi deslocado pelo reinvestimento dele, pelo uso do dinheiro como capital; o que definiu o capitalismo moderno não foi a busca de lucro em geral, mas a acumulação de capital. O historiador francês Henri Hauser, num diapasão semelhante, também situou o nascimento do capitalismo no século XVI, embora sem sua base “civilizacional” weberiana,[xxi] que situa a especificidade do Ocidente na sua herança judaico-cristã e na forma que ela adquiriu a partir da Reforma Protestante no século XVI, criando a base de uma ideologia e uma moral diferenciadas, decisivas na formação do capitalismo moderno, baseado numa conduta racional ascética derivada da ideia de “vocação”. Sobre essa base, Weber analisou as desigualdades sociais a partir de três dimensões: riqueza, prestígio e poder: classe era uma categoria relativa à primeira delas, definindo um conjunto de indivíduos que compartilhassem a mesma situação em relação ao mercado.
Para Max Weber, o quid do sistema capitalista era um elemento espiritual ou religioso capaz de criar normas de condutas convincentes, operantes e universais: o capitalismo era uma consequência não desejada, um efeito “colateral” da nova ética protestante, que abriu as portas dos conventos deixando sair deles uma religiosidade exaltada e ascética, que contagiou à existência social, em contraposição crítica à moral católica precedente. A concepção de um protestantismo “dissolvente” (ou “libertador”), contraposta a um catolicismo preservador das hierarquias sociais e da tradição, já era comum no pensamento conservador e reacionário, uma ideia resumida por Michel Winock: “O catolicismo é latino, hierárquico e dogmático: é a ordem na sociedade como nos espíritos. O cristianismo, particularmente sob a forma protestante, é suíço, individualista e anarquista: autoriza cada um a procurar sua própria religião, a ser seu próprio padre e a ler diretamente os livros sagrados, sem filtro, sem comentário, sem pano de fundo”.[xxii]
No contexto do embate suscitado por essas ideias, que tomou formas políticas agudas, foi que Max Weber caracterizou o capitalismo “baseado no cálculo” como filho involuntário do “ascetismo mundano” protestante, transformado em “religião laica”. Os métodos contáveis racionais estavam “associados ao fenômeno social de ‘disciplina da loja’ e à apropriação dos meios de produção, o que significa: com a existência de um ‘sistema de dominação’ [Herrschaft verhaeltniss]”.[xxiii]A burguesia europeia, segundo Weber, diferia de outras classes dominantes por considerar que sua atividade não era só lucrativa, mas também imperativa do ponto de vista religioso e moral: “O capitalista caracterizava-se por uma combinação única de dedicar-se a ganhar dinheiro, pela racionalização da atividade econômica, e de evitar o uso da renda para o gozo pessoal. Os meios racionais estavam ligados a um fim aparentemente irracional. Weber atribuía esse espírito distintivo do capitalismo ocidentais à ética das seitas protestantes ascéticas… Foi a noção de que o desempenho eficiente demonstrava uma vocação ou um chamado que deu origem ao comportamento racionalizado peculiar do capitalista moderno. Ele ilustrou essa tese comparando as atitudes morais do puritano inglês Richard Baxter com o credo capitalista expressado nos escritos de Benjamin Franklin”.[xxiv]
Não era só a origem desse comportamento racional/irracional a que ficava escura em Weber, mas a própria origem do capital como relação social dominante: Marx já havia criticado, quatro décadas antes, aqueles que consideravam essa origem com os critérios criacionistas das Sagradas Escrituras. Criticando Weber, Emmanuel Le Roy Ladurie apontou que o sociólogo alemão “deu ênfase ao papel central que a personalidade austera ocupa na sociologia religiosa do Antigo Regime (mas) essa personalidade não é essencialmente uma premissa do capitalismo. No máximo pode se dizer que a propensão à poupança, que incentiva nossos castos camponeses a amealhar um enxoval antes de se casar já em idade considerável, constitui um dos componentes clássicos do espírito pequeno-burguês. Se nos interessarmos por um capitalismo de maior envergadura, temos de reconhecer que Max Weber errou: pioneiros dos grandes negócios, os arrendatários de fazendas não eram grandes exemplos de ascetismo; Benjamin Franklin, de cujos escritos Max Weber tirou tantas citações relativas à austeridade, esteve de fato bem provido de amantes”.[xxv]
Para Werner Sombart, o puritanismo e o calvinismo invocados por Weber tinham uma influência prévia na prática do povo judeu; a formação do “espírito capitalista” se constituíra a partir de ideias da religião judaica e da prática histórica dos judeus: “Já durante a Idade Média encontramos os judeus em toda parte como arrendatários de impostos, de salinas e domínios, como tesoureiros e financiadores… Muito significativo para o comportamento dos judeus é, em primeiro lugar e, sobretudo, sua dispersão por todos os países da terra habitada, que existiu de fato desde o primeiro exílio, mas que se consumara novamente de modo especialmente efetivo depois de sua expulsão de Espanha e Portugal e depois de grandes contingentes deixarem a Polônia (quando) fixaram nova residência na Alemanha e na França, na Itália e na Inglaterra, no Oriente e na América, na Holanda e na Áustria, na África do Sul e na Ásia oriental… … Aquilo que Weber atribui ao puritanismo não teria sido realizado talvez bem antes disso, e também depois, em grau ainda mais elevado pelo judaísmo; e inclusive aquilo que denominamos puritanismo não seria mais propriamente, em seus traços essenciais, judaísmo?”.[xxvi] Já vimos como Charles Maurras, apontado como precursor francês do nazismo, defendeu uma ideia semelhante em finais do século XIX.
A tese de Sombart foi criticada pela sua metodologia discutível, sua superficialidade e analogias formais, sua imprecisão e unilateralidade, suas conclusões à la va vite, e vários outros aspectos.[xxvii] O ponto mais polémico foi, como se pode imaginar, sua relação com a ideologia do nazismo, que perpetrou o maior e mais concentrado extermínio da história (dirigido, em primeiro lugar, contra os judeus) assimilando ideológica e historicamente capitalismo, judaísmo e bolchevismo (este último não citado por Sombart, seu texto era de 1911). O fato indiscutível é que, já durante a República de Weimar, nos anos 1920, Sombart evoluiu para o nacionalismo e, depois da ascensão do nazismo, escreveu “Socialismo Alemão”, onde afirmou que um “novo espírito” estava começando a “governar a humanidade”: a era do capitalismo e do “socialismo proletário”se haviam encerrado com o “socialismo alemão”, que colocava o “bem-estar do todo acima do bem-estar do indivíduo”, direcionando sua ação para uma “ordem total de vida”.
Yuri Slezkine criticou a tese sombartiana de que o nomadismo (condição excepcional em uma era já sedentária nos principais povos de seu entorno geográfico), primeiro pastoril e depois comercial, dos judeus, seria a matriz originária e longínqua do comportamento capitalista, tendo sua origem na “domesticação ética do homem” produzida pela primeira religião concebida como Lei (a mosaica), nascida de condições de vida específicas desse povo, impondo, portanto (por ser Lei e não simples idolatria), uma “ética”, de comprimento e estudo obrigatório permanente para seus professantes. Slezkine viu nisso uma reedição da “velha oposição entre o legalismo, a disciplina e o domínio de si, do hebraísmo; e a liberdade, espontaneidade e harmonia do helenismo”,[xxviii] uma (suposta) oposição milenar, que, certamente, não nos leva longe no estudo e análise da emergência de um sistema econômico relativamente recente.
Segundo outros autores, o capitalismo ou a “sociedade burguesa” teriam uma origem mais recente e não vinculada a uma variante religiosa, ética ou comportamental específica. Em A Força da Tradição, Arno J. Mayer insistiu sobre as variadas formas de “sobrevivência do Antigo Regime”,[xxix] criticando as ideias recebidas acerca da sociedade europeia pós-revoluções (econômica e política, industrial e francesa), propondo novas interpretações sobre os nexos entre o novo mundo burguês e as formas econômicas, sociais, políticas, artísticas, culturais e ideológicas do Antigo Regime, formas que sobreviveram por um longo período após essas revoluções. Para Jacques Le Goff, a Idade Média europeia teria durado até o século XVIII, pois antes dessa época o “sistema econômico” não era reconhecido como tal. Entre esses séculos, as concepções de tempo e de trabalho da teologia cristã foram adaptadas pela Igreja Católica às novas realidades econômicas, mudando o significado do tempo no mundo rural medieval, que começava a se urbanizar.
No século XX, as conceituações e os métodos originados na sociologia ou na economia penetraram a historiografia (que também as submeteu à sua crítica), mudando parcialmente seu foco. O principal questionamento metodológico à história “baseada em fatos comprovados” (évenements) e sua “reconstrução fidedigna”, a crítica à histoire évenementielle em defesa de uma “história sintética”, foi levado adiante de modo sistemático já avançado o século XX. Henri Berr, historiador francês, inspirou uma síntese, a partir de inícios do século, na Revue de Synthèse Historique: “O erudito leva a cabo uma tarefa indispensável, preparando os materiais dos que a ciência precisa para constituir-se, sem os quais a síntese não seria outra coisa que metafísica ou literatura. Não se poderia opor a erudição à síntese histórica, do mesmo modo que, nas ciências da natureza, não se opõe a observação à generalização. Para a história ‘historizante’ as coisas são diversas. É uma forma de história que, se bastando a si mesma, pretende também bastar para o conhecimento histórico. Buscar causas particulares dos fatos particulares não é um trabalho científico, é só descritivo (mas) buscar o papel de certas causas que, intervindo de modo geral no decurso dos fatos humanos, não poderiam deixar de ter agido, esse trabalho, verdadeiramente científico, deve repousar sobre um estudo prévio da causalidade, sobre o conhecimento das diversas ordens de causa, sobre um método consciente, isto é, sobre a teoria ou a lógica da história”.[xxx] Procurando causas gerais para fatos particulares, a história era a “ciência do particular”.
Uma nova geração de historiadores foi se delimitando em recusa à oposição entre história “especialista” e história “sintética”. Um dos fundadores dos Annales respondeu a Berr: “A história historizante exige pouco. Muito pouco. Demasiadamente pouco para mim e muitos outros. Essa é nossa queixa, mas é sólida. A queixa daqueles para quem as ideias são uma necessidade”.[xxxi] Revista fundada em 1929, nos Annales as inovações da sociologia e a contribuição teórica de Marx “contagiaram” a historiografia. O capitalismo, no entanto, apareceu nos principais representantes dessa escola desprovido das rupturas que lhe deram origem. Fernand Braudel, um de seus autores mais representativos, privilegiou, na sua indagação sobre a relação entre civilização material, economia e capitalismo (numa obra na qual ele citou Karl Marx mais do que qualquer outro autor),[xxxii] “os usos repetidos, os procedimentos empíricos, as velhas receitas, as soluções vindas da noite dos tempos, como a moeda ou a divisão cidade-campo”. O capitalismo não seria, para esse autor, um conceito histórico “suficiente”, pois deveriam ser relacionados os planos da “vida material”, da “vida econômica” e, finalmente, o “jogo capitalista”: “É impossível chegar a uma boa compreensão da vida econômica se não se analisam antes as bases do edifício”.[xxxiii]
O capitalismo estaria assim “sobredeterminado” pelo processo da “vida material” (constituída pelo hábito secular, incluído o intercâmbio de bens, e situado na “longa duração” histórica)[xxxiv] onde a imutabilidade e o atavismo seriam tão determinantes que não poderia haver, propriamente, “leis de movimento”: “A história inconsciente é precisamente aquela que se situa na longa duração, por trás da crosta dos acontecimentos demasiado legíveis e que é lícito organizar em estruturas sucessivas, em que se correspondem os elementos complementares de um sistema. História socioeconômica, porém, mais do que a dos movimentos e das rupturas até então privilegiadas, história das ‘civilizações econômicas’ em sua constância, ‘camadas de história lenta’ movendo-se na ‘semi-imobilidade’ de um ‘tempo desacelerado’. Além disso, também história cultural ou das mentalidades, definida como o campo privilegiado desses estudos no tempo longo, porque concebido como história das ‘inércias’ e das ‘prisões de longa duração’”.[xxxv] O capitalismo seria um caso particular dentro de uma estrutura histórica geral, não uma ruptura em relação às sociedades precedentes, nem a reformulação ampliada e universal, sobre novas bases históricas, de suas contradições. Os debates acerca da natureza histórica do capitalismo, assim como os do vínculo entre essa noção e aquela de “civilização”, ou “civilizações”, estão muito longe de superados; eles reaparecem constantemente no campo da teoria e da política.
*Osvaldo Coggiola é professor titular no Departamento de História da USP. Autor, entre outros livros, de Teoria econômica marxista: uma introdução (Boitempo).
Notas
[i] Marc Joly. La Révolution Sociologique. De lanaîssance d’un regime de pensée scientifique à la crise de laphilosophie (XIXè-XXè siècle). Paris, La Découverte, 2017. Ver também: Owen Chadwick. The Secularization of the European Mind in the 19th Century. Nova York, Cambridge University Press, 1993.
[ii] Roger Bartra. El modo de producción asiático em el marco de las sociedades pré-capitalistas. In: Jean Chesnaux. Op. Cit.
[iii] Manuel Cazadero. Desarrollo, Crisis e Ideología en la Formación del Capitalismo. México, Fondo de Cultura Económica, 1986.
[iv] Charles de Montesquieu. O Espírito das Leis. São Paulo, Martins Fontes, 2000.
[v] William Robertson (1721-1793), historiador escocês, foi ministro da Igreja da Escócia. Seu trabalho mais conhecido foi sua História da Escócia 1542-1603, publicado em 1759. Foi uma figura importante do Iluminismo escocês e do Partido Moderado da Igreja da Escócia.
[vi] Antoine Barnave. Introduction à la Révolution Française.Paris, Association Marc Bloch, 1977 [1793].
[vii] Emmanuel Terray. O Marxismo diante das Sociedades Primitivas. Rio de Janeiro, Graal, 1979.
[viii] Pierre Vilar. Iniciación al Vocabulario del Análisis Histórico. Barcelona, Crítica, 1982.
[ix] Antoine Pelletier e Jean-Jacques Goblot. Materialismo Histórico e História das Civilizações. Lisboa, Estampa, 1970.
[x] Jean Möller. Traité des Études Historiques. Louvain, Librairie de Ch. Peeters, 1887.
[xi] Herbert Spencer. The Man Versus the State. Indianapolis, Liberty Classics, 2012 [1884].
[xii] Para desgraça e desgosto de France, continuou a agitar, principalmente em meios intelectuais: “Se a França fascista não é lá grande coisa – politicamente falando – a França antissemita é uma indiscutível realidade, e a ela, alguns de nossos maiores escritores – além de vários outros menores – emprestaram seus talentos literário” (Michel Winock. O Século dos Intelectuais. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2000).
[xiii] Idem.
[xiv] Oswald Spengler. A Decadência do Ocidente. Rio de Janeiro, Zahar, 1973 [1918].
[xv] Arnold Toynbee. Um Estudo da História. São Paulo, Martins Fontes, 1986 [1934].
[xvi] Arnold Toynbee. L’Histoire. Un essai d’interprétation. Paris, Gallimard, 1951.
[xvii] LucienFebvre. De Spengler a Toynbee: dos filosofías oportunistas de La historia. Combates por La Historia. Barcelona, Ariel, 1971 [1953].
[xviii] Ernst Troeltsch. Protestantisme et Modernité. Paris, Gallimard, 1991 [1906]. O autor, contemporâneo e amigo de Max Weber, criticou sua “Ética Protestante” insistindo sobre as diferenças entre luteranismo e calvinismo.
[xix] Georges Renard. Historia del Trabajo en Florencia. Buenos Aires, Heliasta, 1980 [1913].
[xx] Werner Sombart. El Burgués. Contribución a la historia espiritual del hombre económico moderno. Madri, Alianza, 1993 [1913].
[xxi] Henri Hauser. Les Débuts du Capitalisme. Paris, Félix Alcan, 1931.
[xxii] Michel Winock. Op. Cit.
[xxiii] Max Weber. A Ética Protestante e o “Espírito” do Capitalismo. São Paulo, Companhia das Letras, 2004 [1905].
[xxiv] Richard Bellamy. Liberalismo e Sociedade Moderna. Editora da Unesp, 1994.
[xxv] Emmanuel Le Roy Ladurie. História dos Camponeses Franceses. Da Peste Negra à Revolução. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2007.
[xxvi] Werner Sombart. Os Judeus e a Vida Econômica, São Paulo, Editora Unesp, 2014 [1911]. Inicialmente, Sombart era marxista – Friedrich Engels disse que ele era o único professor alemão que entendia Das Kapital; posteriormente escreveu que “era preciso admitir que Marx cometera erros em muitos pontos importantes”.Depois se transformou, segundo Hugo Reinert, “provavelmente no economista mais influenciado por Nietzsche”.
[xxvii] O marxista (trotskista) Abraham Leon, morto no campo de extermínio de Auschwitz, em 1944, em plena resistência ao nazismo escreveu um célebre e polêmico texto, em que sustentou que o papel histórico dos judeus, produto de um longo desenvolvimento, tinha-os configurado como um “povo-classe”, confinado pelo capital à funcão de impulsionar e favorecer a circulação internacional do dinheiro, o que os tinha tornado especialmente aptos para gerir as finanças. Leon, no entanto, não atribuiu nenhuma relação de paternidade aos judeus em relação ao capitalismo (La Conception Matérialiste de la Question Juive. Paris, Editions Documentation Internationale, 1968 [1942]).
[xxviii] Yuri Slezkine. Le SiècleJuif. Paris, La Découverte, 2009.
[xxix] Arno J. Mayer. A Força da Tradição. A persistência do Antigo Regime 1848-1918. São Paulo, Companhia das Letras, 1987.
[xxx] Henri Berr. L´Histoire Traditionnelle et La Synthèse Historique. Paris, Librairie Félix Alcan, 1921.
[xxxi]Lucien Febvre. Sobre uma forma de hacer historia que no es La nuestra: La historia historizante. Op. Cit.
[xxxii] Fernand Braudel. Civilización Material y Capitalismo. Barcelona, Labor, 1974.
[xxxiii] Fernand Braudel. La Dynamique du Capitalisme. Paris, Artaud, 1985.
[xxxiv] Sobre a diferença que Braudel estabeleceu entre capitalismo e vida econômica, e suas diferenças com Marx, ver: Bolivar Echeverria. El concepto de capitalismo en Marx y en Braudel; Immanuel Wallerstein. Braudel sobre el capitalismo o todo al revés. In: Carlos A. Aguirre. Primeras Jornadas Braudelianas. Buenos Aires, Instituto Mora, sdp.
[xxxv] Michel Vovelle. A história e a longa duração. In: Jacques Le Goff. A História Nova. São Paulo, Martins Fontes, 1995.