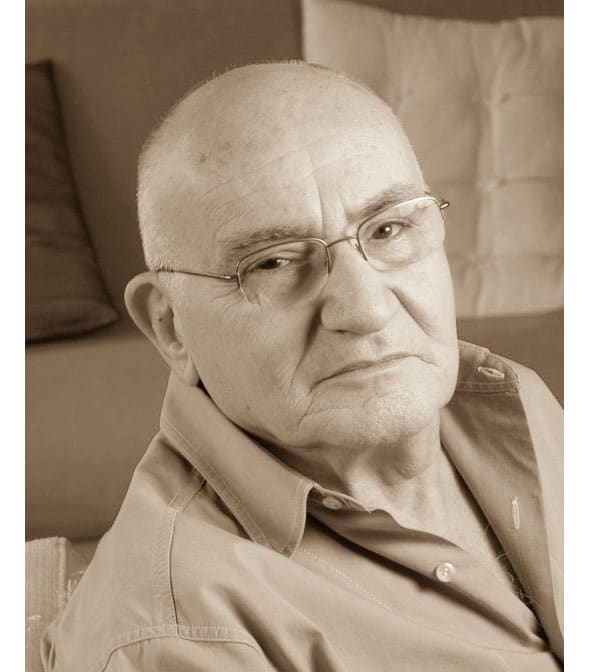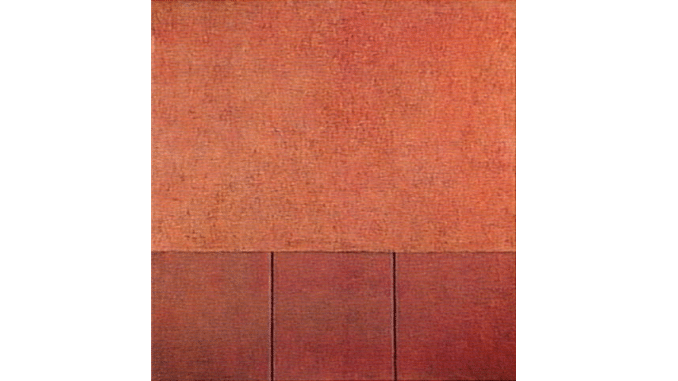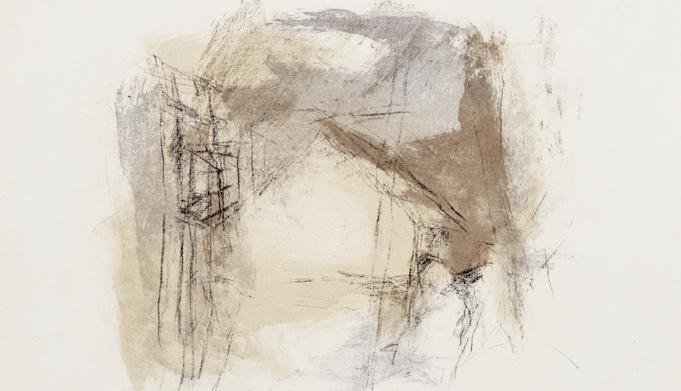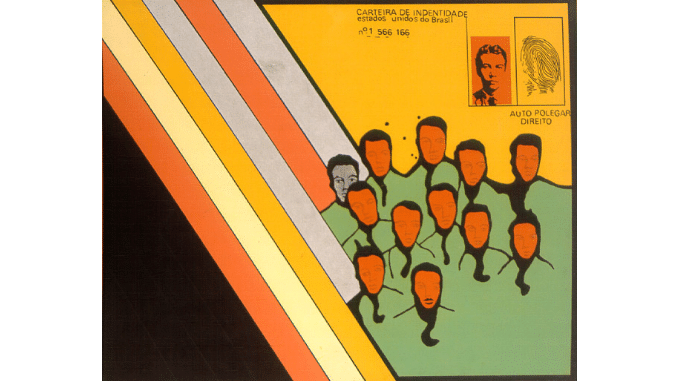Por TARIK CYRIL AMAR*
Há paralelos arrepiantes entre o sofrimento de Julian Assange e o dos civis de Gaza
Recentemente, duas das injustiças mais marcantes do Ocidente contemporâneo foram objeto de processos judiciais. E embora uma envolva assassinato em massa e a outra a tortura ainda que não o assassinato de uma única vítima (pelo menos por enquanto), há boas razões para justapor sistematicamente as duas. O sofrimento envolvido é diferente, mas as forças que o causam estão intrinsecamente ligadas e, como veremos, revelam muito sobre a natureza do Ocidente como ordem política.
Em Haia, o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) da ONU – também conhecido como Corte Internacional – realizou extensas audiências (envolvendo 52 Estados e três organizações internacionais) sobre a ocupação – ou a anexação de fato – dos territórios palestinos pós-1967 por Israel. Embora não sejam a mesma coisa, estas audiências estão relacionadas com o processo de genocídio contra Israel, também em curso atualmente no Tribunal Internacional de Justiça.
Tudo isto ocorre num contexto de genocídio implacável dos palestinos por Israel, através de bombardeios, disparos (incluindo alegadamente crianças pequenas, na cabeça), bloqueio e fome. Até o momento, a contagem do número de vítimas, em constante crescimento e de modo conservador, é de cerca de 30.000 mortos, 70.000 feridos, 7.000 desaparecidos e pelo menos dois milhões de deslocados, muitas vezes mais de uma vez, sempre em condições horríveis.
Em Londres, os Tribunais Reais de Justiça têm sido o palco da luta de Julian Assange por um recurso contra a exigência de Washington de extraditá-lo para os EUA. Julian Assange, um ativista e editor de jornalismo investigativo, já está em confinamento – de uma forma ou de outra – há mais de uma década. Desde 2019, está detido na prisão de alta segurança de Belmarsh. De fato, o que já lhe aconteceu é o equivalente moderno de ser trancado na Bastilha por uma “lettre de cachet” real na França absolutista, pré-revolucionária, do Antigo Regime. Vários observadores, incluindo um relator especial da ONU, argumentaram de forma convincente que o tratamento de Julian Assange equivale à tortura.
A essência de sua perseguição política – na verdade, não há um caso legal de boa-fé – é simples: através de sua plataforma WikiLeaks, Julian Assange publicou vazamentos de informações que expuseram a brutalidade, a criminalidade e as mentiras das guerras dos EUA e do Reino Unido (e, de modo mais geral, do Ocidente) após o 11 de setembro. Embora o vazamento de segredos de Estado não seja legal – ainda que possa ser moralmente obrigatória e até heroica, como no caso de Chelsea Manning, que foi uma das principais fontes do WikiLeaks –, a publicação dos resultados desses vazamentos é legal.
De fato, este princípio é um pilar reconhecido da liberdade e independência dos meios de comunicação. Sem ele, a mídia não pode desempenhar qualquer tipo de função de vigilância. No entanto, Washington está obstinada e absurdamente tentando tratar Assange como um espião. Se o conseguir, a “liberdade global da mídia” (se é que vale de alguma coisa…) está frita. É isto que faz de Julian Assange, objetivamente, o prisioneiro político mais importante do mundo.
Se for extraditado para os Estados Unidos, cujos mais altos funcionários já planejaram inúmeras vezes seu assassinato, o fundador do WikiLeaks definitivamente não terá um julgamento justo e morrerá na prisão. Nesse caso, seu destino se transformará irreversivelmente naquilo em que Washington e Londres têm trabalhado há mais de uma década, ou seja, fazer dele um exemplo, desferindo o golpe mais devastador que se possa imaginar contra a liberdade de expressão e uma sociedade verdadeiramente aberta.
O fato de Gaza e Julian Assange terem algo em comum já foi notado por mais de um observador. Ambos representam uma pletora de patologias políticas, incluindo a crueldade impiedosa, a “justiça” politizada, a desinformação dos meios de comunicação em massa e, por último, mas não menos importante, a velha especialidade do “jardim” ocidental, a hipocrisia máxima.
Há também o sentido americano grotescamente arrogante de direito global: os direitos dos palestinos ou, na verdade, sua humanidade não valem de nada se Israel, o aliado mais próximo e sem lei de Washington, quiser suas terras e suas vidas. Julian Assange, claro, é um cidadão australiano.
Julian Assange e Gaza também se relacionam de modo concreto: embora haja uma subtrama da Fúria Russa (também conhecida como “Russiagate”) na campanha de vingança de Washington contra o fundador da WikiLeaks, ele é mais odiado pelo fato de ter ousado mostrar ao mundo até que ponto os EUA e seus aliados têm sido cruéis e sanguinários em suas guerras no Oriente Médio, a mesma região em que Washington é agora, pelo menos, um cúmplice indispensável, ou mesmo um coautor do genocídio de uma população que é majoritariamente (embora não exclusivamente) muçulmana e “morena”.
No entanto, há outro aspecto do complexo Gaza-Assange que não devemos perder de vista. Em conjunto, estes dois grandes crimes de Estado revelam um padrão, uma síndrome que aponta para o tipo de ordem política real que está sendo desenvolvida agora no Ocidente.
Algumas coisas são óbvias: em primeiro lugar, embora seja sempre mais uma aspiração do que uma realidade, o Estado de direito (nacional e internacional) está comprometido de uma forma particularmente flagrante. É como se o Ocidente quisesse que soubéssemos que não dá a mínima para a lei.
Basta considerar dois fatos: mesmo depois do Tribunal Internacional de Justiça ter dado instruções (aqui designadas por “medidas preliminares”) a Israel que teriam, de fato, posto fim à maior parte de seu ataque genocida se fossem obedecidas, Israel simplesmente não as cumpriu. E seus parceiros no Ocidente juntaram-se a ele de forma demonstrativa neste desafio, entre outras coisas, ajudando Israel a desmantelar a UNRWA, tornando, assim, ainda pior o bloqueio de fome em Gaza. Quanto a Julian Assange, sua mulher Stella, que é advogada, declarou da melhor forma ao observar que todos os abusos flagrantes em relação a seu marido estão “registrados publicamente e, no entanto, continuam”.
Em segundo lugar, o Ocidente não é, de fato, um “jardim” ordenado, mas sim uma “selva” feroz de grupos e establishments de cooperação, e também de interesses rivais. Está retoricamente obcecado em celebrar não apenas seus chamados “valores”, mas também sua unidade. Entretanto, na realidade, isso é uma indicação de quão precária essa unidade realmente é. O mesmo acontece com o uso crescente pelo Ocidente de campanhas de medo, exagerando massivamente ou mesmo inventando ameaças do exterior (Rússia e China são os principais alvos desta técnica) e, ao mesmo tempo, negando até a possibilidade de diplomacia e comprometimento.
Ao mesmo tempo, este é o mesmo Ocidente cujos membros chegaram agora à fase de explodir a infraestrutura vital uns dos outros e de canibalizar as economias uns dos outros. Para não falar da espionagem mútua e, certamente, da chantagem mútua com as informações comprometedoras produzidas por essa espionagem.
Em terceiro lugar, o Ocidente, ao mesmo tempo em que desrespeita e infringe suas próprias leis – para não falar dos “valores” e das “regras” que professa –, de alguma forma ainda é capaz de atuar e causar danos como uma máquina vasta, mesmo que nem sempre bem coordenada, quando faz valer seus interesses vorazes – e muitas vezes mal concebidos.
Que tipo de ordem política é esta? Creio que nossa melhor aposta para avaliar este Ocidente selvagem, mas colaborativo, sem lei, mas baseado em instituições, é recuar muito no tempo, até os conceitos-chave de dois dos primeiros e brilhantes analistas da Alemanha nazista, Franz Neumann e Ernst Fraenkel. A chave de Franz Neumann para compreender a bagunça violenta que foi o Terceiro Reich foi imaginá-lo como um Behemoth, no sentido do filósofo político inglês e pessimista nato Thomas Hobbes. Ao contrário do Leviatã quase perfeitamente autoritário de Hobbes, seu Behemoth, explicou Franz Neumann, representava um Estado que era, na realidade, um “não-Estado, uma situação caracterizada pela completa ausência de lei”. Ernst Fraenkel sugeriu um modelo diferente. Para ele, a Alemanha nazista podia funcionar, apesar de seu caos interior, porque era ao mesmo tempo um Estado que ainda tinha leis (embora muitas vezes injustas) e um Estado que impunha medidas, livre de restrições legais.
É claro que o Ocidente atual não é literalmente o equivalente do Reich nazista. Embora, se considerarmos que é cúmplice do genocídio em curso por parte de Israel, perceberemos que não se igualar aos nazistas é uma linha muito tênue – e pouco consolo para um pai ou mãe palestinos cuja criança acaba de ser deliberada e lentamente levada à morte pela fome, por exemplo. Em outro detalhe, Franz Neumann rejeitou a teoria de Ernst Fraenkel por, essencialmente, equiparar a um sistema o Estado-monstro alemão. Mas os acadêmicos são acadêmicos.
O ponto mais importante é que é impossível não ver tendências notáveis e perturbadoras no Ocidente contemporâneo que ressoam tanto no Behemoth de Franz Neumann como no estado de leis e medidas de Ernst Fraenkel, ou, se quisermos, de regras e arbitrariedade. Chocante? Claro que sim. Exagerado? Aqueles que continuam dizendo isso para si mesmos terão um duro despertar caso se encontrem onde estão os palestinos e Julian Assange, em suas diferentes formas: no mesmo lado negro daquela que é provavelmente a ordem política mais desonesta e pouco confiável do mundo neste momento.
*Tarik Cyril Amar, doutor em história pela Universidade de Princeton, é professor da Universidade Koç (Istambul). Autor, entre outros livros, de The Paradox of Ukrainian Lviv (Cornell University Press).
Tradução: Fernando Lima das Neves
Publicado originalmente no portal RT.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA