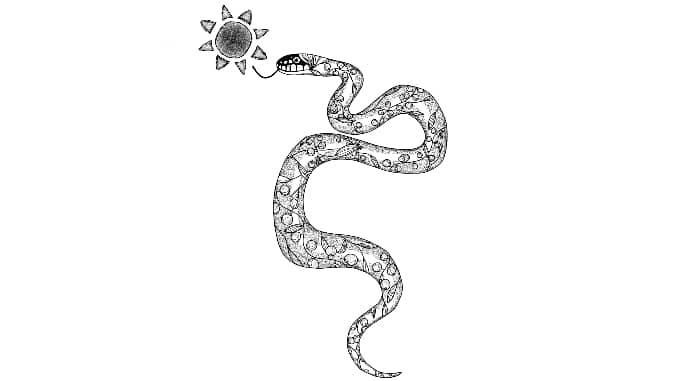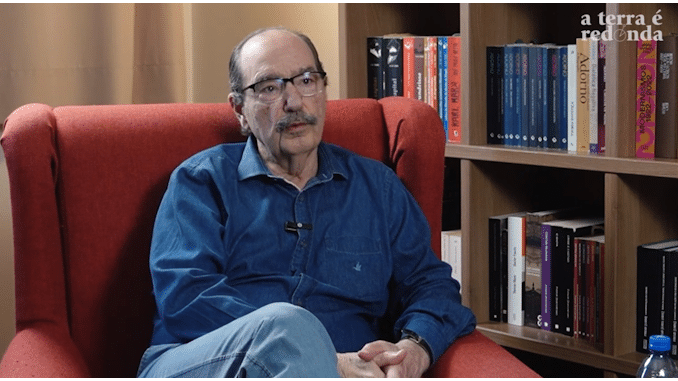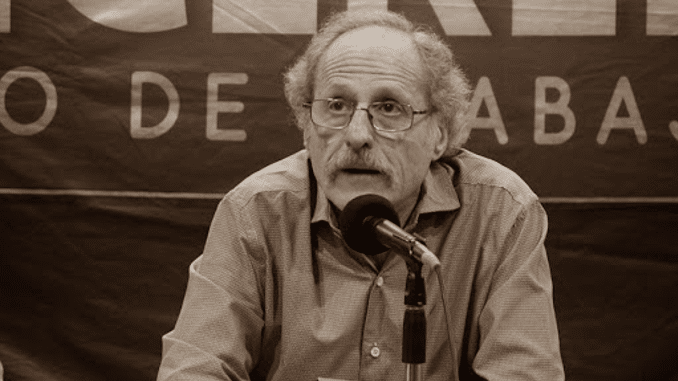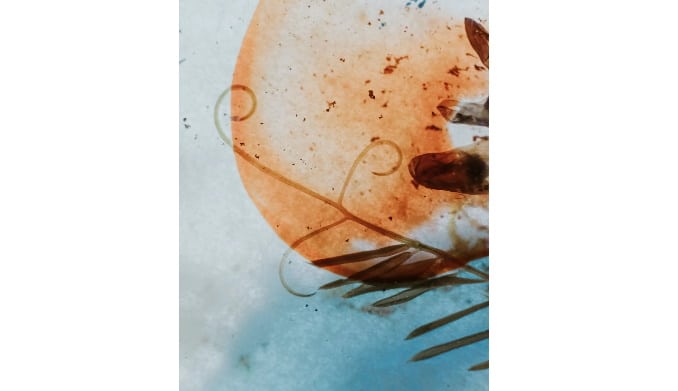Por LUIZ MARQUES*
O deslocamento de sentido nas metáforas reforça a consciência e com a transfiguração artística denuncia as traições
O conto “Bola de Sebo” (Boule de Suif) escrito por Guy de Maupassant transcorre na Guerra Franco-Prussiana ou Franco-Germânica, no lapso entre 19 de julho de 1870 e 10 de maio de 1871. Às vésperas da vitória dos alemães, “que faziam ressoar o chão sob o seu passo duro”, acende o sinal vermelho da Comuna de Paris (18 de março a 28 de maio de 1871). Os dois meses e dez dias de duração da utopia dos communards resgataram do ostracismo a “democracia direta”, usada por Marx para ilustrar o conceito de “ditadura do proletariado” – que mais confunde do que esclarece.
No relato, datado em 1880, depois de tropas francesas baterem em retirada uma comunidade é sitiada por “aqueles homens vitoriosos, donos ‘por direito’ da cidade, dos bens e das vidas”, com “sua voz desconhecida e gutural”. De repente, as leis convencionais estavam à mercê do arbítrio e da “brutalidade inconsciente e atroz”. A nova ordem social mudou as hierarquias, como era de se esperar. “Agora cabia aos vencidos o dever de se mostrarem amáveis para com os vencedores”.
Alguns tentam fugir da invasão em uma diligência, para se manter à distância do inimigo. Em vão. No caminho, o grupo faz escala. Todos descem, inclusive a “prostituta” admirada por democratas que abjuram o exército estrangeiro de ocupação. A “gordinha precoce” tem o apelido de “Bola de Sebo”. À época, a violência linguística contida na gordofobia, homofobia e racismo era tolerada; foi arquivada pela dinâmica igualitária e civilizatória contra os tratamentos de evidente discriminação.
No albergue, controlado por alemães, os retirantes são apresentados ao oficial que soberbo mostra-lhes quem dá ordens. Na noite fria em que a neve cai, jantam, bebem e são informados que o oficial deseja falar com Mademoiselle Elisabeth Rousset, em seu alojamento. O mal estar se instala. Bola de Sebo recusa o convite, e é avisada que “pode ocasionar dificuldades consideráveis, para todos os seus companheiros”. A contragosto, declara. “É pelos senhores que atendo a tal pedido, podem acreditar”, diz. “Pelo que todos lhe agradecemos”, ouve. Passados alguns minutos retorna ao salão da hospedaria. “Oh! Que canalha!”. Instigada, não narra a infâmia que sucedeu e tanto indignou-a. Recebe solidariedade geral, e sente que não está sozinha ao defender sua dignidade com altivez.
“A metáfora também ajuda a situar o lawfare de desconstrução da reputação dos governos petistas e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
De manhã, descobrem que o cocheiro recebeu ordens para não atrelar os cavalos. À tarde, “o oficial prussiano manda perguntar a Mlle. Rousset se ainda não mudou de ideia”. Responde, seca: “Nunca consentirei”. Desta vez, a reação do coletivo é de tédio e cansaço. “Ela podia salvar as aparências, dizendo ao oficial que só o fazia por compaixão aos viajantes. Para ela, tinha pouca importância. O fim justifica os meios”. Riem. Elaboram então estratégias para a cortesã ir ao quarto do opressor. O assédio ganha adeptos na trincheira. Ela acede. Ao retornar, “pareciam não vê-la, não conhecê-la”.
Trata-se de uma metáfora literária sobre o formidável acontecimento que foi a Comuna de Paris. “O salvador desconhecido, o herói que se revelaria quando tudo parecesse perdido, quem sabe um outro Napoleão I”, elucubra o contista sobre a proximidade da derrota, da França. O sacrifício, com o massacre dos insurgentes para encerrar a aventura, joga o assunto no poço profundo do silêncio. O idílio com os communards é curto; duradouro é o medo de ser feliz, o conformismo, a covardia.
Geni e o Zepelin
Chico Buarque talvez tenha se inspirado no escritor francês para compor “Geni e o Zepelin”, que integra a peça musical Ópera do Malandro (1978), encenada por Luis Antônio Martinez Correa. A letra refere o Zepelin que paira no céu enquanto o comandante ameaça: “Quando vi nesta cidade / Tanto horror e iniquidade / Resolvi tudo explodir / Mas posso evitar o drama / Se aquela formosa dama / Esta noite me servir // Essa dama era Geni / Ela dá pra qualquer um”. Autoridades imploram, “Vai com ele, vai Geni”. Ela cede. Ao amanhecer, o Zepelin parte. E o município retoma a rotina. “Joga pedra na Geni / Ela é feita para apanhar / Ela é boa de cuspir / Maldita Geni”. De nada valeu.
A música pode ser interpretada em alusão aos guerrilheiros saudados pela coragem de confrontar a ditadura, para salvar a democracia. Presos, torturados, mortos ou exilados os bravos recebem em troca a indiferença da sociedade oficial que enxovalha seu desprendimento, seu idealismo e os atos de redenção; ao mesmo tempo em que premia os ignóbeis torturadores. A Lei da Anistia (1979) não promulga uma reparação justa, à medida que garante um perdão aos imperdoáveis crimes dos agentes do Estado, acobertados pela cúpula civil-militar. Foi o preço de uma transição, pelo alto.
A metafórica Geni remete à frustração do projeto popular-republicano, e estende-se ao destino do Orçamento Participativo (OP), em Porto Alegre, criado na administração de Olívio Dutra (1989-1992). Com a chancela dos órgãos multilaterais e dos movimentos sociais pela coparticipação no cuidado do erário, a capital gaúcha sedia as edições iniciais do Fórum Social Mundial (FSM, 2001, 2002, 2003), e desafia os dogmas neoliberais nacional e internacionalmente. A derrota do Partido dos Trabalhadores (PT) para a direita, desempodera a experiência e converte-a em um inofensivo pastiche, um item de mera decoração. A ideologia do mercado domesticou o pendor de mudanças.
A metáfora também ajuda a situar o lawfare de desconstrução da reputação dos governos petistas e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As mobilizações de rua no começo não tinham uma agenda política definida, como sói acontecer com a extrema direita que improvisa o que estiver ao alcance. O plim-plim hipnótico fixou as investidas no combate à corrupção e ao petismo. Logo se constituiu a articulação em pinça com o braço do Judiciário e dos Estados Unidos: a operação Lava Jato (abril 2014). Sobre as vigarices entre 2016-2019, vide o ótimo documentário intitulado A trama, dirigido por Carlinhos Andrade e Otávio Antunes, em seis capítulos, na Amazon Prime Video (2022).
Contudo, a alegoria não encaixa no golpe malogrado de 8 de janeiro. O putschismo não se orienta pelo respeito à soberania do povo, pedra angular da República. Não visa a revolução democrática, tampouco elevar a qualidade de vida das pessoas e, menos ainda, estabelecer um padrão decente de transparência na gestão dos recursos públicos. Ao contrário, apenas busca ampliar o saque da nação degradada e a desindustrialização para regredir ao modelo agroexportador. É um retrocesso total.
Golpistas postulam uma concepção negativa de liberdade – ser livre da regulamentação do Estado sobre a economia, o meio ambiente e as relações sociais. Ao revés de lutar pela liberdade positiva – ser livre para construir a igualdade de gênero e raça numa sociedade com justiça social. Seu mundo gira em torno das milícias e CACs, fake news e pós-verdade, lavagem de dinheiro e joias da União. Seu ideal é o Estado de exceção, com o vale-tudo das Artes Marciais Mistas (MMA) e o juiz venal. Seu ódio e ressentimento não cabem em representações, mas no camburão que conduz ao presídio.
O papel da arte
Para Herbert Marcuse, “o capitalismo é capaz de absorver as críticas”, o que explica o devoramento da Comuna de Paris; a elisão dos tombados pela pátria nos anos de chumbo; o apagamento da participação social na redemocratização; e façanhas do estadista que deixou a Presidência com 87% de aprovação, em 2010. Frente a antropofagia sociopolítica, o Estado de direito democrático porta-se de um modo volúvel. Como na ópera de Verdi: “La donna è mobile / Qual piuma al vento”.
A coerção estatal tem a função de coveiro da memória, em combinação com o consenso para criar a versão hegemônica dos fatos. Há um laço orgânico entre os meios de comunicação e os meios de produção. A visão de que a mídia entra após a configuração fática é ingênua, é um álibi sorrateiro. Nos eventos de 2013 e 2015, a Rede Globo mais do que testemunha foi protagonista do espetáculo.
Se o real é pluridimensional e a linguagem é unidimensional, a literatura e a música têm o papel de preencher as lacunas na apreensão da realidade com a arte. O olhar caleidoscópico, para além do manifesto, revela os significados latentes amiúde ocultos na cena histórico-política. O deslocamento de sentido nas metáforas reforça a consciência e com a transfiguração artística denuncia as traições.
*Luiz Marques é professor de ciência política na UFRGS. Foi secretário estadual de cultura do Rio Grande do Sul no governo Olívio Dutra.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA