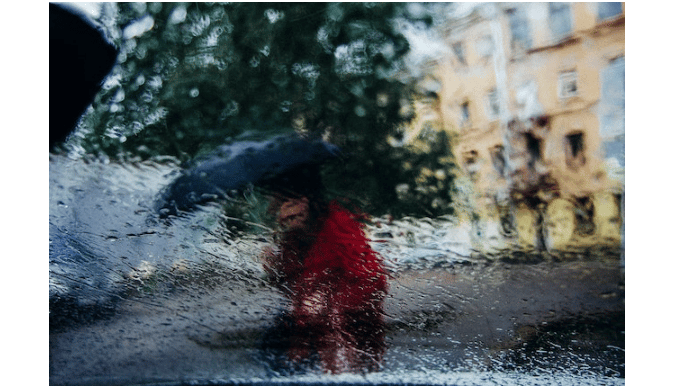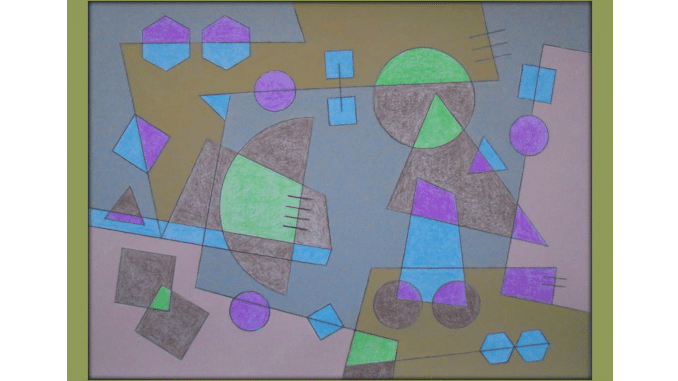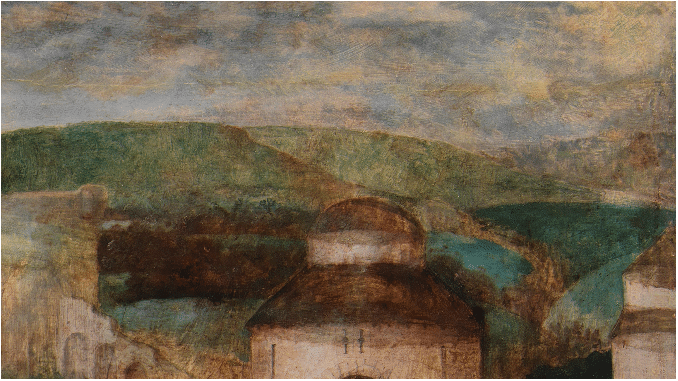Por NATASHA BELFORT PALMEIRA*
Comentário sobre o livro recém-lançado de Tales Ab’Sáber
No ano do centenário da Semana de Arte Moderna, e do bicentenário da Independência, os debates e festividades pululam por todos os cantos. Como explicar aquela ruptura estética e ideológica de um século atrás? Será possível celebrá-la em um presente inglório? Como foi que, de repente, por si só e deslumbrado enfim com sua própria imagem – por obra do que Antonio Candido chamou de “desrecalque localista” [i] – o país começou a fazer parte do mundo? E o que houve (uma vez mais) no meio do caminho rumo ao dito primeiro mundo para dele termos a impressão de nos perder agora? Haveria mesmo desvio em relação ao centro? Ou seria o descaminho o substrato mesmo da originalidade do país? Enfim, como foi possível o salto de 22?
A bem ver, nada de novo do lado de baixo do equador: o último século que correu entre projetos estéticos revolucionários e sucessivas regressões políticas, entre ciclos de manifestações culturais de ponta e golpes de Estado, em suma, entre atualizações modernistas e modernizações conservadoras, faz ver como esse movimento descontínuo, assimétrico e contraditório é traço próprio do país no mundo, e na verdade tem longa duração histórica.
O novo livro do ensaísta e psicanalista Tales Ab’Sáber, O soldado antropofágico, segue o filão longínquo da matéria brasileira que seria “descoberta” pelos modernistas de 1922, e remonta até o início do século XIX, sem jamais perder de vista nosso presente. A busca conduz o autor para as páginas um pouco esquecidas de um livro do tempo do primeiro reinado, pedra de toque do estudo, das quais emerge com uma modernidade ofuscante “o continente simbólico” da cultura popular afrobrasileira que mais tarde viria a constituir nossa identidade nacional e produto de exportação. Só que O Rio de Janeiro como é (1824-1826) é obra de um estrangeiro e não da intelectualidade local, sintoma social profundo, e com claras ressonâncias contemporâneas, que abre caminho para outra genealogia importante do livro, a da desinteligência das elites do país.
Em vez de inventar uma realidade falsificada para si e para inglês ver, como em boa parte teriam feito os escritores nacionais nos inícios do país independente – sem negligenciar exceções que o livro também contempla – Carl Schlichthorst, o soldado antropofágico do título, manifestava um real interesse pela vida cotidiana das ruas do Rio de Janeiro, mundo novo que se fazia ver em sua peculiar unidade, a um só tempo bárbaro e civilizado, ou quiçá mais civilizado do que a civilização europeia de onde viera, na sensibilidade socialmente atinada do viajante alemão.
Saltou aos olhos do autor a franqueza e o desembaraço com que o estrangeiro – um mercenário trazido ao Brasil para integrar o exército imperial – fala da sociedade patriarcal escravista, de improviso vista como um modelo coerente e talvez aceitável, como quando descreve, por exemplo, a convivência das luxuosas casas senhoris e os armazéns onde eram vendidos os escravos, sobre os quais de fato aquelas se erguiam: “mesmo quando cheio de negros, pouco se sente o mau cheiro que caracteriza as cadeias e casas de detenção da Europa”. Era a civilização nova impondo as inflexões de sua particularidade histórica aos olhos desterrados do soldado alemão.
Nas páginas daquelas memórias apareciam, assim, os choques fundantes de uma sociedade baseada na mão de obra escrava, e que até então ia ficando sem nome. Isso porque a brutalidade da exploração dos corpos negros não “podia”, por um princípio irresponsável, e que caracteriza até hoje nossas elites, ser pensada, mas apenas silenciosamente mantida, com base no ato explícito e no chicote. Como Tales mostra, aí está o quadro geral daquele descompasso vernáculo, o atávico nó chamado Brasil entre arcaico e moderno, e vice-versa, sobre o qual a melhor tradição crítica brasileira – na qual o livro claramente se inscreve – sempre refletiu e buscou imaginar outros horizontes possíveis, e cuja síntese poderia ser a fórmula paródica com a qual há pouco Roberto Schwarz batizou sua mais nova rainha diante de nossa última chanchada histórica: “ziguezague ou zaguezigue”.
É portanto distante da pose brascubiana das elites que sempre preferiram não solucionar o enigma do país, mas “sacudi-lo pela janela fora”,[ii] e guiado pelo olhar do soldado alemão e de outros viajantes, como Debret, Charles Expilly ou Darwin, que o autor vai decifrando a conflituosa relação entre cultura e escravidão no Brasil. Ou melhor: nosso pecado original – cujo “lento, gradual e seguro” processo de abolição (de pelo menos 1831 a 1888!) já conta a história do século seguinte, do fim da ditadura futura e do que restaria desta e da escravidão, isto é, tudo, menos as duas[iii] – parece funcionar como vértice do livro, entre a história do não-pensamento nacional e o custoso degelo da nossa “civilização da precariedade”, a cultura do improviso dos meio sujeitos escravos, a matriz do samba, do carnaval, dos parangolés e da garota de Ipanema.
Tudo isso o autor faz mobilizando uma grande quantidade de pesquisas e ensaios de várias áreas, um conhecimento coletivo que vai escavando no texto múltiplas vias de investigação sobre a complicada equação nacional, e numa prosa que parece também querer “descongelar” o próprio pensamento do leitor, que é assim obrigado, no sentido crítico agudo machadiano de “Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa, antes um argueiro, antes uma trave no olho” (ou “o cisco no teu olho é a melhor lente de aumento”[iv]), a voltar por vezes ao início de um parágrafo e reler novamente tudo aquilo.
De um lado, o estudo se embrenha no discurso “negacionista” ou declaradamente favorável ao sistema abjeto pelo qual o país entrava para a modernidade – constituindo, como se sabe, um capítulo à parte da história, o de capitalismo escravista. Aí entram Alencar, autor de cartas de elogio à escravidão, que é resposta ressentida ao filantropismo do centro e à correlata ideologia liberal de primeiro grau; o Código Criminal e as Posturas Municipais, que estabeleciam as normas de conduta das vidas negras escravizadas em meados do século XIX; ou então a literatura nacionalista que simplesmente se furtava a representar a escravidão brasileira e seus efeitos diretos na vida coletiva, se refugiando num passado mítico para evitar toda “tensão ou tentação social ao redor”. Nesse movimento está demarcada a mentalidade autoritária brasileira, ou a retórica do privilégio da violência, a recusa da cultura comum, do próprio país.
De outro, o autor se distancia (para se aproximar) de seu objeto através do olhar estrangeiro que toca, devora e digere o país, no que parece ser o mesmo gesto originário da poética modernista. Assim, de longe, fora descoberta a Utopia Land pelo poeta suíço Blaise Cendrars, em 1924, e, de Paris no ano anterior, a poesia Pau-Brasil por Tarsila e Oswald – como se só fosse possível descobri-las de fora, ao se desfazer dos péssimos hábitos herdados da ex-colônia, da macaqueação cafona e inconsequente do centro, e do infinito desprezo social pelo lugar.
E antes deles então, um pouco depois de 1822, o alemão inaugurava a representação daquele mesmo terreno simbólico, erótico e social da vida nova e deliciosa do país, como sugere Tales ao longo do livro, e com particular força a partir de uma bela cena de encontro entre o europeu e uma encantadora mulher negra que sintetiza em tudo a utopia do país. Pois é para essa esfera que vai o que não se realizou e de fato continua a não se realizar completamente na experiência social brasileira. O “mundo sem culpa”, alegre e indolente, o sonho tropical, modernista, tropicalista – verdadeira ilusão compensatória da exclusão jurídica, depois econômica e social dos seus próprios sujeitos. 1822, 1922, 2022.
*Natasha Belfort Palmeira, crítica literária, é professora na Université Clermont Auvergne.
Referência
Tales Ab’Sáber. O soldado antropofágico: escravidão e não-pensamento no Brasil. São Paulo, n-1 Hedra, 2022, 334 págs (https://amzn.to/3QEVgkv).
Notas
[i] CANDIDO, “Literatura e cultura de 1900 a 1945”. In: Literatura e sociedade. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006, p. 145 (https://amzn.to/4499CN0).
[ii] Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas (https://amzn.to/3qy8p46).
[iii] Ver sobre uma dessas sobras recalcitrantes “1964, o ano que não terminou” e Tales Ab’Saber “Brasil, ausência de significância política” em O que resta da ditatura, Orgs. Edson Teles e Vladimir Safatle, São Paulo, Boitempo: 2010.
[iv] A versão adorniana do aforisma machadiano está em Minima Moralia.