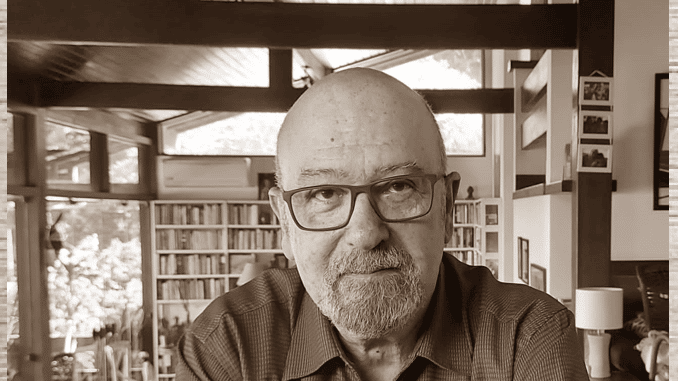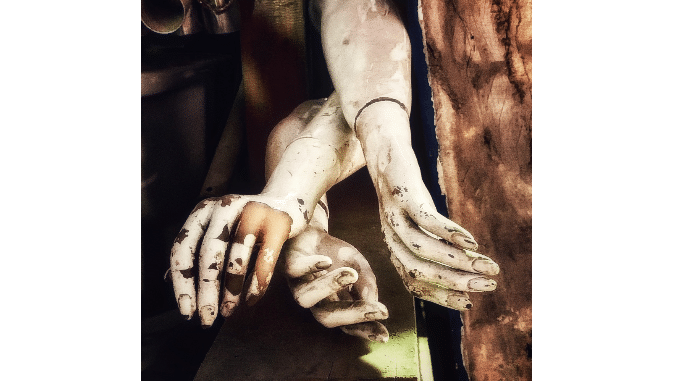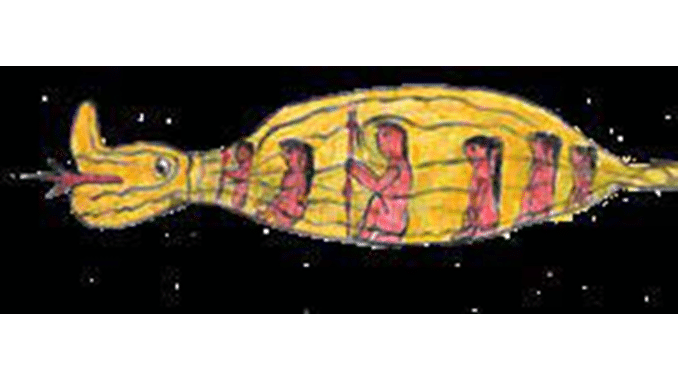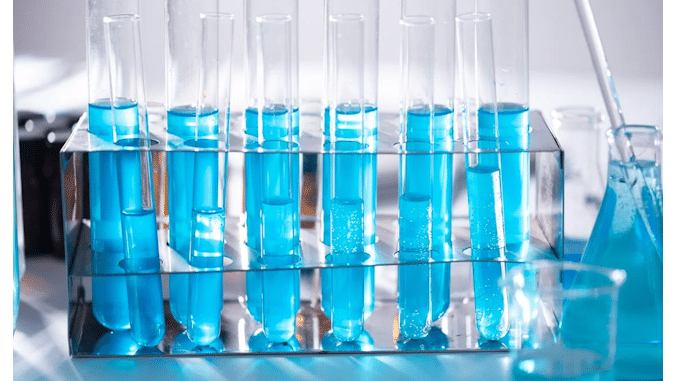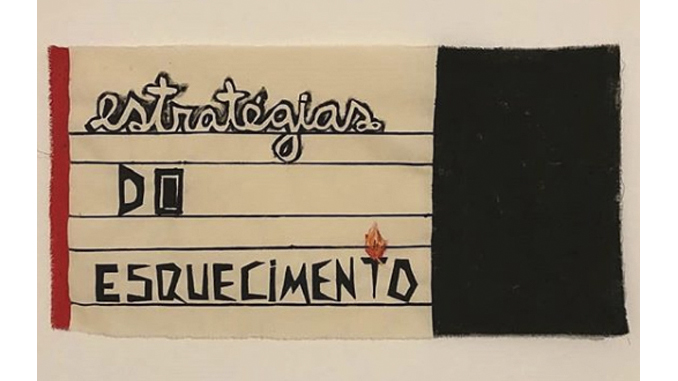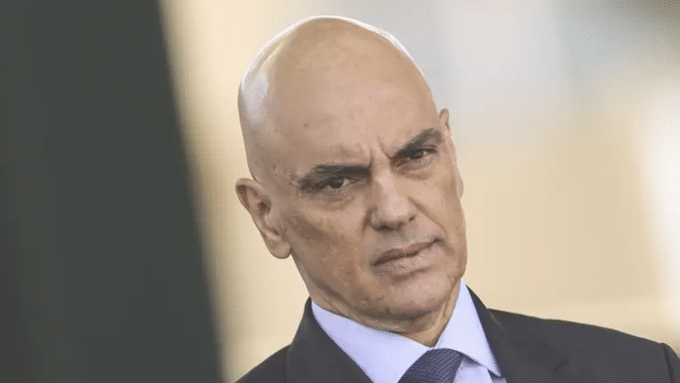Por MARCELO BARBOZA DUARTE*
O “malandro” é uma invenção das elites, um rótulo classista e racista que criminaliza a pobreza para ocultar as verdadeiras artimanhas do poder
O trabalho é uma reflexão autoral sobre a figura do malandro no Brasil, elaborada a partir de uma historiografia e ontologia críticas, distantes de leituras eurocêntricas ou romantizadas. A análise busca compreender o malandro como marcador classista, racista e socioeconômico, inscrito na vida cotidiana daqueles que carregam esse rótulo.
Antes de tudo, é preciso destacar que não é apenas o apagamento da história que aliena um sujeito ou cultura, mas sobretudo o apagamento da memória. A história pode ser distorcida, mas a memória – individual e coletiva – é que sustenta a identidade. Assim como em sistemas tecnológicos em que dados são apagados, mas resíduos permanecem na memória, em sociedades a memória viva resiste aos apagamentos. É dela que parte este trabalho: um resgate de memórias que possibilita reinterpretar a história. A bioneuropsicosociologia, telecomunicações e redes podem explicar claramente.
O Brasil tem mais de 213 milhões de habitantes.[i] Desses, 109 milhões são mulheres e 102 milhões são homens, com cerca de 7 milhões a mais de mulheres acima de 25 anos. Curiosamente, abaixo dessa faixa etária, nascem mais meninos do que meninas, mas muitos desaparecem antes dos 25 anos – fenômeno que atinge sobretudo jovens negros e pobres.
Dos 213 milhões de habitantes, cerca de 122 milhões se identificam como negros, pardos ou indígenas. Entre as mulheres, há cerca de 47 milhões com escolaridade superior, frente a 36 milhões de homens. Essa diferença, porém, é marcada por desigualdades raciais: enquanto 64 milhões de mulheres brancas têm acesso a ensino superior, apenas 30 milhões de mulheres negras o alcançam – menos da metade.
Esses contrastes explicam por que mais de 70% da população vive em condições de pobreza e miséria. A maioria negra e parda é também a mais vulnerável à violência cotidiana, estatal e policial. O passado colonial e escravocrata não é apenas herança distante: reaparece nas exclusões sociais atuais, mascarado por discursos de meritocracia, sentimentalismo e crenças moralizantes, que desviam o foco das relações de poder e dominação.
Diante desse cenário, as mulheres brasileiras, que são maioria numérica e possuem maiores níveis de escolaridade, têm papel crucial. Elas concentram poder de fala e intervenção para tensionar estruturas históricas de desigualdade, confrontar elites políticas e culturais e contribuir para a desconstrução de mitos como o “brasileiro cordial” e da “terra de malandros”.[ii]
Ao longo da história, milhões de homens negros e pobres foram enquadrados como malandros e pagaram com a vida a esse marcador ideológico e classista. A marca se estende às suas famílias, reproduzindo exclusões estruturais. É nesse sentido que este trabalho busca evidenciar que o malandro não é apenas uma caricatura cultural, mas um dispositivo de poder que organiza desigualdades e legitima violências.
A construção do malandro brasileiro
As elites e classes médias brasileiras foram responsáveis por moldar a figura do malandro como identidade estigmatizada ou romantizada. Por meio da literatura, do rádio e da televisão, o personagem ganhou contornos caricatos: homem negro, pardo, pobre, morador de cortiços e favelas. Essa representação, criada de cima para baixo, raramente correspondeu à experiência concreta das classes populares, mas sim ao olhar de quem o produzia a partir de espaços privilegiados.
A ambivalência entre marginalidade e astúcia popular e suas problematizações podem ser lidas à luz de autores como Bourdieu (2003-2012) quanto Almeida (2016), Jorge (2003), Barreto (2022), Antônio (2004), Cândido (2016), Foucault (2001-2016), Chalhoub (2005,2015), Albuquerque (2009), Kowarick (2019), Reis (1992), Linhares (2000), Mattoso (1999), Bagno (2015), Laplantine (2008), Laraia (2005), Chauí (2001), Marcondes (2019) e Wittgenstein (2016), Fanon (1991), Diwan (2017), Souza (2019), Hall (2013-2016), Mbembe (2018) e outros que poderiam complementar as exposições.
Dessa forma, o malandro é capturado pelo poder de normalização: ora punido como “anormal” e perigoso, ora domesticado como símbolo cultural. Em ambos os casos, permanece sujeito a mecanismos de controle que transformam resistência e folclore. A diferença é convertida em desvio, e o romantismo da malandragem reforça, em vez de romper, a ordem social existente.
O Rio de Janeiro, capital até a década de 1960, foi o laboratório por excelência dessa construção. Ali, a categoria se consolidou e irradiou para o imaginário nacional. Autores como Candido (2016), Chalhoub (2005, 2015), Almeida (2016) e Kowarick (2019) mostram como a figura se fixou entre os séculos XIX e XX, associada a ex-escravizados, trabalhadores pobres e mestiços.
A literatura, a música e os meios de comunicação difundiram o malandro como símbolo popular, mas sempre em registro ambíguo: herói astuto ou criminoso incorrigível.
Assim, a construção do malandro seguiu dois polos: o pejorativo (vagabundo, bandido, traficante) e o enaltecedor (espertalhão, resistente, adepto do “jeitinho”). Ambas as versões, porém, serviram aos interesses de elites e classes médias, reforçando estigmas sobre a população negra e pobre. Pelo processo de interiorização descrito por Pierre Bourdieu, parte dos próprios sujeitos passou a identificar-se, positiva ou negativamente, com a categoria – sem perceber seu caráter racista, sexista, classista e até eugenista.
A figura do malandro não rompe estruturas opressoras. Ela legitima desigualdades históricas ao transformar o negro pobre em “outro” a ser controlado. Tanto o estereótipo negativo quanto o romantizado operam como tecnologias de poder que distinguem “normais” e “anormais” e mantêm hierarquias sociais (Foucault, 2001).
Essa lógica perversa se revela na naturalização da violência: chacinas e incursões policiais contra comunidades pobres são justificadas como combate a “malandros”. A morte de jovens negros é percebida como eliminação de sujeitos desviantes. O marcador malandro torna-se licença simbólica para genocídios cotidianos.
Com isso, a expressão “mulher de malandro” amplia o estigma. Não se trata de piada ou jargão, mas de extensão da marca às mulheres negras e pobres, sobretudo aquelas com companheiros encarcerados ou marginalizados. Elas também carregam o peso simbólico do termo, reforçando como a malandragem opera não apenas sobre indivíduos, mas sobre famílias e coletividades inteiras.
É importante lembrar que, originalmente, “malandro” não era sinônimo de criminoso. O termo emergiu para qualificar escravizados, libertos, indígenas e mestiços considerados improdutivos na lógica colonial. A partir do século XIX, passou a designar o vadio, insubordinado, preguiçoso, desempregado ou insubmisso, e só no século XX foi equiparado a bandido.
Essa transmutação semântica revela sua função política: criminalizar a pobreza. Dentro das próprias comunidades populares, “malandro” ganhou sentidos distintos: trabalhador informal, sambista, boêmio, jogador de futebol, sujeito que circulava por espaços variados. Muitos artistas, mesmo com empregos formais, foram estigmatizados como vagabundos e malandros. Hoje, ainda há quem associe samba e boemia ao estigma, mesmo sendo expressões centrais da cultura nacional. O termo, portanto, permanece multifacetado: ora segrega, ora é resignificado como resistência cultural. Mas deve ser problematizado.
Houve também o malandro associado a relações de gênero: aquele que vivia do sustento de mulheres, às vezes de forma abusiva, quase como gigolô. Esse imaginário reforça violências domésticas e dependências, mas mostra como a categoria sempre esteve ligada a relações de poder desiguais.
Nas transições do Brasil republicano, sobretudo nos séculos XIX e XX, o termo tornou-se marcador social aplicado a negros, indígenas e mestiços desempregados ou informais. “Não ter carteira assinada” equivalia a ser malandro, vadio, preguiçoso – enquanto ter emprego formal era sinônimo de honestidade e cidadania. A lógica excludente penalizava justamente aqueles mais vulneráveis. Fundamentalmente muitas vítimas do próprio sistema escravista, colonial e da ordem e estrutura capitalista.
Portanto, a construção do malandro brasileiro revela contradições profundas: símbolo nacional e alvo de violência; herói popular e bode expiatório. Ele encarna paradoxos históricos que unem colonização, escravidão, relações de classes e racismo estrutural. Mais do que caricatura, é tecnologia de poder que legitima desigualdade e violência estrutural, mantendo vivos os traços coloniais nas relações sociais brasileiras.
Vadio, vagabundo e malandro
As adjetivações de insolente, preguiçoso, vadio ou malandro têm raízes históricas que remontam ao período colonial e escravista. Mbembe (2018) recorda, a partir de Douglass, que a vida do escravizado era uma “morte em vida”: sua humanidade dissolvida na condição de propriedade. Buck-Morss reforça a contradição de um ser reduzido a mercadoria, sombra personificada, cuja existência estava sujeita ao poder absoluto do senhor.
Nos relatos coloniais, como o de 1535 sobre Hispaniola (Romano, 1995), os povos indígenas foram descritos como covardes, inúteis e preguiçosos, justificando sua exploração e extermínio. Esse discurso naturalizou o genocídio, apresentado como punição divina. A escravidão nas Américas, com castigos que incluíam açoites, colares de ferro e mutilações (Reis, 1992), documentados até por médicos que avaliavam a “resistência” dos corpos, evidencia como a violência foi sistemática e legitimada pelo aparato jurídico e religioso.
Mbembe (2018) lembra que a ocupação colonial inscreveu hierarquias no espaço, dividindo sujeitos em categorias desiguais. Fanon (1991) descreveu a “cidade do colonizado” como lugar de miséria permanente, povoado por pessoas reduzidas a má fama. Romano (1995) destaca como milhões morreram em minas como a de Potosí, mostrando que a economia euramericana continuava alicerçada na exploração mesmo após o fim da conquista formal.
No Brasil, Chalhoub (2005) demonstra que, no século XIX, o fim do tráfico de escravos coincidiu com leis de terras que vedaram o acesso dos pobres à propriedade. A transição para o trabalho assalariado, culminando na abolição de 1888, não rompeu a lógica de dominação, mas a rearticulou: o trabalho foi elevado a valor civilizatório e a repressão policial garantiu sua disciplina.
Assim, vagabundo, vadio, preguiçoso e malandro surgiram como categorias para rotular quem não se encaixava na nova ordem laboral. E também não possuía empregos formais. Mesmo não havendo empregos ou estes sendo economizados pelas elites para com as massas.
Foucault (2006-2012) chama esse processo de poder disciplinar: vigilância contínua, administração dos corpos e produção de sujeitos dóceis em instituições como escolas, quartéis, hospitais e prisões. O malandro, nesse contexto, funciona como herdeiro da figura do escravo rebelde ou do índio insubmisso, o “outro” que deve ser controlado e estigmatizado. Esse ato de nomear equivale a destruir identidades, como observa Mbembe (2018): o colonizado era relegado a uma “terceira zona”, nem sujeito nem objeto. O malandro repete esse destino moderno: ao ser associado a crime, ócio ou desobediência, é transformado em clandestino moral-imoral, legitimando repressão e exclusão social.
Com tudo isso, a categoria se torna paradoxal: ao mesmo tempo símbolo de resistência popular – o que sobrevive driblando regras – e bode expiatório que justifica violência de Estado. O rótulo de malandro se traduz em visões das classes dominantes diante/para com/da massa negra e pobre recém-liberta, considerada incapaz de disciplinar-se pelo novo modo de exploração e expropriação, o suposto e aparente trabalho “digno” formal-informal.
A expressão “mulher de malandro” amplia o estigma. Originalmente usada para designar parceiras de sujeitos marginalizados, ela passou a recair quase exclusivamente sobre mulheres pobres, negras ou ligadas a homens sem emprego formal. Ou em muitos casos, a suspeitos ou encarcerados.
Ao popularizar-se, a expressão ganhou múltiplas camadas simbólicas, entrando em músicas, poesias e discursos cotidianos. Como lembra Citelli (1990), signos sociais transformam objetos e expressões em veículos de ideologias. Nesse caso, “malandro” e “mulher de malandro” transcendem o indivíduo e passam a designar relações estruturais de poder, submissão e violência. Sobretudo relações racistas, classistas e até eugênicas.
Portanto, o malandro contemporâneo é fruto da longa genealogia que vai da escravidão ao trabalho assalariado disciplinado. O termo carrega heranças coloniais, funcionando como marcador racial, classista e de gênero. Ao internalizar esse vocabulário, a sociedade brasileira perpetua contradições históricas: romantiza a astúcia, mas criminaliza a pobreza. E, ao devolvermos o termo das elites que o criaram, revelamos a face real do “malandro”: não apenas o negro marginalizado, mas também aqueles que, a partir do poder, exercem a violência, a exploração e a exclusão como práticas sociais legitimadas. Com a indagação: Quem seriam realmente os reais e verdadeiros malandros?
Considerações finais
As análises desenvolvidas demonstram que a figura do malandro não é produto espontâneo do povo brasileiro, mas uma construção verticalizada, imposta pelas elites e classes dominantes como instrumento de estigmatização. Na verdade, representa mais do que um tipo social: é um marcador classista, racista, eugênico, ideológico e segregacionista, cuja persistência atravessa do plano micro das relações pessoais ao macro das relações políticas e até internacionais.
Ao associar o malandro ao criminoso pobre e negro, a lógica dominante oculta que as verdadeiras práticas de exploração e violência residem nas estruturas políticas, empresariais, militares e coloniais. Assim, o termo funciona como um dispositivo de inversão: acusa o pobre negro e mestiço enquanto absolve os reais beneficiários da ordem desigual.
Inspirando-se em Hall (2013), é preciso reconhecer que representar é atribuir sentidos, fixar imagens e, nesse caso, cristalizar estereótipos. Os termos “malandro” e “mulher de malandro” simbolizam, portanto, não a realidade popular, mas a visão distorcida das classes dominantes sobre os dominados. Ao longo da história, esses rótulos foram usados para classificar, excluir e justificar violências – tanto físicas quanto simbólicas – contra trabalhadores pobres, especialmente homens negros e mestiços.
O presente trabalho buscou não apenas problematizar, mas também subverter tais sentidos. Isso ao devolver o termo às elites que o criaram, revela-se que os verdadeiros malandros estão nos espaços de poder: nas políticas de entrega das riquezas nacionais, na submissão neocolonial, nas práticas de exploração que sacrificam a maioria em benefício de poucos. Da mesma forma, a expressão “mulher de malandro” se aplica às relações de dependência e submissão reproduzidas em escala macro, quando nações inteiras se ajoelham diante de interesses externos, neocolonialistas e imperialistas.
Assim, a desconstrução crítica da figura do malandro contribui para um movimento mais amplo de descolonização da mentalidade, memória, história e da cultura brasileiras. Não se trata de reforçar estigmas machistas ou racistas, mas de expor como tais signos foram forjados nos jogos de linguagem dos opressores e redirecioná-los para seus verdadeiros alvos.
Concluímos, portanto, que os “reais malandros” não são os trabalhadores pobres do Brasil, mas aqueles que, ao longo da história, elaboraram, disseminaram e se beneficiaram dessas categorias para manter privilégios. O desafio que se coloca é romper com essa herança discursiva e estrutural, promovendo uma consciência crítica capaz de desmascarar as falsas representações e reivindicar novas narrativas para os sujeitos historicamente marginalizados.[iii]
*Marcelo Barboza Duarte é mestre em Educação, Gestão e Difusão em Biociências pelo Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Referências
ALBUQUERQUE, W. R. O Jogo da Dissimulação – Abolição e Cidadania Negra no Brasil. São Paulo. Companhia das Letras, 2009.
ALMEIDA, M. A. Memórias de um Sargento de Milícias. São Paulo. Moderna, 2016.
ANTÔNIO, J. Malagueta, Perus e Bacanaço. São Paulo. Cosac & Naify, 2004.
APUFSC. Mulheres são mais escolarizadas que homens, mas brancas com ensino superior são o dobro das negras. Veja: https://www.apufsc.org.br/2024/03/11/mulheres-sao-mais-escolarizadas-que-homens-mas-brancas-com-ensino-superior-sao-o-dobro-das-negras/
BAGNO, M. Preconceito Linguístico. São Paulo. Parábola, 2015.
BARRETO, L. Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá. Belo Horizonte. Itatiaia, 2022.
BOURDIEU, P. Questões de Sociologia. Lisboa. Editora: Fim de Séculos, 2003.
__. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro. Editora Bertrand Brasil, 2012.
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Condições de Vida e Desigualdades. Veja: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza.html/
CÂNDIDO, A. O Discurso e a Cidade. São Paulo. Ed. Ouro, 2016.
CHALHOUB, S. Trabalho, Lar e Botequim: O cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle époque. São Paulo. Unicamp, 2005.
__. Visões da Liberdade – uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo. Companhia das Letras, 2015.
CHAUÍ, M. Cultura e Democracia: o discurso competente e outras falas. São Paulo. Cortez, 2001.
DIWAN, P. Raça Pura, Uma História da Eugenia no Brasil e no Mundo. São Paulo. contexto, 2017.
FANON, F. Pele Negra, Máscaras Brancas. São Paulo. Ubu, 2017.
FOUCAULT, M. Os Anormais-Curso no College de France. São Paulo. Martins Fontes, 2001.
__. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 2006.
__. Vigiar e Punir – História da Violência nas Prisões. Rio de Janeiro. Vozes, 2012.
__. História da Loucura. São Paulo. Perspectivas, 2016.
HALL, S. Cultura e Representação. Rio de Janeiro. Vozes, 2013.
__. Identidade e Diferença. Rio de Janeiro. Vozes, 2016.
JORGE, F. O Grande Líder. São Paulo. Geração Editorial, 2003.
KOWARICK, L. Trabalho e Vadiagem. São Paulo. Editora, 34. 2019.
LAPLANTINE, F. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2008.
LARAIA, R. B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro. Zahar, 2005.
LINHARES, M. M. História Geral do Brasil. Rio de Janeiro. Editora: Campus, 2000.
MARCONDES, D. Filosofia da Linguagem. Rio de Janeiro. Zahar, 2019.
MATTOSO, K. Ser Escravo no Brasil. São Paulo. Brasiliense, 1999.
MBEMBE, A. Necropolítica. São Paulo. N1 edições, 2018.
REDE BRASIL ATUAL. Veja: https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/menos-de-13-da-populacao-carceraria-tem-acesso-a-educacao/
REIS, J. J. Rebelião escrava no Brasil: A história do levante dos malês de1835. São Paulo. Brasiliense, 1992.
ROMANO, R. Os Mecanismos da Conquista Colonial. São Paulo. Perspectiva, 1995.
RAWLINGS, E. I.; RIGSBY, R. K. Amar para Sobreviver. Mulheres e a Síndrome de Estocolmo social. São Paulo. Cassandra, 20221.
SOUZA, G. Como o Racismo criou o Brasil. Rio de Janeiro. Editora: Estação Brasil, 2019.
WITTGENSTEIN, L. Investigações Filosóficas. Rio de Janeiro. Vozes, 2016.
Notas
[ii] Embora o conceito de malandragem tenha se expandido para diferentes sujeitos e contextos, sua construção permanece marcada por estereótipos violentos que associam sobretudo o homem negro, pardo e mestiço à marginalidade. Essa imagem, apropriada como modelo recorrente, é aqui tomada como metáfora das dinâmicas sociais mais amplas e complexas que estruturam desigualdades. Para analisá-la, é indispensável evitar preconceitos prévios e considerar os jogos simbólicos da linguagem, que revelam relações de poder nos planos micro, macro e global. Nesse processo, homens negros e pobres, moradores de morros e comunidades, são estigmatizados até por sinais de sua condição de classe — como a presença ou ausência de calos nas mãos. A mesma lógica se reproduz na realidade prisional, onde a sobrevivência é definida antecipadamente pela cor da pele, pela etnia e pela origem social e cultural. É nesse contexto histórico e político que se consolidou o termo “malandro”.
[iii] O Texto é parte do Artigo-Ensaio publicado pela Revista Sala 8 – Revista Internacional em Políticas, Currículo, Práticas e Gestão da Educação – Volume 1, Número 9, Ano: 2025 – ISSN: 2764-0337.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
C O N T R I B U A