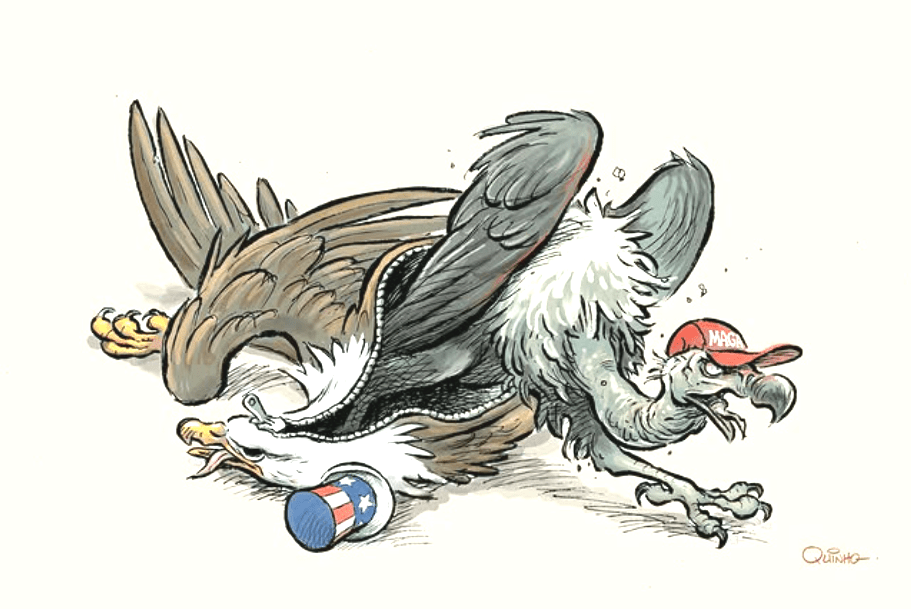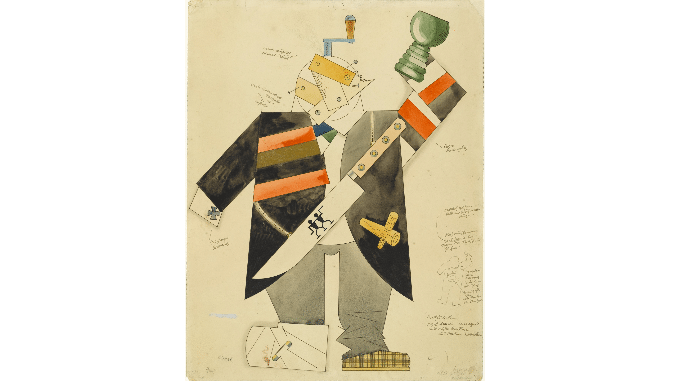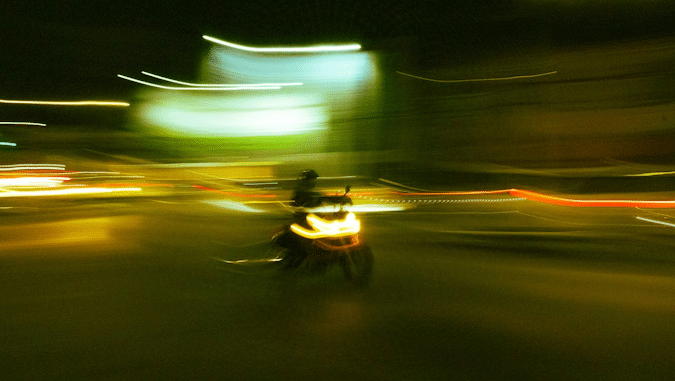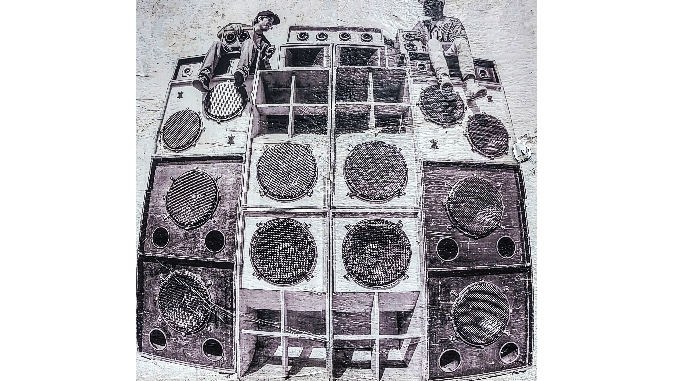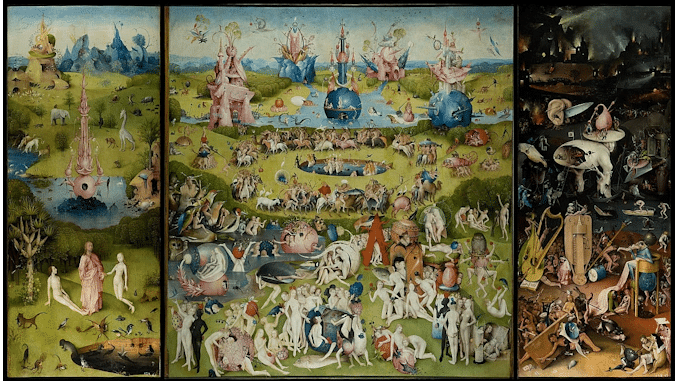Por RENATO ORTIZ*
Geometrias do desencontro: o mito do indivíduo e as paralelas que nunca se tocam
Os amantes do círculo polar circundam a Terra em direções opostas, sentido horário masculino, anti-horário feminino. Deveriam se encontrar quando a metade do globo tivesse sido percorrida, essa era a intenção, o devaneio implícito. Apenas por alguns instantes estariam separados uns dos outros. Na solidão de suas vidas complementares, um curto lapso de tempo os dispersaria antes do abraço final. Mas os jovens apaixonados negligenciaram as incertezas da vida. Em seu projeto boreal, esqueceram de sincronizar a navegação à velocidade dos ventos, ao clamor das tempestades e ao deslocamento dos astros. Sem o saber partiram para não mais se encontrar.
Passaram-se anos e a cada volta afastavam-se cada vez mais do objetivo postergado. A promessa de reconciliação parecia situar-se no infinito, como se as linhas do círculo os tivessem arrastados para as paralelas do desencontro. De nada lhes serviam as juras de amor, a ausência dos corpos ardentes fustigava e entristecia. Com o tempo descobriram que o impasse era fruto de um descuido geométrico. Por milhares de horas o masculino havia percorrido a Terra no plano horizontal, norte, leste, sul, oeste, novamente, norte; girava na dimensão plana dos mapas geográficos. O feminino, inconscientemente tinha escolhido o plano vertical, no qual o zênite, a projeção do centro do círculo que intercepta a esfera celeste, e o nadir, diametralmente equidistante do centro, mas na direção oposta, jaziam distantes do plano horizontal. A órbita dos amantes continha um anacronismo espacial incompatível com os seus desejos.
Tinham saído juntos do mesmo lugar, quando tiveram a ideia de se afastarem e se reencontrarem, mas talvez o masculino, com seus passos céleres, estivesse em discrepância com o feminino, com seus passos trôpegos. Pensaram numa solução para corrigir o desvio. Bastaria ajustar a trajetória de cada um deles e na passagem pelo norte ou pelo sul do plano horizontal as rotas necessariamente coincidiriam. Leste e oeste indicavam a face espinhosa da separação. Entretanto, como haviam se lançado há anos nesta desventura, restava-lhes como única opção acertar o relógio de um entendimento mútuo. A comunicação entre eles nunca tinha sido rompida, trocavam longos bilhetes de amor e afagos digitais, assim chegaram à conclusão que o melhor a fazer era o masculino desacelerar a marcha e o feminino adiantá-la. Um astrólogo os ajudou na tarefa ingrata de calcular os passos, o movimento e o deslocamento das trajetórias tinha de ser preciso, exato, ou seriam outra vez projetados para a tangente de seus infortúnios. Se tudo corresse bem, segundo a estimativa elaborada, dentro de seis meses, treze dias, sete horas e cinquenta dois minutos, por fim se afagariam e se beijariam. Com alegria e ansiedade viveram os dias de espera, duração longa, densa, viscosa. Chegado o momento, sob o frio glacial do Ártico, os dois se aproximaram, de longe cruzaram um olhar penetrante.
Acreditaram por um instante que o tempo estivesse suspenso, imóveis, à distância, contemplavam um ao outro. Porém, o movimento que os impulsionava não podia ser repentinamente contido, a massa corpórea de cada um deles, com a força que a velocidade lhes imprimia, os impedia de permanecer em repouso. Puderam se acercar, tocar as pontas dos dedos, mas a inércia do deslocamento os projetou para frente. Restou a presença da fugacidade efêmera.
Robinsonadas
Marx costumava dizer que o pensamento liberal – em sua época inexistia neoliberalismo – estava repleto de “robinsonadas” (sua crítica da economia clássica visava a ideia do indivíduo isolado como fundamento do mercado). Para exprimir sua ironia indisfarçável utilizou um neologismo de seu tempo. Embora não tenha certeza, creio que foi Johann Gottifried Schnabel que o inventou em seu romance “A Ilha de Felsenburg”, em 1731 (é o que diz Wikipedia). Depois da publicação de Robinson Crusoé, surgiu uma espécie de gênero literário popular no qual o naufrágio de um navio em uma ilha deserta tornou-se a trama principal de um determinado tipo de relato. Vários livros, “O Robinson Suiço”, “Francês”, “Holandês”, tomaram conta da imaginação popular. Schnabel, um barbeiro escritor, situa seu herói, um saxão de nascimento, numa ilha do Atlântico Sul; aí, junto com sua companheira, eles geram uma prole de mais de 300 almas. Há algo de utópico em seu romance: todos vivem em harmonia entre si e com a natureza (os comentaristas sublinham: segundo os preceitos pietistas preconizados pelo autor). Neste sentido, a história se diferencia do conto de Daniel Defoe, trata-se de um grupo de pessoas exiladas de suas origens, vivendo em comunidade; Crusoé é um personagem singular, enfrenta os perigos do desconhecido em sua solidão. Entretanto, a metáfora da ilha, do deserto e do naufrágio é comum a uma narrativa que se caracteriza pela ideia de isolamento, da distância em relação à civilização e da exuberância da natureza. A sátira de Marx pressupõe a existência dessas circunstâncias geográficas, sem, porém, prescindir do fundamental, a afirmação do individualismo exacerbado do náufrago. Ele possui em seu âmago as virtudes de um ser social independente da ausência de suas raízes. O mundo exterior se dobra a sua força idiossincrática, o indivíduo é o impulso da ordem inscrita em sua própria essência; ou como diz Ian Watts, Robinson Crusoé é a expressão do mito do individualismo moderno, ele constrói em seu entorno, sem o auxílio do Outro, toda uma sociedade (“Robinson Crusoe as a myth”, 1951).
Mas o que é um mito? Dizem os estudiosos que ele representa um modelo exemplar para as atividades humanas, através da repetição fixa a conduta a ser seguida. Neste sentido, para validar sua autoridade, deve se constituir numa explicação convincente do mundo. Dito de outra maneira, o mito revela e funda um valor compartilhado. A dimensão mítica de Robinson Crusoé traduz um dos alicerces da sociedade moderna, nela o individualismo se exprime e se reforça. Entretanto, há muitas vezes um aspecto hiperbólico de sua manifestação, é o caso da literatura de autoajuda, esforço de repetição ritual de uma “robinsonada” reiterada. Nela o indivíduo encontra-se envolto por um conjungo de dilemas que restringem sua liberdade de ação, sua existência é recoberta pelas adversidades que o submergem. No entanto, a despeito dos constrangimentos existentes, classe, gênero, idade, nacionalidade, cor, miséria, guerra, conflitos, doenças, é preciso superar os obstáculos. Para isso a dimensão social daquilo que o cerca é sublimada, cede lugar ao “poder da mente” daquele que a modela. A subjetividade é o imperativo categórico a ser considerado, o ser individual, em sua integridade, torna-se assim uma espécie de demiurgo, figura divina que molda o universo material que o abriga. Os títulos dos livros são expressivos a esse respeito: “Como casar com o homem de seus sonhos”, “O sucesso está no equilíbrio”, “O poder do hábito”, “A coragem de ser imperfeito”, “Amar é preciso: os caminhos de uma vida a dois”. Todos contém um apelo emocional capaz de mobilizar a determinação no caminho de uma meta específica. O interesse abrange um leque extensivo de temas: relacionamentos, carreira, sucesso profissional, bem-estar emocional, saúde mental, espiritualidade, etc. Abarca a amplitude da vida. Os relatos, escritos de maneira genuinamente sincera, repletos de platitudes, abusam da pieguice (eu me refiro ao exagero sentimental) – “A persistência realiza o impossível”; “Acredite em si mesmo”; “É preciso tristeza para conhecer a felicidade”; “Sorria para o mundo e ele sorrirá de volta” – dirigem-se a alguém que, desamparado em seu desalento, está prestes a mudar de rumo.
Na literatura de autoajuda o indivíduo é uma ilha que naufragou a espera de alguém que o resgate. Entretanto, esta situação de incerteza, de precariedade, contradiz a promessa almejada, o individualismo anunciado é insuficiente para se emancipar, depende de uma força exterior que o redima. A graça da mudança existe de forma latente, mas precisa ser despertada para que o desejo se realize plenamente. O mito traz consigo sua própria antítese. Todos podem se libertar, porém, exige-se a presença de um guia, aquele que desvenda a senda da sabedoria. Sem ele tudo se turva. A autoajuda se resume a um conjunto de normas, ensinamentos e conselhos, o escritor é um intermediário entre um estado de pureza e a vida prosaica das pessoas. Ele habita a esfera do conhecimento – esse é o axioma primeiro – daí resulta a força de seu arbítrio. Como um sacerdote condena e perdoa, esclarece as inquietações e atenua o desconforto dos mortais. Porém, isso se faz através da denegação de sua arrogância cândida. Sua posição de superioridade e prestígio deve ser ofuscada na cena central dos acontecimentos, é a crença na individualidade inconteste que prevalece. O amparo é o cerne de uma literatura engajada na qual a aparência de humildade encobre o flagelo do mundo.
*Renato Ortiz é professor titular do Departamento de Sociologia da Unicamp. Autor, entre outros livros, de O universo do luxo (Alameda). [https://amzn.to/3XopStv]
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
C O N T R I B U A