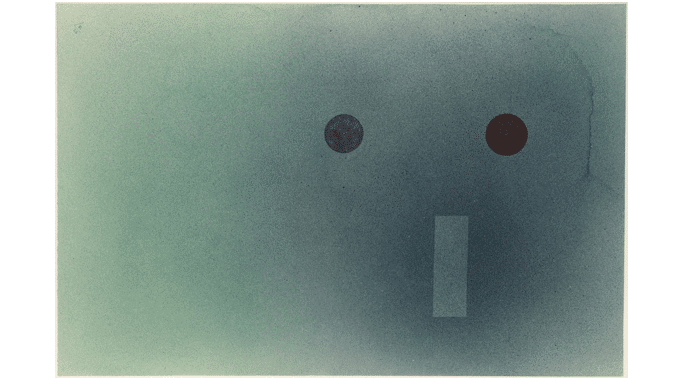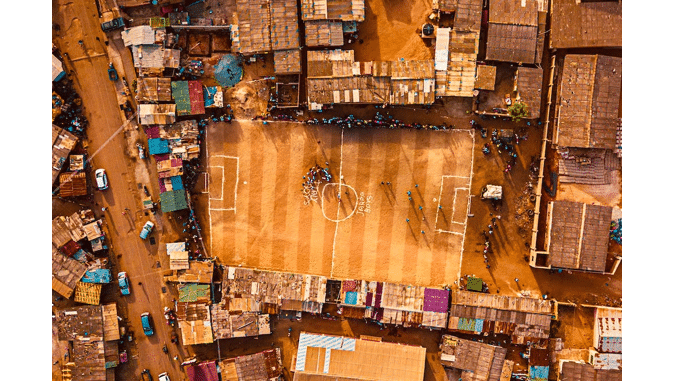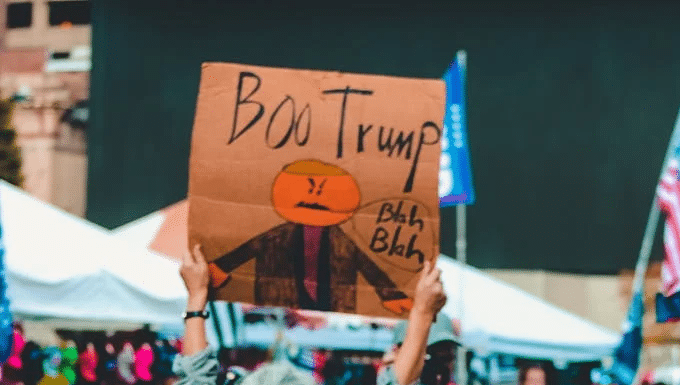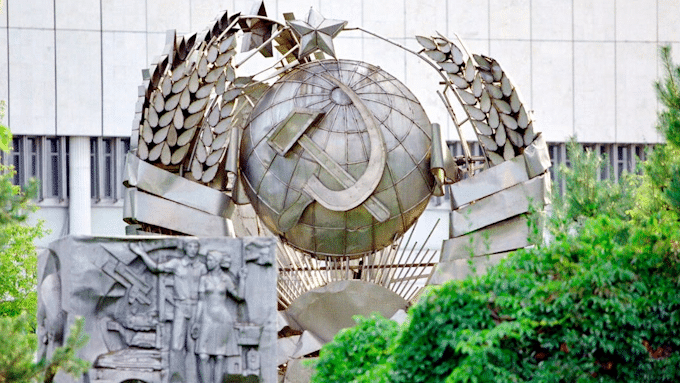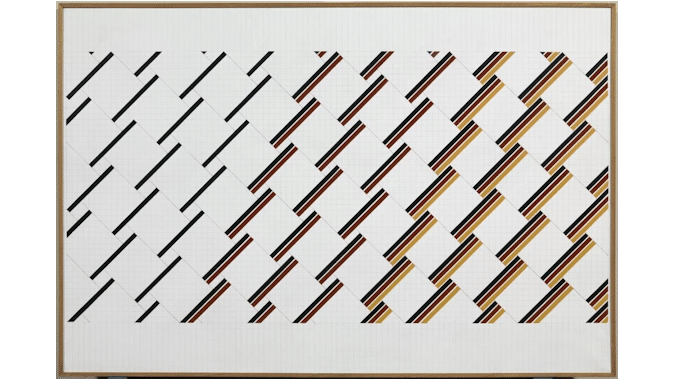Por LEDA TENÓRIO DA MOTTA*
Considerações a partir do livro de Olgária Matos
Se há uma marca interessante do trabalho em filosofia política de Olgária Matos é o eterno retorno que ela faz aí do mundo contemporâneo desencantado que tanto a ocupa para a Grécia. E não qualquer Grécia mas, contra-metodologicamente, aquela que vai do logos ao mito, infensa à suposição do sentido que leva a associar filosoficamente o dizer, o pensar e o ser. Uma Grécia plena de potências demiúrgicas com seus mundos fabulosos a partir dos quais pensar o nosso, sem magia.
Espaço ressonante de efeitos de linguagem que não ainda metafísicos, mas antes performadores de uma natureza que ainda não se encerra na verdade. Para dizê-lo como esta outra scholar mulher instigante e helenista, sua contemporânea exata, que é Barbara Cassin, em O efeito sofistico, obra em que também se compraz em desafiar o socratismo, abstrato, universal, essencial.
Eis o que de principal ressalta em Palíndromos Filosóficos. Entre mito e História (2018), livro em que, a um estilo pessoal capaz de mobilizar, também insistentemente, termos como “arcanos”, “polifonia”, “alumbramento”…, ela vem acrescentar mais esta nomenclatura perturbadora, saída do repertório das vanguardas poéticas mais corrosivas, que é “palíndromo”. Figura feita para enaltecer – Mallarmé dizia “remunerar”: reconhecer e explorar –, a falta da língua –, ao exibir achados infernais de legibilidade da sequência verbal, inclusive quando longa, fora de sua ordem distributiva, de trás para a frente.
O palíndromo toma a linguagem de surpresa para mostrar que uma palavra, um grupo de palavras, toda uma frase não precisam ser lidos no sentido do pelo para valer, os fonemas funcionando nas duas direções da cadeia significativa, como em “a torre da derrota”, por exemplo. Exibe assim espetacularmente a arbitrariedade da montagem de que a língua é feita. E até porque os grandes rebuscadores de tais acontecimentos linguísticos, os oulipianos, que experimentavam até narrativas inteiras nesse modo, eram matemáticos, dir-se-ia que o demonstra por absurdo. Prova de que a língua é lance de dados: a palavra refaz inversamente o seu ciclo, muda de circuito ou “dromo”, sem perder a produtividade.
Nos Palíndromos, isso se presta a uma interessante leitura de Jacques Derrida, no capítulo “Derrida e o monolinguismo. Da razão pura à razão marrana”. Belo peça em prosa ensaística, tipicamente olgariana, em que, para melhor tomar o filósofo da perspectiva de um logos não-inteligível nem ascensional, a autora revolve o mito do castigo pela perda da isoglossia. Vai ao problema da inadequação fundamental da língua, também em tela no Crátilo de Platão, em vislumbre bem diverso. O que lhe permite pôr Derrida no caminho de uma filosofia não persuasiva mas embriagante, como aliás seria o diálogo da roda socrático-platônica, masculina e assertiva, se o recurso à mitologia, tão presente a suas práticas, não se camuflasse em pedagogia e assumisse o risco de sua ficção. E dar assim a “différance”, com tudo que implica de refiguração interminável do signo, inclusive de possibilidades de reversibilidade conceitualmente perfeitas do significado – como em remédio igual a veneno –, por diferimento de todo sentido acabado e garantia da contradição.
Interessantemente, no referido ensaio, isso também passa por atentar para a questão das muitas nações, e logo das muitas línguas e identidades de um Derrida perfeitamente sem lugar de origem. A exemplo de Eduardo Said, referência importante da Olgária Matos que se desloca, nos anos 2000, para a Unifesp, onde vai fundar uma cátedra sob a égide desse apátrida nascido em Jerusalém, antes da nova geopolítica da segunda guerra, e criado no Cairo, quando sob domínio britânico, numa família árabe cristã anglicanizada, que se movimenta entre muçulmanos. Para terminar em Harvard e morrer norte-americano.
Francês integrante de uma comunidade argelina ela mesma francesa, que, sob o nazismo, vai privar os judeus da Argélia de nacionalidade, tratando-os como, no passado, o catolicismo ibérico, que convertia e desconvertia os marrranos ao cristianismo, Derrida não tem pertencimento certo algum. Nem reivindica ter. E nisso é grego, na linha das relações sociais do mundo homérico, com seu código heroico, que associa philein (hospedar) e ksénos (estrangeiro), a difundir a igualdade do anfitrião e do hóspede. E nisso é mais grego que judeu, diferentemente de um Walter Benjamin mais judeu que grego, ou mais teólogo que filósofo, posto diante da questão da língua originária.
Walter Benjamin – discrimina Olgária –, pondera o perdido. Uma língua ancestral, adâmica, una e única, um médium pré-existente à dispersão babélica. Língua a impor a tradução, de resto, em A Tarefa do tradutor, como missão, no limite inglória, de confrontar os idiomas partidos, atritando suas forças performativas, fazendo-os colaborar minimamente, mas nunca decididamente, entre si, para nunca redimir a dívida. Já em Derrida, a tradução acolhe a multiplicidade, a não-origem, a equivocação, e a tradutibilidade remunera a diferença.
É nesse sentido, do inventário aberto, que ele escreve, em Torres de Babel, que “A tradução promete um reino à reconciliação das línguas”. A colaboração é por estranhamento. Desse ângulo, não há justeza ou não-justeza a considerar. Nenhum original do qual a retomada seria a cópia imperfeita. Nenhuma redução logológica da diferença. Só há retomadas.
Toda a beleza da desconstrução – se a quisermos reconhecer –, é aí associada a um entrecruzado kafkiano de ordens. Assim resumido por Olgária, diante dos exílios íntimos de Derrida: “Nós somos gregos? Nós somos judeus? Nós somos primeiro judeus ou primeiro gregos? Quem nòs?”. Fazendo assim como Cassin, quando pontua que, na Grécia, o bárbaro é o que não fala o grego, ela deixa a pergunta ressoar.
Relevar tais pontos é tanto mais interessante, para quem queira seguir a filósofa desde as Letras, quanto o plurilinguismo derridiano assim homenageado não deixa de entreter relações com as razões poéticas de uma nouvelle critique brasileira, que ademais é uma escola da tradução. Corrente esta não por acaso frequentadora e interlocutora de Derrida. E aliás, acusada de sê-lo.
Está-se falando daquela crítica heterodoxa, academicamente ex-cêntrica, atuante fora do reduto da universidade pública, a que acontece de ser interpelada por outra formação institucionalmente dominante, para a qual Derrida é o aceno mesmo de uma superfluidade francesa, de um estrangeirismo postiço, de um elã novidadeiro típico de certos redutos desenvoltos de uma nossa intelectualidade politicamente desengajada. Assim ironicamente descrita por um de seus mais prestigiosos representantes, ao acusar-lhe a bobagem provinciana: “os amigos da intertextualidade e Derrida”. De acordo com formulação encontrável no volume de ensaios Sequências Brasileiras (1999), de Roberto Schwarz, no capítulo “Adequação nacional e originalidade crítica”. Texto em que se dará – como promete o título –, o “nacional” por aval da “originalidade”.
De fato, o Derrida dos Palíndromos,cuja “différance” não se refere mais ao logos porém, na expressão de Olgária, a “forças que já não se estabilizam numa identidade”,é amigo dos não-amigos do teórico das ideias fora de lugar. Assim, tacitamente, vai pôr a filósofa contra a doxa universitária que estranha a intertextualidade. Essa forma de estilo contrapontístico, polifônico, que, já na composição musical barroca, é entrelaçamento de vozes, replicantes entre si. Barroquismos incomodam a “política dos autores”, ou o senso do estético desse establishment, vide o cancelamento de Gregório de Matos, baiano e português, e reticências em relação a Oswald de Andrade e herdeiros concretistas no acervo de sua biblioteca ideal.
Junto com isso, vai ainda envolver Olgária, como naturalmente, na querela dos críticos participantes contra os “acomodatícios”, que, com seus “achados felizes de linguagem”, passam alegremente ao largo de “nossas condições sociais atrozes”, segundo ainda a caçoada schwarziana, neste volume de título alusivo ao tempo que faz nas margens da civilização que é Que horas são? Vai posicioná-la contra um pensamento da formação que terá acabado por encontrar na sociologia da literatura, via Antonio Candido, sua melhor declinação, como asseguram os seguidores, remetendo a literatura ao gênio original da língua e do lugar. A leitura derridiana de literaturas como a de a Antonin Artaud, James Joyce, Francis Ponge, Jean Genet ficando fora desse centro regulador.
Uns fixados na noção de nação e logo de língua nacional, a imporem uma visão histórico-social das obras, sua “adequação”, justamente. Vale dizer ainda: o nexo dos textos com as condições materiais externas com que fazem corpo. Como o terá assinalado exemplarmente Candido. que, em ensaios dos anos 1970, sempre ditos seminais, em torno do romance naturalista feito in loco, vai perceber que este já não paga mais tributo à novelística europeia, vindo agora a plasmar a vida brasileira, em toda a extensão de sua malandragem. É onde toma pé o “narrador volúvel” machadiano de Schwarz, cifra da desfaçatez de nossa civilidade ao mesmo tempo moderna e escravista. Outros mais interessados nos meios, ou na mídia linguagem que no meio, no sentido de extra-texto. Ou mais na janela que na paisagem. Ou mais no ventríloquo que no boneco. Aqueles, cientistas sociais marxistas. Estes, hommes de lettres.
Olgária conspira – respira junto – com Derrida. Deve-se a isso que figure entre os colaboradores de Um tombeau para Haroldo de Campos (2005), coletânea internacional e internacionalista por mim organizada quando da morte do poeta-tradutor – sem separação monótona dos gêneros, como diria João Alexandre Barbosa –, dois anos antes da saída da coletânea. Que já trate, nessas alturas, de philia, heterofilia, hospitalidade, em nome do filósofo. “Transcriar significa para Campos apropriar-se do texto-fonte, ato usurpatório regido pelas necessidades do presente da criação”, diz aí. Assim, na prática, distanciando-se dos contextuais fixados nas forças coesivas do vernáculo ou língua da casa. Tomando o partido dos textuais, de seu lado debruçados sobre disseminações. Alinhando-se a visões sincronistas que desprezam o tempo e o lugar das ideias. Desconsiderando – enfim – o anátema que pesa sobre a disciplina do texto.
Acompanhe-se mais de perto o citado capítulo do citado Sequências brasileiras: “a demonstração de que mesmo um texto naturalista é filho de outros textos e não nasce da simples consideração do mundo não quer dizer que o momento da consideração não exista. Contra a ideia pré-moderna (mas afinada com a mídia) da procriação das obras pelas obras, numa espécie de vácuo social, sem referência a realidades extratextuais, o argumento de Antonio Candido nos mostra o reaproveitamento de outra experiência histórica, a qual incide sobre o modelo, podendo estragá-lo ou revitalizá-lo, transformando-o com ou sem propriedade, e em todo caso teleguiando a sua reorganização e imprimindo-lhe algo de si. Há também a possibilidade de a cópia (no sentido de obra segunda por oposição à primeira) resultar superior, o que relativiza a noção de original, retirando-lhe a dignidade mítica e abalando o preconceito – básico para o complexo de inferioridade colonial – embutido nessas noções. Nem por isso entretanto estas se tornam supérfluas como querem os amigos da intertextualidade e Derrida, os quais mal ou bem supõem um espaço literário que não existe, sem fronteiras, homogêneo e livre, onde tudo, inclusive o original – e portanto nada –, é cópia. Só por ufanismo ou irreflexão alguém dirá que a eventual superioridade de um artista latino-americano sobre o seu exemplo europeu indica paridade cultural das áreas respectivas, por aí ocultando as desigualdades e sujeições que teriam de ser o nosso assunto por excelência. É um bom resultado da déconstruction, além de uma alegria, saber que os latino-americanos não estamos metafisicamente fadados à inferioridade da imitação […]. Mas seria mais cegueira não enxergar que a inovação não se distribui por igual pelo planeta e que se as causas dessa desigualdade não são metafísicas, talvez sejam outras (Schwarz, 1999, p. 26.).
Grife-se: “desigualdade e sujeições teriam de ser o nosso assunto por excelência”. Contraposta ao arbitrário do signo, a injustiça planetária impõe assim ao trato literário a realidade em si. O real antes do signo. A cultural antes de sua nomeação simbólica. O que permite não apenas garantir as relações entre as palavras e as coisas, pois que as primeiras são para as segundas, e não o contrário, mas acusar a poesia feita de palavras de ignorá-las alegremente, tomando uma coisa pela outra. O significado pelo significante.
A pendência entre a visão da eterna insuficiência das palavras versus a inscrição da objetividade em si não é privilégio da periferia. Com efeito, a acompanhar o que acontece no além periférico, a querela crítica paulista reconduz e continua a famosa batalha da Nouvelle Critique, que se desencadeia, na França, em 1963, quando da publicação de um Sur Racine de Roland Barthes, que também vai mobilizar a reação dos historiadores da literatura, ciosos da presença secular dos autores, aval de sua verdade. Esta é a deflagração de um movimento de ideias a que Derrida não é estranho, já que para ele como para Barthes, o crítico lê linguagem.
Aqui também, a Sorbonne ergue-se contra a para doxa do semiólogo que ousa ir à letra do texto, em leitura horizontal, antes lógica que cronológica, sem cuidar das determinações da época, no caso a vida de corte sob Luís XIV e o jansenismo. Principalmente, aqui também, o cerne das invectivas é o apontamento de um formalismo inócuo. Para os críticos do conteúdo, é isso que define, por repulsão, toda vanguarda, como retrucará Barthes, em Critica e verdade (1956). Acrescentado que o que não se suporta é que a linguagem possa falar da linguagem.
Não se trata só do papel, se empenhado ou não, da literatura. Derrida grego- judeu-francês envolve ainda Olgária no diferendo que, de repente, passa a tensionar o entendimento do próprio trabalho que se realiza no Departamento de Filosofia em que, entre os anos de 1970 e 2000, ela se forma e atua. Este também alcançado pela acusação de que se moveria no mesmo padrão de clausura formal dos francófilos pautados pelo figurino metropolitano. Conforme exposição de motivos de Paulo Arantes em Um departamento francês de ultramar. Estudos sobre a formação da cultura filosófica uspiana. Uma experiência dos anos 1960 (1994).Volume em que a lógica do texto entra novamente em pauta, para a mesma verificação de sua inconveniência, na realidade terceiro mundista.
Outro leitor de Antonio Candido, o ponto de inflexão do autor é que a excelência do trabalho filosófico que se consolida na USP, no avançado da hora, depois do primeiro influxo da missão francesa que criou a universidade e sob a égide de expoentes da leitura interna dos sistemas filosóficos tais que Martial Gueroult e Victor Goldschmidt, desenvolve o mesmo tipo de paradigma que lança os amigos da intertextualidade e Derrida em práticas exegéticas tão exímias quanto vazias. A filosofia do conceito é a filosofia menos o filósofo. A história da filosofia de tipo goldschmidtiana é sem atores. A excelência dos professores do departamento instados a atingirem o patamar intelectual dos visitantes modelares varre a contradição para debaixo do tapete. Como nos é dito no tom despachado da escola.
Paulo Arantes conjectura uma filosofia feita no Brasil, longe da pauta das tendências internacionalistas, com o mesmo sentimento da dependência e o mesmo senso da ultrapassagem da condição colonial que a tese do influxo formativo atribui à nossa cultura literária, surpreendendo no gênio da língua um princípio organizador da sondagem da experiência brasileira. Como Schwarz, o faz remetendo-se a Candido mais lukacsiano que new critic. Associa-se assim aos “amigos de Marx”, que aqui o terão sabido “metabolizar” – para citar o mesmo Schwarz em recentíssimo depoimento à Revista Piauí (edição 207 /dezembro 2023) –, logrando extrair de O capital, que se lê em grupo avisado, delineamentos capazes de conformar uma “feição local do antagonismo de classe”. No rumo de um estruturalismo histórico dialético, que não apenas briga com o estruturalismo linguístico mas faz de suas razões sígnicas um objeto aversivo. Paulo Arantes ampliando então, na linha de Antonio Candido, como nota o mesmo Roberto Schwarz, a pertinência dessas injunções.
Intertextualizar sem querer
Retomada semiótica daquilo que os antigos chamavam vagamente subtexto, a partir do giro linguístico francês, a intertextualidade refere-se a movimentos interiores de linguagem. Mais especificamente, a conexões existentes entre textos, que podem se dar por alusão, citação, glosa, interpretação, e até mesmo cópia, a acatar-se a hipótese atrevida de Paul Valéry, em Variété, de que Baudelaire amou Edgar Poe até o plágio. Senão para lembrar a suposição fantástica de Borges, em Ficções, de que certo simbolista por nome Pierre Ménard teria reescrito inteiramente Dom Quixote, por coincidência perversa. Nessa batida, ela é inerente à própria traduçãoe à própria crítica, esses metatextos.
Introduzido por Julia Kristeva, que o depreende do formalismo russo, desde sua entrada em cena, o conceito prima por servir a novos críticos como Gérard Genette, o mencionado Barthes e observadores brasileiros do campo, como Leyla Perrone-Moisés, de instrumento conceitual para uma redefinição do estilo como escritura, e da escritura como eterna tomada de nota dos limites da linguagem e de si mesma. É por força dessa autorreferência que, para Barthes e congêneres, ela é forma de crítica, de saída contra-ideológica. Freudianizado pelos desconstrucionistas de Yale, vai dotar-se de nuance edipiana, passando a significar o assédio do escritor a um predecessor obsedante a reler ou tresler ou desler. Pensando nas camadas e camadas de escritura dos pergaminhos, o próprio Genette do volume Palimpsestos. A literatura em segundo grau (1982) falará em “palimpsestuosidade”.
Aproveitem-se as palavras mesmas daqueles que do conceito fazem pouco para algumas observações finais, que vão na direção do “phármakon”. Em Derrida, um fulcro de ambiguidades, entre o veneno e o remédio, próprio do próprio verbo, enquanto capaz de ir na linha do sentido e na do sentido inverso, acusando, como o palíndromo, o artifício da representação.
Olhando bem, a escansão “os amigos da intertextualidade e Derrida”, antes que textualmente inocente, parece retraduzir um modo de dizer desassombrado de Adorno e Horkheimer, num dos capítulos que formam o corpus de A Dialética do esclarecimento.
É na parte do livro que trata da mimesis e de Ulisses, no excurso intitulado “Ulisses, mito e esclarecimento”, alusivo ao canto 12 da epopeia homérica, em que a personagem faz cara de paisagem, camuflando-se para vencer o perigo que vem do mar, que incide essa fórmula convivial, até prova em contrário estranha ao decoro filosófico. De fato, é para melhor definir o herói como precursor do homem técnico, que já escapa dos deuses e dribla a natureza hostil, que, retomando Homero, em alíneas em que entram falas de Circe, o texto menciona os conselhos divinos que o empurram para a artimanha de fugir ao enfeitiçamento do canto das sereias, fazendo seus marinheiros taparem os ouvidos e pedindo-lhes para o prenderem, tecnicamente vigilante, ao mastro de sua embarcação. É aí que encontramos: “os amigos olímpicos de Ulisses” (para “Odysseus olympische Freunde”).
Se não estivermos errados, esse golpe de estilo, feito para rebaixar o sujeito já tornado industrioso, às voltas com disposições de controle já de impulso iluminista autoritário, senão com um utilitarismo burguês, repercute em Schwarz. Tanto mais que ele é o primeiro a nos confidenciar, em Martinha versus Lucrecia. Ensaios e Entrevistas (2012), destacando que Adorno está sempre no encalço das expressões sociais por trás das discursivas, no que estas têm de mais problemático e crucial, que: “Ler Adorno é uma experiência humilhante, pelo muito que ele vê onde o leitor não viu nada, ou quase nada”. E acrescentando cativado que “isso é apenas a metade de sua força”. Por oportuno, pergunte-se: poderia haver rendição maior da parte de um leitor a um antecessor privilegado? O que temos aí não convidaria a pensar que, depois disso, de algum modo, toda a referência do autor ao seu outro seria da ordem não apenas do assinar embaixo mas da contra-assinatura? E não é verdade que, de repente, e como inadvertidamente, o fervor adorniano terminou por introduzir- nessa sequência das Sequências Brasileiras uma espécie de homologação daquilo que os leitores norte-americanos de Derrida chamaram de “angústia da influência”?
Assim também, o dito gracioso “um departamento francês de ultramar” é uma tirada de Michel Foucault, numa de suas muitas passagens pelo Brasil, em 1965. Ainda que não propriamente um devoto de Foucault, Paulo Arantes é o primeiro a confidenciá-lo, nas muitas entrevistas que o lançamento de seu livro suscitou, e estão hoje recolhidas em periódicos científicos e arquivos digitais de nossos melhores cadernos de cultura. Foucaultianos perguntam-se se tal proferição teria sido um elogio ou um desdém, ou um misto das duas coisas, da parte do enviado da inteligência francesa aos trópicos mal-formados.
Pode-se conjecturar, por sua maneira de também nos ver culturalmente como imitadores, que, ao recuperá-lo, Paulo Arantes pende para o lado menos favorável. Fato é que, como em Roberto Schwarz fixado nos termos de Adorno, a denúncia dos avulsos evanescentes do sistema tampouco impede, nesse caso, o apelo intertextual, nem cancela a francofobia. Suspeite-se: será que, por um segundo, e bem no frontispício de seu livro aguerrido, o autor de Um departamento francês de ultramar não adota o sotaque do predecessor … e intertextualiza? No fim das contas, será que não se sai como a personagem molieresca desejosa de ingressar nos segredos da literatura… que faz prosa sem querer? E de resto: sua linguagem solta não cita a de Schwarz que cita a fala oral mineira candidiana?
A situação do escritor, principalmente moderno, chegado à consciência infeliz de que se move num mundo já falado e de que tudo já foi dito, explica a posição invertida do intertexto, que não bebe da fonte pura da literatura mas, inversamente, a retroalimenta. É dessa posição que Derrida faz, entre outros, em Ulisses Gramofone (1992), um ataque à continuação da grande cena homérica das sereias em Joyce. O título fala do assombro de vozes, agora eletrônicas, que rondam Leopold Bloom, num quarto em Dublin. O caráter sempre citacional e metonímico do texto joyceano é assim levado a um deslocamento máximo, com direito a mudança do software.
Dos grandes assediadores da tradição, é Kafka quem mais parece babelizar Homero. Num conto das narrativas do espólio, do períod1914-1924, entre nós organizadas e traduzidas por Modesto Carone, por título o ‘O canto das sereias”, ele simplesmente faz de Homero um narrador kafkiano. Na maior parte das traduções e comentários a que este prototexto grego deu lugar, inclusive nas páginas da Dialética do Esclarecimento, Ulisses vai de ouvidos bem abertos, já que bem prevenido e amarrado, ao encontro do perigo. Na tradução de Odorico Mendes, temos: “As orelhas aos teus com cera tapes/ ensurdeçam de todo,/ouvi-las podes/ Contanto que do mastro ao longo estejas, de pés e mãos atado; e se desavisado no prazer ordenares que te soltem…,/ liguem-te com mais força os companheiros.” É bem porque ouve que, encantado, vai acenar que o soltem, para lançar-se ao mar, atrás das perseguidoras.
Ora, em Kafka, ele tem os ouvidos tapados. E acontece aí, dessa vez, que as sereias não cantaram. Como escreve ele: “O canto das sereias penetrava tudo, e a paixão dos seduzidos teria rebentado mais que cadeias e mastro. Ulisses, porém, não pensou nisso, embora tivesse ouvido coisas a esse respeito. Confiou plenamente no punhado de cera e no molho de correntes e, com alegria inocente, foi ao encontro das sereias, levando seus pequenos recursos. As sereias, entretanto, têm uma arma mais terrível que o canto: o seu silêncio […] E de fato, quando Ulisses chegou, as poderosas cantoras não cantaram”. Introduz-se assim na trama do texto um deslocamento que entreabre a possibilidade do absurdo de se dizer que, não ouvindo as árias não cantadas, Odisseu não ouviu o silêncio. A menos que o tenha ouvido _ como acrescenta o contista _, e fingido não ouvir. Que tenha assim imposto aos deuses, esses peritos em disfarces, o seu próprio jogo de aparências.
Descubro em Nietzsche e as mulheres (2022), de Scarlet Marton que o filósofo também chama Homero das sereias a si. Tratando da maneira como Nietzsche se contrapõe, ao mesmo tempo, às ilusões da metafísica e à arrogância da ciência, para frisar que é dentro dessa empresa filosófica que se entendem suas perspectivas do feminino, não separáveis de seu antidogmatismo geral, ela restitui aí um excerto de Para além de bem e mal em que entra em campo a mesma cena. Leem-se nessa parte que: “os tapados ouvidos de Odisseu [o fazem surdo] aos engodos dos velhos passarinheiros metafísicos, que por demasiado tempo lhe flautaram os ouvidos”. Não ouvir ganha aqui a dimensão da superioridade nietzscheana.
Aprendemos que Derrida relê Heidegger com Nietzsche. A potência mítica não cessa nunca de exceder-se. Nem as palavras terminam nunca de não dizer o seu sentido. É do que tratam os Palíndromos.
*Leda Tenório da Motta é professora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica da PUC-SP. Autora, entre outros livros, de Cem anos da Semana de Arte Moderna: O gabinete paulista e a conjuração das vanguardas (Perspectiva).
Referência
Olgária Matos. Palíndromos filosóficos. Entre mito e história. São Paulo, Editora Unifesp, 2018, 360 págs. [https://amzn.to/3SiJ7lt]
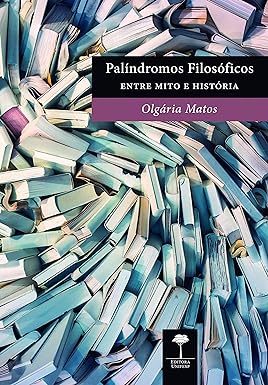
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA