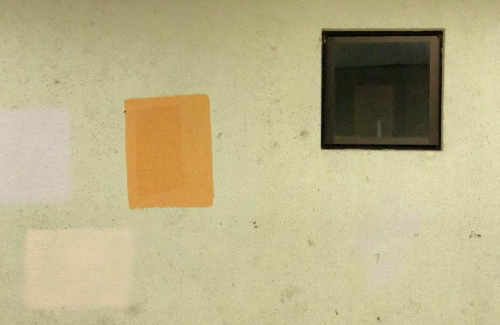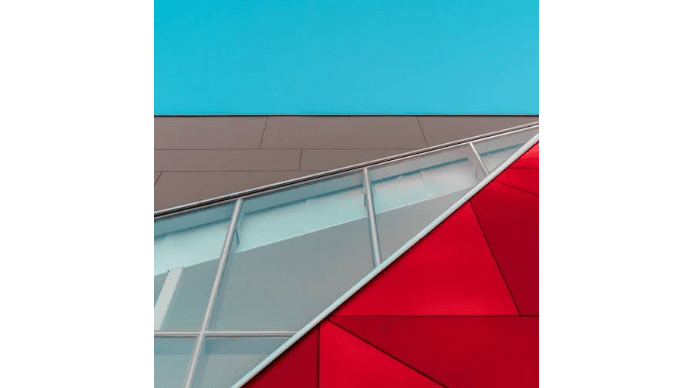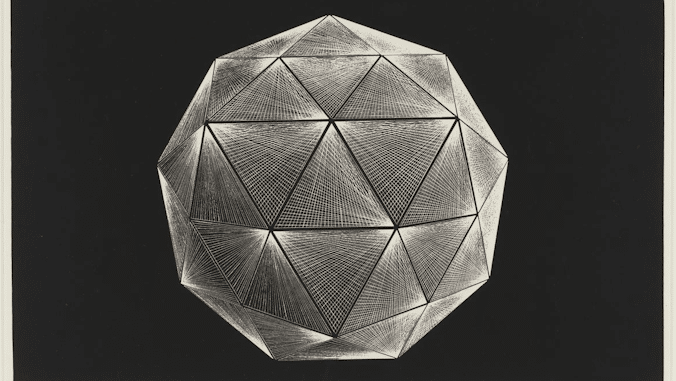Por Alfonso Berardinelli*
Prefácio do livro do cineasta italiano recém-publicado no Brasil
O ensaísmo político de emergência de Pasolini
A invisível revolução conformista, a “homologação cultural”, a “mutação antropológica” dos italianos, de que Pasolini falava com tanta ferocidade e sofrimento de 1973 a 1975 (ano de sua morte) não eram, de forma alguma, fenômenos invisíveis. Só ele os via? Por que, então, seus discursos soavam tão inoportunos, irritantes e escandalosos? Mesmo os interlocutores menos rudes reprovavam, ao mesmo tempo, e como sempre, sua obstinação passional e seu esquematismo ideológico.
Aquilo que Pasolini dizia era, em suma, conhecido em larga medida. A sociologia e a teoria política já haviam falado de tais assuntos. Os críticos da ideia de progresso, da sociedade de massa, da mercantilização total, já haviam dito há tempos tudo o que havia para dizer. A nova esquerda, aliás, não nasceu, talvez, dessas análises? Que sentido tinha, agora, fazer o papel de apocalípticos? Tratava-se, também para a Itália, de uma catástrofe normal e previsível devida ao desenvolvimento capitalista normal e previsível.
Por que Pasolini era tão insistente com seu caso pessoal? Chorar o passado era absurdo (quando um ideólogo, um político, um cientista social ousariam chorar por alguma coisa?). Voltar atrás era impossível. Deter-se de modo tão irracional sobre os “preços a pagar” para seguir adiante era inoportuno e pouco viril. A única coisa possível era, talvez, organizar uma luta revolucionária contra o Poder e contra o Capital tornados agora totalmente multinacionais: ou procurar controlar e “civilizar” sua dinâmica irrefreável e, no fim das contas, positiva. Assim, os artigos que Pasolini escrevia nas primeiras páginas do Corriere della Sera (então dirigido pelo inovador Piero Ottone), jornal burguês, patronal e antioperário, não podiam senão provocar reações irritadas, gestos de desdém, repúdio e até de desprezo.
Sobretudo quem se lembra, mesmo que vagamente, das polêmicas presentes nos jornais daqueles anos, ao reler os Escritos corsários poderá ficar espantado. Não só pela inteligência e pela imaginação sociológica de Pasolini, que sabe extrair essa visão global de uma base empírica limitada a sua própria experiência pessoal e ocasional (mas, de resto, de onde derivava todo o saber “sociológico” dos grandes romancistas do passado, de Balzac e Dickens em diante, senão de sua capacidade de ver aquilo que tinham diante de seus olhos?).
Em nenhum semiólogo especializado e profissional a semiologia, que Pasolini nomeia com grande respeito mas da qual faz um uso muito discreto, rendeu tantos frutos. O leitor fica espantado, sobretudo, com a inventividade inesgotável de seu estilo ensaístico e polêmico, com a energia selvagem e a astúcia socrática de sua arte retórica e dialética, com a sua “psicagogia”: ele sabe fazer emergir muito claramente os preconceitos intelectuais (de classe, de casta) e, frequentemente, a obtusidade um tanto mesquinha e persecutória de seus interlocutores, os quais parecem estar sempre errados; ou, caso tenham em parte alguma razão, sua razão se torna estridente e irritadiça, além de cognitivamente inerte. Enquanto Pasolini estava procurando revelar algo novo, eles apenas defendiam noções já adquiridas.
O fato é que, para Pasolini, os conceitos sociológicos e políticos se tornavam evidências físicas, mitos e histórias do fim do mundo. Assim, finalmente, Pasolini encontrava o modo de manifestar, representar e dramatizar teórica e politicamente suas angústias. Apenas nesse momento lhe era possível reencontrar um espaço que sentia ter perdido nos anos precedentes e usar de modo direto a própria razão autobiográfica para falar em público do destino presente e futuro da sociedade italiana, de sua classe dirigente, do fim irreversível e violento de uma história secular.
No entanto, a evidência física do desaparecimento de um mundo, que devia estar, e realmente estava, diante dos olhos de todos, parecia invisível aos olhos da maioria. Na descrição sumária, violentamente esquemática dessas evidências físicas, Pasolini era unilateral, injusto. Às vezes, parecia cegado por suas visões. Havia uma estranheza invencível que parecia tornar “todos iguais” os rostos dos novos jovens (como parecem “todos iguais” os rostos dos povos distantes que ainda não aprendemos a olhar, a amar). Mas o sentido da argumentação era claro: o que tornava indistinguível um jovem fascista de um jovem antifascista, ou um casal de proletários de um casal de burgueses, era o fim do fascismo e do antifascismo clássicos, o fim do velho proletariado e da velha burguesia. Era o advento (o Advento) de um novo modelo humano e de um novo poder que apagavam o rosto físico e cultural anterior da Itália, mudando radicalmente a base social e humana das velhas instituições.
É estranho que Pasolini tenha implicado com o abuso do termo “Sistema” por parte do movimento de 68. Ele próprio, quando o movimento estava se precipitando numa condição regressiva, formulava, por sua vez, em seus termos, uma denúncia violenta e global, delineando sumariamente os contornos de um sistema social “oni-invasor”. Ele partia de detalhes que eram absolutizados, destacados e ampliados (o corte dos cabelos, um slogan publicitário, o desaparecimento dos vaga-lumes). O quadro, como em toda análise tendenciosa, tornava-se deformado. Porém, essa deformação tendenciosa dava uma extraordinária eficácia e coerência provocatória aos seus discursos. E dava também uma nova imagem da sociedade como globalidade, como Sistema.
Certamente, a “homologação” cultural de que falava com obsessiva e didascálica insistência, isto é, a redução dos italianos a um único e exclusivo modelo despótico de comportamento (Nova Classe Média ou Nova Pequena Burguesia total), não era um processo que já chegara ao fim. Mas em breve o seria. Era essa transformação radical e total que tornava imediatamente velhas, esvaziadas de sentido e falsificadas todas as categorias de julgamento anteriores. Fascismo e antifascismo, direita e esquerda, progresso e reação, revolução e restauração estavam se tornando oposições puramente terminológicas e consolatórias: boa consciência dos intelectuais de esquerda. A realidade era diferente, estava “fora do Palácio” (como dirá nas Cartas luteranas), fora dos debates correntes entre intelectuais.
A história italiana teve uma aceleração repentina: “Num certo momento, o poder sentiu a necessidade de um tipo diferente de súdito, que fosse, antes de tudo, um consumidor”. O Centro havia anulado todas as periferias. A nova sociedade realizava, pela primeira vez na Itália, o poder total, sem alternativas, da classe média. Um pesadelo da uniformidade, no qual só havia lugar para a “respeitabilidade” consumidora e para a idolatria das mercadorias. Realizava-se, assim, um “genocídio” cultural definitivo. Sem necessidade de golpes de Estado, ditaduras militares, controles policiais e propaganda ideológica, o Novo Poder sem rosto se apropriava pragmaticamente do comportamento e da vida cotidiana de todos. As diferenças de riqueza, de renda e de hierarquia haviam deixado de criar diferenças qualitativas de cultura, tipos humanos distintos. Os pobres e os sem poder não aspiravam ter mais riqueza e mais poder, mas desejavam ser, em tudo e por tudo, como a classe dominante, tornada culturalmente a única classe existente.
A esses discursos, a cultura de esquerda italiana reagiu com indiferença, quase sempre no limite da irrisão. Pasolini descobria coisas sabidas e dava mais ênfase a elas. Ou talvez quisesse apenas “atualizar” a imagem um pouco desgastada do escritor como consciência pública, vítima perseguida, alma ferida. Em suma, protagonismo e vitimização. Era realmente possível, de boa-fé, descobrir somente agora a “tolerância repressiva”, o Homem Unidimensional de Marcuse? Ou os efeitos da Indústria Cultural de massa analisados décadas antes por Horkheimer e Adorno? Ou, por fim, o fetichismo da mercadoria nas sociedades capitalistas?
De fato, a partir desse ponto de vista, nas análises dos Escritos corsários não há nada de original. Pasolini, porém, sabe muito bem disso (o “genocídio” cultural, ele diz, já havia sido descrito por Marx no Manifesto). Tudo, em teoria, já havia sido dito. Mas só agora esses processos, sobre os quais havia falado a sociologia crítica na Alemanha, na França e nos Estados Unidos, chegavam à sua completude na Itália, com uma violência concentrada e imprevista. Para Pasolini se tratava de uma descoberta pessoal, de uma “questão de vida ou morte”. O seu instrumento cognoscitivo era sua existência, a vida que lhe era imposta por sua “diversidade”, por seu amor pelos jovens subproletários, deformados, corpo e alma, pelo desenvolvimento. E isso, na polêmica engajada nas páginas dos jornais, não podia senão tornar-se um maior e quase insuperável motivo de escândalo e de desprezo mal dissimulado em suas confrontações.
O intelectualismo formal e a politização difundidos na cultura de esquerda daqueles anos (da cultura laico-moderada à marxista ortodoxa ou neorrevolucionária) ofereciam a Pasolini uma vantagem cultural insólita. Todos olhavam o que ocorria nos vértices do poder, e quase ninguém conseguia mais olhar no rosto os seus semelhantes e os seus compatriotas: massas a ser conduzidas à ordem, a promover a modernidade ou a ser mobilizadas em causa do comunismo. A própria exasperação do choque político na Itália entre 1967 e 1975 impedia a falta de escrúpulos intelectuais e a percepção empírica que teriam permitido observar as mudanças do cenário e dos atores envolvidos no choque.
Por outro lado, Pasolini, mesmo tendo desconfiado do movimento dos estudantes, havia também tomado posição frente às acusações sofridas. Num artigo publicado na revista Tempo, em 18 de outubro de 1969, lemos: “Foi um ano de restauração. O mais doloroso de constatar foi o fim do Movimento Estudantil, se é que podemos, de fato, falar em fim (mas espero que não). Na realidade, a novidade que os estudantes trouxeram ao mundo no ano passado (os novos aspectos do poder e a substancial e dramática atualidade da luta de classes) continuou a operar dentro de nós, homens maduros, não só durante esse ano, mas, acredito, agora, para o resto de nossas vidas. As injustas e fanáticas acusações de integração direcionadas a nós pelos estudantes, no fundo, eram justas e objetivas. E — mal, naturalmente, com todo o peso dos velhos pecados — procuraremos não mais esquecê-lo.” (Il caos, Editori Riuniti, 1979, pp. 215-6)
Apesar do esquematismo conceitual, o livro Escritos corsários permanece um dos raros exemplos, na Itália, de crítica intelectual radical da sociedade desenvolvida. Se não pôde sozinho substituir uma sociologia desinibida e rica de descrições (além do mais, sempre menos praticada pelos especialistas), conseguiu pelo menos em parte salvar a honra de nossa cultura literária, quase sempre muito maneirista e de ideias restritas. Aquilo que também, aqui, se faz presente em Pasolini é a cor lívida e lutuosa de suas constatações e de suas recusas, a tensão exasperada de sua racionalidade, uma desarmada falta de humor irônico e satírico. A força dos Escritos corsários está, antes de tudo, na realidade emotiva e moral desse luto.
Pasolini foi um dos últimos escritores e poetas italianos (com seus coetâneos Andrea Zanzotto, Paolo Volponi e Giovanni Giudici) inconcebíveis numa cena não italiana, abstratamente cosmopolita. Aquela especial “eternidade”, sagrada e mítica, da paisagem, do mundo social italiano como ele havia elaborado em sua obra, encontramo-la evocada aqui, sobretudo no artigo dedicado a Sandro Penna: “Que país maravilhoso era a Itália durante o período do fascismo e logo depois! A vida era como a tínhamos conhecido ainda crianças, e durante vinte, trinta anos, ela não mudou: não me refiro aos seus valores […] mas as aparências pareciam dotadas do dom da eternidade. Podíamos acreditar apaixonadamente na revolta ou na revolução, e no entanto aquela coisa maravilhosa que era a forma da vida não seria transformada. […] Somente melhorariam, justamente, suas condições econômicas e culturais, que não são nada quando comparadas à verdade preexistente que governa de forma maravilhosamente imutável os gestos, os olhares, as atitudes do corpo de um homem ou de um rapaz. As cidades acabavam nas grandes avenidas […].”
É esse ensaísmo político de emergência a verdadeira invenção literária dos últimos anos de Pasolini. Funda-se no esquema retórico da requisitória, e é a grande oratória de acusação e de autodefesa pública de um poeta. Os mesmos tons da elegia são aqui arrastados pela simplicidade contundente da argumentação. A ideologia dos Escritos corsários é “vocal”, improvisada, ela se move sobre a improvisação polêmica e sobre uma nítida arquitetura de conceitos, de nervuras racionais nuas, as quais sustentam o edifício frágil do discurso com a força da iteração. Desaparece todo jogo de tonalidades, de atenuações, correções, incisões, luzes e sombras. Nesses novos poemetos civis ou incivis em prosa, tudo está desesperadamente e rigorosamente em plena luz. Um novo poder social, pragmático e elementar, que tudo esmaga em sua uniformidade, é descrito com uniformidade igualmente impiedosa, e com um uso igualmente pragmático e elementar dos conceitos, como por retorsão mimética. A genialidade ensaístico-teatral de Pasolini está toda nesse intelectualismo despojado e geométrico que manifesta destrutivamente sua angústia pela perda de um objeto de amor e pela dessacralização moderna de toda a realidade.
*Alfonso Berardinelli é professor aposentado de História da Crítica Literária na Universidade de Cosenza. Autor, entre outros livros, de Da poesia à prosa (Cosac Naify, 2007).
Tradução de Davi Pessoa Carneiro.
Referência
Escritos corsários
Pier Paolo Pasolini
Tradução, apresentação e notas de Maria Betânia Amoroso
Editora 34, 294 págs.
Texto publicado originalmente como prefácio à edição italiana dos Escritos corsários (Milão, Garzanti, 2011) (https://amzn.to/3P1sPvD).