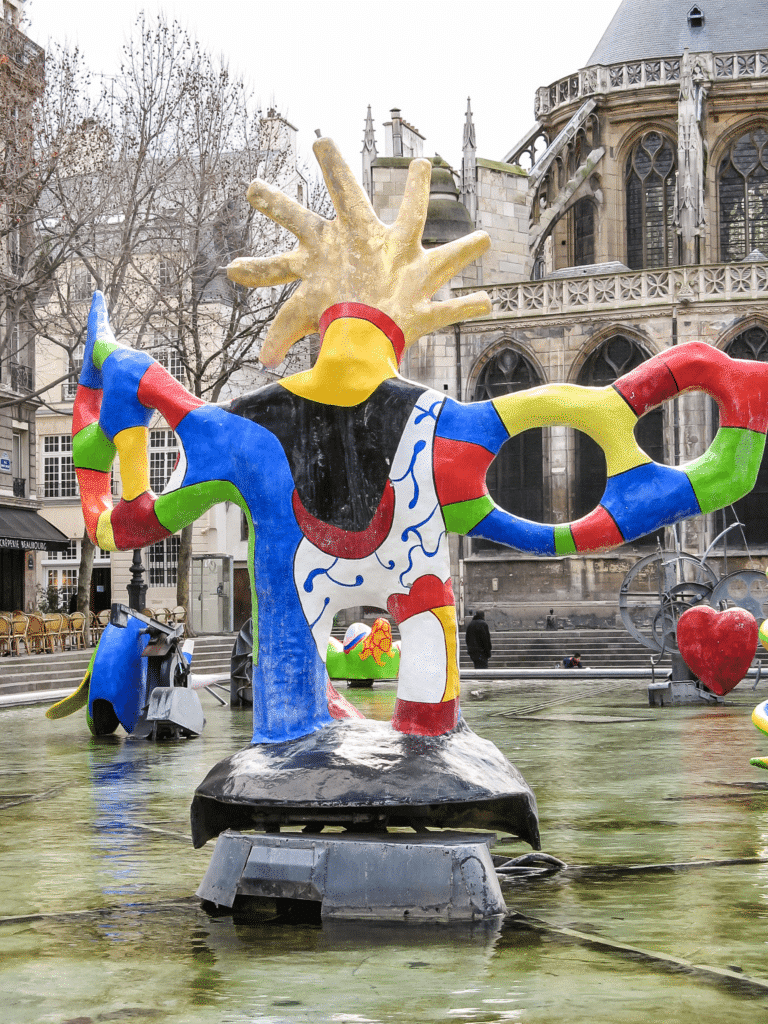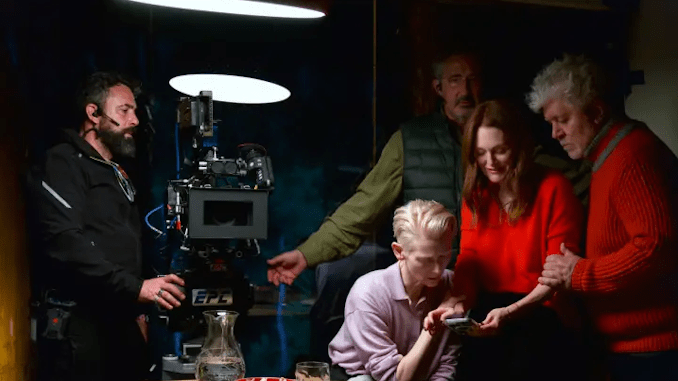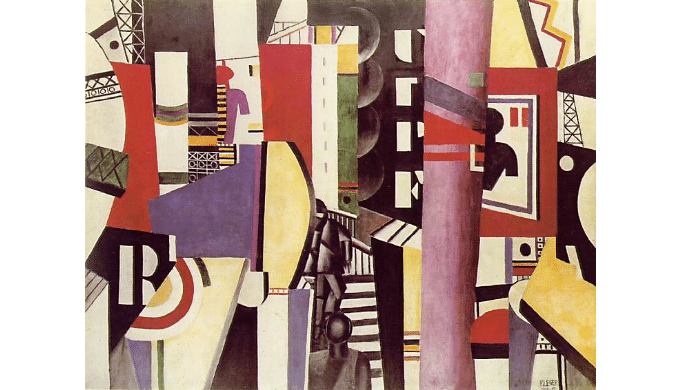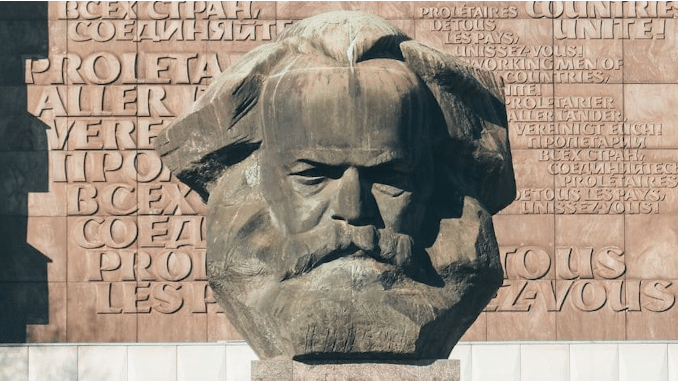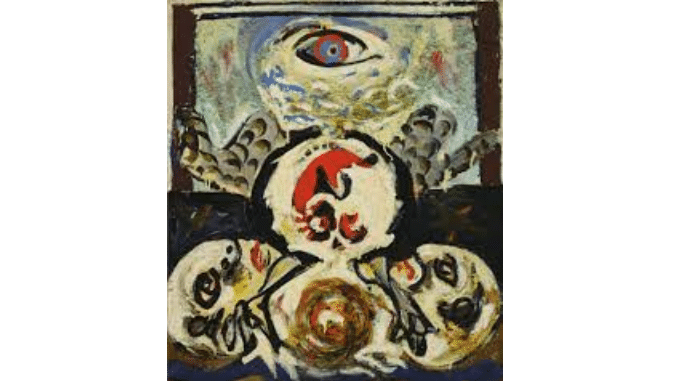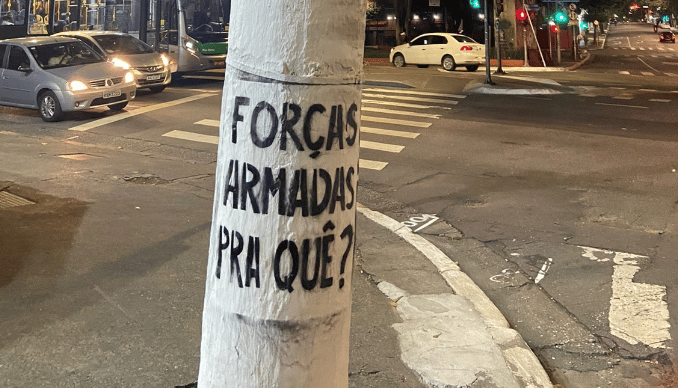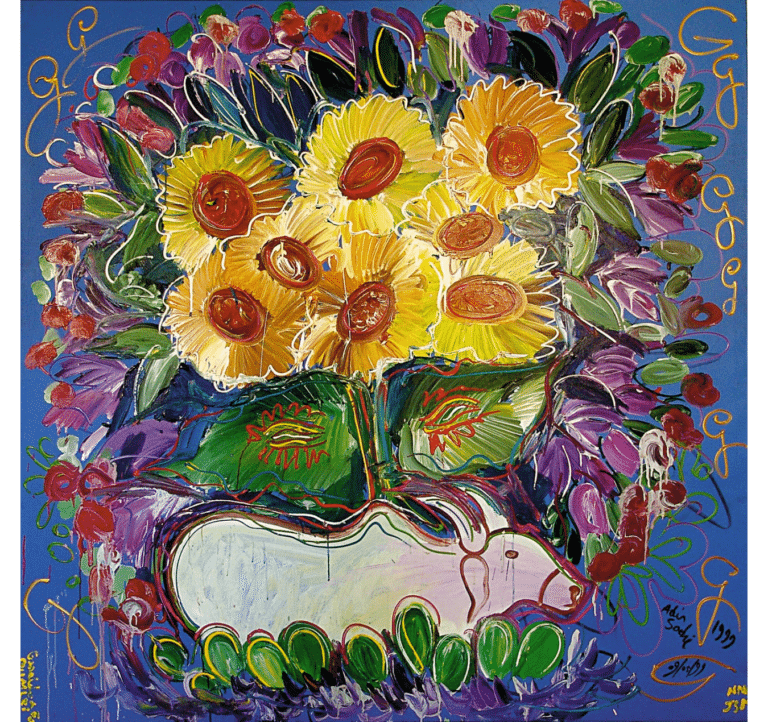Por JOÃO SETTE WHITAKER FERREIRA*
Nas esferas de mais alta renda o racismo existe, e é ali que ele se torna mais insidioso e perverso
Com a volta presencial das aulas da minha filha (que medo), parei com ela, voltando da casa dos avós no comecinho da noite, em um supermercado que me pareceu vazio, para comprar as coisas do lanche da escola. Era um St. Marche, esses mercados chiques em que você desembolsa no mínimo dez reais para levar para casa uma baguete, mas como estava vazio e no caminho, era o que tínhamos.
Enquanto rodava as prateleiras atrás de um pão de leite e suquinhos de caixinha, minha filha, de nove anos, começou a fazer o que uma criança de nove anos faria num supermercado vazio: começou a correr pelos corredores, se esquivando de mim e de quem eventualmente aparecesse ali, brincando de espiã, de esconde-esconde, o que fosse. Após alguns minutos, estranhei de ver o segurança do mercado passar por mim, meio esbaforido, máscara com nariz de fora, indo e voltando, em passos rápidos. Percebi na hora que ele estava encafifado com minha filha. Acho que lhe dei um certo alívio quando disse, na hora: “é minha filha, viu?”. Ele me deu uma resposta simpática: “ah bom, me desculpe, é que ela tava correndo pra lá e pra cá, se escondendo de mim”.
Comentei com ele que crianças são assim. Correm pra lá e pra cá mesmo e, ainda bem, se divertem. Em suma, são crianças. Talvez ele estivesse pensando que ela teria colocado alguma guloseima no bolso e, assustada com sua presença, estava fugindo dele no supermercado? Estranho, pois ela a toda hora me chamava, mesmo de longe, conversava comigo, rindo, sem a menor cara de quem estivesse aprontado alguma.
Ah, não falei até agora, pois isso, no meu entender, não deveria ter a menor importância nesta historinha. Minha filha é negra.
Mas aí vem a questão: se minha filha fosse loirinha de olhos azuis, correndo e rindo pelos corredores de um supermercado vazio, brincando de esconde-esconde com o pai e com o segurança, a única pessoa ali presente além de um ou dois outros clientes, o rapaz teria tido a mesma reação? Acho que não preciso responder.
Minha filha percebeu o diálogo, e me perguntou por que ele estava falando comigo. Expliquei que ele estava intrigado com ela correndo dele, e que eu achava que ele não tinha percebido que ela era minha filha. A resposta dela foi rápida e simples: “claro que não né pai, por causa da cor”. A resposta esconde uma fatídica verdade, que ela já assimilou muito bem: na nossa perversa sociabilidade, o privilégio de ser “de classe alta” não supera o “desconforto” da cor. Para ela, mesmo que isso nunca tenha sido explicitado, muito pelo contrário, está posto que, de alguma forma muito perversa, aquele não “deveria ser” o seu lugar. Como diz o sociólogo Kabengele Munanga, a “geografia do corpo” sempre falará mais alto.
Lembrei na hora do garoto de 17 anos, negro, deixado nu e torturado por 40 minutos em um supermercado da Zona Sul, em setembro de 2019, porque tinha furtado um chocolate. Lembrei também do menino de 10 anos que, em 1999, pedia esmola na frente do Pão de Açúcar da Afonso Brás, também na Zona Sul, e que um segurança prendeu por 20 minutos na câmara fria do supermercado. Os limites tênues que fazem com que uma situação possa virar tragédia são definidos por detalhes: no caso, um pai, branco, de classe alta, que impôs sua “superioridade” social ao segurança.
Mesmo negra, minha filha se beneficiou desse privilégio. E se fosse uma menina vindo da rua, afastando-se da sua mãe no farol, espreitando-se do segurança para entrar naquele supermercado? Nesses dois casos, os seguranças envolvidos foram punidos. A corda se rompe na ponta, onde é mais frágil. Seguranças, muitas vezes eles mesmos negros, são corretamente punidos pelos seus desvios, mas a sociedade toda, que formou suas cabeças para o preconceito, essa sempre continuará desviada.
Morei até os 15 anos na França, como filho de exilados. Uma vez, lá pelos 13 ou 14 anos, ao voltar para casa no último trem de subúrbio da noite, junto com meu amigo Reza, filho de exilados iranianos, fomos interpelados por um bando de punks de extrema-direita (nem todos os punks eram de extrema-direita, diga-se). Como não tínhamos a feição clara de europeus, ficaram nos azucrinando durante algum tempo, perguntando o que estávamos fazendo lá, na terra deles, para depois saírem do trem rindo e muito orgulhosos de seu feito. Um bando de imbecis, racistas com orgulho. Nos EUA, o confronto aberto com os negros faz com que, no Sul, um sujeito racista não tenha o menor pudor em explicitar seu preconceito e chamar alguém de “nigger”. Na África do Sul do Apartheid, a institucionalização do racismo tornou-se política de Estado, por décadas. Tudo muito explícito, o que não torna as coisas melhores, apenas diferentes.
É errado, portanto, achar que naqueles países não há racismo, ou que o desenvolvimento capitalista trouxe algum tipo de equidade racial, embora tenha, de fato, permitido algumas conquistas, como as muitas políticas afirmativas nos EUA e as de bem-estar social na Europa. Mas nada que tenha mudado de fato a condição estruturalmente racista também nessas sociedades, como parte, é claro, da onipresente dominação de classes que o capitalismo promove. O fato de que os negros são 13% da população dos EUA, mas representam 37% da população carcerária daquele país é uma boa lembrança disso, assim como o assassinato do Floyd pela polícia. Na França, na Bélgica, violências policiais semelhantes ocorreram recentemente.
Mas um fato que diferencia esses países é que, por lá, o racismo é mais explícito. Na Europa, ele nasce e ainda se alimenta de um confronto étnico-cultural e político que remonta ao passado colonizador, e se renovou em meados do século passado. A maioria dos países europeus foi colonialista, e escravista. Mas o locus dessa escravidão era externo àquelas sociedades, se dava nas colônias exóticas e distantes (embora, em Portugal, e ao contrário do que dizem alguns historiadores do “politicamente incorreto”, havia, sim, muitos escravos). Isso não institucionalizou nas suas estruturas sociais a naturalidade do racismo.
Com o passar do tempo, já na segunda metade do século passado, e com o que a socióloga franco-americana Suzan George chamou de “efeito bumerangue”, essas sociedades colonialistas se viram recebendo “de volta” populações que antes colonizaram, gente desesperada com a miséria econômica nos seus países, indo buscar oportunidades melhores nas antigas metrópoles colonizadoras. Isso gerou confrontos étnicos gritantes. Magrebinos e centro-africanos na França, africanos em Portugal, turcos na Alemanha (neste caso não pela colonização, mas pelas relações prusso-otomanas no passado), e assim por diante. A Europa incomodada mostrou toda sua xenofobia e seu racismo, sobretudo nos segmentos populares que viam seus frágeis empregos ameaçados, com a “invasão” dos imigrantes. Partidos abertamente xenófobos ressurgiram e estão a cada dia mais fortes.
Ou seja, a reação racista foi, via-de-regra, explícita. E o confronto ainda mais violento quando, algumas gerações depois, os filhos dos imigrantes, nascidos nesses países e legitimamente europeus viram seus direitos pouco a pouco recusados. Nos “distúrbios” nos subúrbios franceses na virada do século, na atitude racista das polícias, na supressão dos direitos do bem-estar social à população filha de imigrantes, explicitou-se um racismo à luz do dia. É comum na Europa atirarem bananas nos estádios, coisa que aqui (ainda?) seria quase impensável.
O “racismo à brasileira”, como o denominou Munanga, é diferente: insidioso, perverso, ele é, nas palavras do antropólogo, “velado”. Não se admite que ele exista, ele é até criminalizado. Marilena Chauí diz que “o fato de que no Brasil não tenha havido uma legislação apartheid, nem formas de discriminação como as existentes nos Estados Unidos, e que tenha havido miscigenação em larga escala, faz supor que, entre nós, não há racismo”.
É verdade que se olharmos a escancarada desigualdade sócio-racial no Brasil, onde 75% dos encarcerados são pardos e negros, onde a quase totalidade da população pobre é não-branca, onde as escolas e os hospitais pagos são quase exclusivos dos brancos, onde as balas perdidas têm como alvo, invariavelmente, corpos negros, podemos dizer que não há nada de sutil nisso. Aqui também, o racismo é escancarado, mas para quem se der ao trabalho de querer ver. É parte daquela “outra realidade” que pouco afeta as camadas superiores, que pouco têm contato com ela. No mundo dos mais ricos, da parte das cidades que funcionam, onde os “problemas sociais” estão distantes, é comum dizer que a sociedade brasileira é multirracial, compreensiva, que não há racismo. Até há pouco tempo, a construção ideológica de que somos o país do samba, do futebol, da alegria e da miscigenação cultural respeitosa (porque há de fato aspectos da nossa sociabilidade que, ainda bem, assim o são, mesmo que permitam que se faça, perversamente, tal manipulação da narrativa) ainda era a face mais conhecida, lá fora, do nosso país. Hoje, o bolsonarismo que expôs até para nós mesmos (os da bolha civilizatória) o quanto ainda somos dominados pelo conservadorismo mais odioso fez com que se escancarasse ao mundo um país bem diferente daquela imagem.
Nas esferas de mais alta renda o racismo existe, e é ali que ele se torna mais insidioso e perverso. E está presente a todo momento. Porque no Brasil, a escravidão não foi externa, a ocorrer nas colônias distantes. Ela se deu aqui, como parte constituinte da nossa formação social. Nossa população negra não veio tardiamente de um país colonizado. Ela construiu e sustentou nossa sociabilidade a partir da diáspora africana, já na condição de dominada. Há um passo muito tênue entre a existência dos escravos domésticos no Séc. XIX, ou dos escravos-tigres que, ao longo de 300 anos, retiravam as fezes e urina dos mais ricos nas nossas cidades, e as relações trabalhistas tênues com empregados domésticos e garis, quase sempre negras e negros, que hoje continuam mostrando a relação utilitária que as elites criaram com os “serviçais” de toda ordem.
Como aponta Marilena Chauí, “nossa sociedade conheceu a cidadania através de uma figura inédita: o senhor (de escravos)-cidadão, e concebe a cidadania com privilégio de classe, fazendo-a ser uma concessão da classe dominante às demais classes sociais”. Nesse sentido, o racismo que está imbuído no comportamento individual das elites não é um comportamento individual, como bem aponta Silvio Almeida em seu recente e maravilhoso livro Racismo estrutural, mas sim uma característica estruturante da sociedade que “não pode ser resolvida sem uma profunda transformação da sociedade no seu todo”, nas palavras de Chauí.
Mas para manter as suas próprias lógicas perversas de funcionamento, reiteramos o mito da não-violência e da sociedade diversa e racialmente inclusiva a tal ponto que ele se torna a face “oficial” das relações sociais enquanto que o racismo é incorporado sutilmente e desapercebidamente por todos, ou quase todos, muitas vezes até pelos que dele sofrem. Como diz a Marilena Chauí, “um mito tem uma função apaziguadora e repetidora, assegurando à sociedade sua auto-conservação sob as transformações históricas. Isto significa que um mito é o suporte de ideologias: ele as fabrica para que possa, simultaneamente, enfrentar as mudanças históricas e negá-las, pois cada forma ideológica está encarregada de manter a matriz mítica inicial”.
Assim se dá no dia-a-dia das elites a reprodução permanente da condição racista. Na relação paternalista e abusiva para com as empregadas domésticas que são, para alguns “como se fossem da família”. No olhar desconfiado para com qualquer pessoa cuja “geografia do corpo” (e nisso se insere a discussão de tantas outras situações de discriminação social e de gênero) não seja compatível com o lugar em que ele está. Um jovem negro adolescente queixou-se de que quando volta da escola com os amigos brancos, vem com eles andando tranquilo pela calçada. Mas, se volta sozinho, é frequentemente “escoltado” por uma viatura.
Nem sempre, por isso, a condenação individual imediata dos que reproduzem uma lógica social perversa, será eficaz pois mudará talvez uma cabeça que eventualmente nem percebia o que fazia, mas não muda muito a condição social geral. Um segurança de supermercado é um trabalhador explorado, sem formação, sem cursos especializados, com salário miserável. Mas reproduz aquilo que a sociedade lhe diz ser o “certo”. Assim como o PM. O problema é que esses caras todos detém uma desvirtuada legitimidade da força.
O segurança se viu aliviado quando lhe disse que aquela menina era minha filha. O rapaz era gente boa. No fundo, ele estava aflito com a possibilidade, que se construía mentalmente a partir do nada, ou melhor, a partir de uma crença insidiosa que a sociedade implantou em sua cabeça, de que aquela criança negra deveria ser, provavelmente, uma pequena ladra. Ou, simplesmente, uma criança que, por ser negra, como ele, não deveria estar ali. Eu lhe dei uma resposta que colocou as coisas no devido lugar: minha classe social e minha branquitude deram passe livre à minha filha e eliminaram o enorme conflito interno que ele estava a construir. E ele quase se afundou por baixo da gôndola quando minha filha, por iniciativa própria, resolveu ir lá e lhe pedir desculpas. Eu perguntei por que ela pediu. Ela me disse: “por nada, só para ser educada e para ele não ficar chateado”.
Encerro esta reflexão sabendo que não será a única, e que muitas outras, infelizmente, virão. Pois como diz o Silvio Almeida, “o racismo é decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo ‘normal’ com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social, nem mesmo um desarranjo institucional. O racismo, é estrutural”. De tal forma que, no nosso país, ninguém se declara racista. Mas exerce permanentemente sua condição social estruturalmente racista. Espero que a geração da minha filha possa tornar-se adulta sob outro paradigma. Nesse sentido, o escancaramento dessa estrutura social, tanto tempo ocultada pela cordialidade, e que hoje se encontra tensionada como nunca, pode ser um começo. Mas precisamos, para isso, retirar da condução do nosso país aquele – e aqueles que o apoiam – que faz do racismo e de tantos outros males correlatos (a misoginia, a homofobia, o ódio aos índios, a intolerância aos pobres, etc., etc.) o seu modus operandi, e reforça, a cada dia, essa sociabilidade perversa da qual esses males derivam.
João Sette Whitaker Ferreira é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU-USP)
Referências
ALMEIDA, Silvio. Racismo Estrutural. São Paulo: Jandaira, 2020.
CHAUÍ, Marilena. “Reflexões sobre o racismo: Contra a violência”. In: Revista Fórum, 03/04/2007.
GEORGE, Suzan. L’effet boomerang: choc em retour de la dette du Tiers-Monde. Paris: La découverte, 1992.
MUNANGA, Kabengele. Nosso racismo é um crime perfeito. Entrevista a Camila Souza Ramos e Glauco Faria. Revista Fórum, nº. 77, ano 8, São Paulo, agosto de 2008.