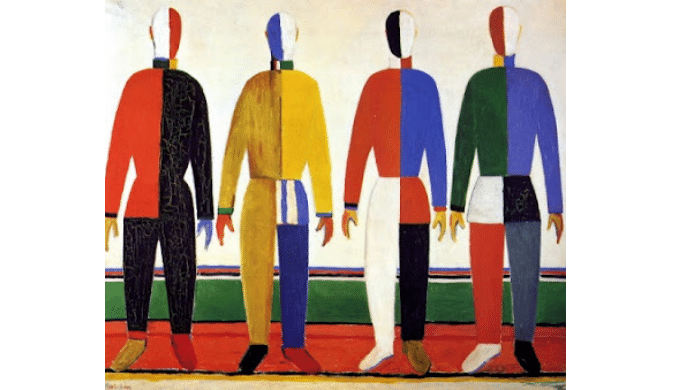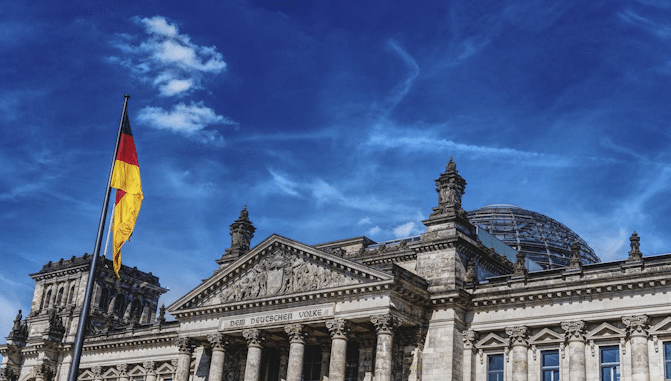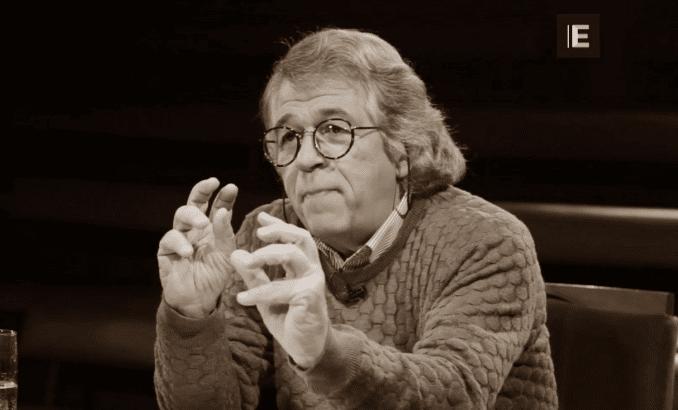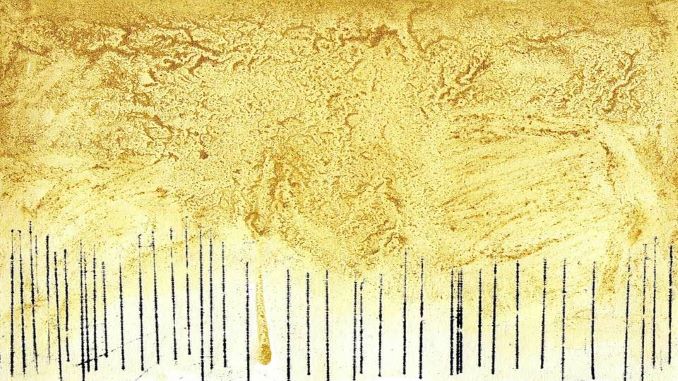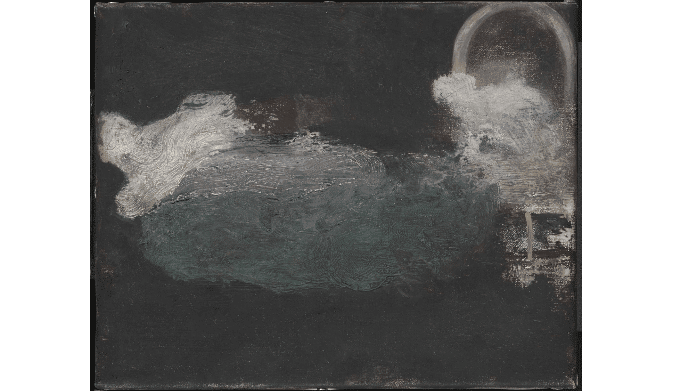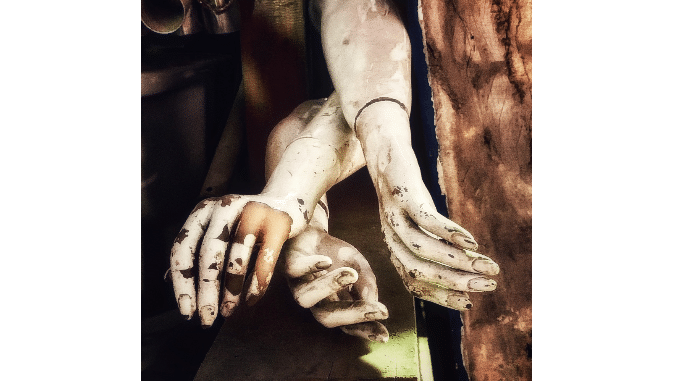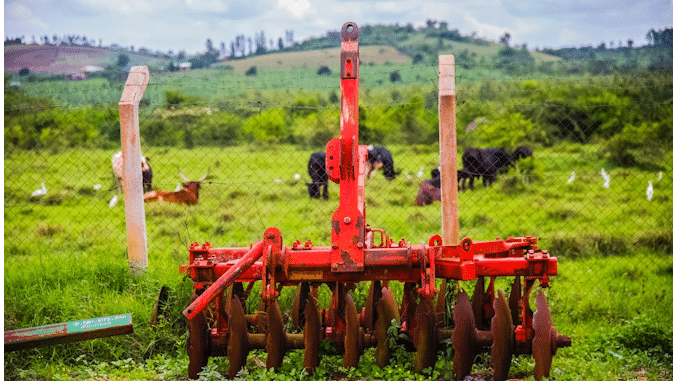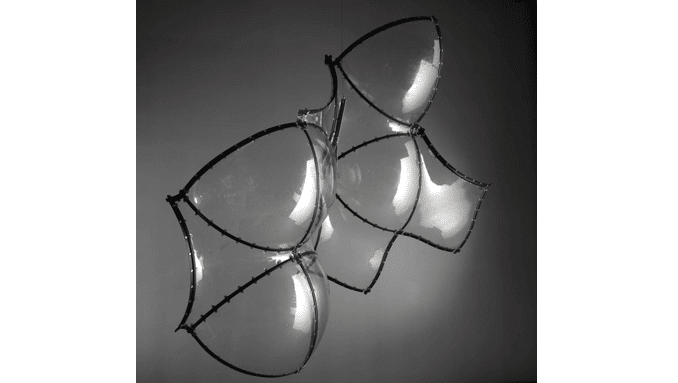Por THOMAS PIKETTY*
A crise da Covid-19 leva a repensar a noção de solidariedade internacional
A crise da Covid-19, a mais séria crise de saúde global em um século, força a repensar fundamentalmente a noção de solidariedade internacional. Além do direito de produzir vacinas e equipamentos médicos, é toda a questão do direito dos países pobres de se desenvolverem e cobrarem parte da receita tributária das multinacionais e bilionários do planeta que deve ser questionada. É preciso deixar a noção neocolonial de ajuda internacional, paga segundo a boa vontade dos países ricos, sob seu controle, para finalmente passar a uma lógica de direitos.
Vamos começar com as vacinas. Alguns argumentam (de forma imprudente) que seria inútil suspender os direitos de propriedade sobre patentes, porque os países pobres seriam incapazes de produzir as preciosas doses. É falso. A Índia e a África do Sul têm capacidade significativa de produção de vacinas, que poderia ser expandida, e suprimentos médicos podem ser produzidos em quase todos os lugares. Não foi para passar o tempo que esses dois países encabeçaram uma coalizão de cem países para exigir da OMC [Organização Mundial do Comércio] a suspensão excepcional desses direitos de propriedade. Ao se opor a isso, os países ricos não deixaram apenas o campo aberto para a China e a Rússia: eles perderam uma grande oportunidade de mudar de época e mostrar que sua concepção de multilateralismo não andava apenas em um sentido. Esperemos que eles recuem muito rapidamente.
França e Europa completamente ultrapassadas
Mas, além desse direito de produzir, é todo o sistema econômico internacional que deve ser repensado em termos dos direitos dos países pobres se desenvolverem e não se deixarem mais saquear pelos mais ricos. Em particular, o debate sobre a reforma da tributação internacional não pode ser reduzido a uma discussão entre países ricos com o objetivo de repartir os lucros atualmente localizados em paraísos fiscais. Esse é todo o problema com os projetos em discussão na OCDE [Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico]. Prevê-se que as multinacionais façam uma única declaração dos seus lucros a nível global, o que por si só é excelente. Mas ao distribuir essa base tributária entre os países, prevê-se o uso de uma mistura de critérios (massa salarial e vendas realizadas nos diferentes territórios) que, na prática, resultará na atribuição aos países ricos de mais de 95% dos lucros realocados, não deixando nada além de migalhas para os países pobres. A única maneira de evitar este desastre anunciado é finalmente incluir os países pobres em torno da mesa e distribuir os lucros em função da população (pelo menos em parte)
Esse debate também deve ser enquadrado na perspectiva mais ampla de um imposto progressivo sobre as altas rendas e patrimônios, e não apenas um imposto mínimo sobre os lucros das multinacionais. Concretamente, a alíquota mínima de 21% proposta pelo governo Biden constitui um avanço significativo, até porque os Estados Unidos pretendem aplicá-la de imediato, sem esperar a conclusão de um acordo internacional. Em outras palavras, as subsidiárias de multinacionais americanas estabelecidas na Irlanda (onde a alíquota é de 12%) pagarão imediatamente um imposto adicional de 9% às autoridades fiscais de Washington. A França e a Europa, que continuam defendendo uma alíquota mínima de 12%, o que não mudaria nada, parecem totalmente ultrapassadas pelos acontecimentos. Mas este sistema de imposto mínimo para as multinacionais ainda é muito insuficiente se não fizer parte de uma perspectiva mais ambiciosa que visa restabelecer a progressividade de impostos ao nível individual. A OCDE reporta receitas de menos de 100 bilhões de euros, ou menos de 0,1% do PIB mundial (cerca de 100 bilhões de euros).
Em comparação, um imposto global de 2% sobre as fortunas superiores a 10 milhões de euros renderia dez vezes mais: 1.000 bilhões de euros por ano, ou 1% do PIB global, que poderia ser atribuído a cada país em proporção a sua população. Colocando o limiar em 2 milhões de euros, levantaríamos 2% do PIB mundial, ou mesmo 5% com uma taxa altamente progressiva para os bilionários. Ater-se à opção menos ambiciosa seria mais do que suficiente para substituir integralmente toda a ajuda oficial internacional atual, que representa menos de 0,2% do PIB global (e apenas 0,03% da ajuda humanitária de emergência), como lembrou recentemente Pierre Micheletti, presidente da Ação Contra a Fome.
Combate ao enriquecimento ilícito
Por que cada país deveria ter direito a uma parcela das receitas extraídas de multinacionais e bilionários do planeta? Em primeiro lugar, porque todo ser humano deve ter um direito mínimo e igual à saúde, educação e desenvolvimento. Em seguida, porque a prosperidade dos países ricos não existiria sem os países pobres: o enriquecimento ocidental sempre se baseou na divisão internacional do trabalho e na exploração desenfreada dos recursos naturais e humanos do planeta. É claro, os países ricos poderiam, se desejassem, continuar a financiar suas agências de desenvolvimento. Mas isso viria adicionalmente a esse direito irrevogável dos países pobres se desenvolverem e construirem seus Estados.
Para evitar que o dinheiro seja mal utilizado, também seria necessário generalizar o combate ao enriquecimento ilícito, seja na África, no Líbano ou em qualquer outro país. O sistema de circulação descontrolada de capitais e a falta de transparência financeira imposta pelo Norte desde os anos 1980 têm contribuído muito para minar o frágil processo de construção do Estado nos países do Sul, e é hora de acabar com isso.
Último ponto: nada impede que cada país rico comece agora a destinar aos países pobres uma fração dos impostos cobrados de multinacionais e bilionários. É hora de retomar o novo vento que vem dos Estados Unidos e conduzi-lo na direção de um soberanismo apoiado em objetivos universalistas.
*Thomas Piketty é diretor de pesquisas na École des Hautes Études en Sciences Sociales e professor na Paris School of Economics. Autor, entre outros livros, de O capital no século XXI (Intrinseca).
Tradução: Aluisio Schumacher para o Portal Carta Maior.
Publicado originalmente no jornal Le Monde