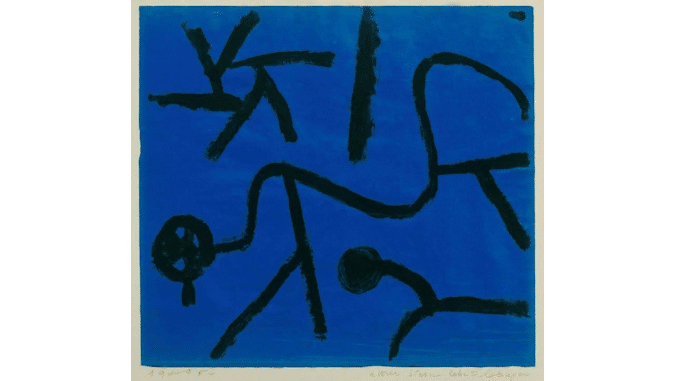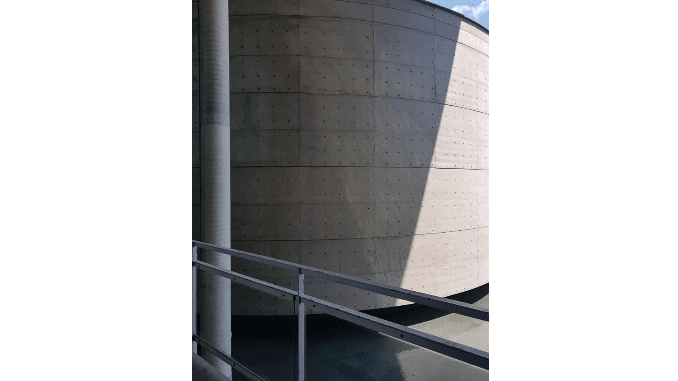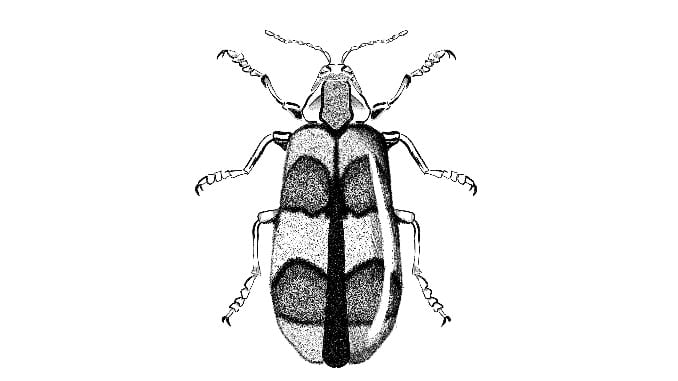Por LINCOLN SECCO*
Sergio Buarque de Holanda foi uma expressão ideológica das camadas médias urbanas na vida política a partir dos anos 1920. Mas ele tensionou os limites da visão de mundo de sua classe em direção à social democracia
Sérgio Buarque de Holanda teve como motivo recorrente de suas preocupações intelectuais a relação ao mesmo tempo conflituosa e acomodatícia entre tradição e modernização[i]. Recorreu a uma variedade de correntes teóricas (Weber, Escola Histórica Alemã de Ranke e a Escola dos Annales) e valeu-se principalmente da dialética hegeliana dentro de um “prisma historista”, segundo sua assistente na Universidade de São Paulo (USP) Maria Odila Dias. Assim, desvelou com aqueles instrumentos de análise os “meandros indecisos”, as configurações contraditórias encontradas pelos colonizadores “até chegarem a superar as formas importadas”[ii]. Segundo sua abordagem “a História jamais nos deu o exemplo de um movimento social que não contivesse os germes de sua negação – negação esta que se faz, necessariamente, dentro do mesmo âmbito”[iii].
Obra
Sérgio Buarque de Holanda nasceu em São Paulo em 1902 e faleceu no Rio de Janeiro em 1982. Foi aluno no Ginásio São Bento do historiador Afonso d’Escragnolle Taunay (1876-1958), que o ajudou a publicar o seu primeiro artigo de jornal. Em 1946 Holanda assumiu a direção do Museu Paulista, que ocuparia até 1956, sucedendo então ao seu antigo professor. Em 1958, assumiu a cadeira de “História da Civilização Brasileira” na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, que também havia sido ocupada inicialmente por Taunay. Holanda também sucedeu Taunay na Academia Paulista de Letras[iv]. Essa relação se torna mais oculta na medida em que Taunay foi rejeitado pela memória uspiana como historiador tradicional enquanto Holanda era monumentalizado.
O livro que se tornou clássico foi Raízes do Brasil (1936). No entanto, uma tentativa de reconstituir a moldura histórica daquela obra exige um cuidado amiúde esquecido. A tríade que representaria a mudança de paradigma nos anos 1930 (Gilberto Freyre, Sergio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior) obviamente não obteve reconhecimento imediato. No caso do último, seu livro mais importante é de 1942 e só ao longo dos decênios posteriores foi visto como clássico. Além disso, Antonio Candido teve um papel essencial na invenção daquela tradição intelectual.
No caso de Holanda, mais que as redefinições impostas pela Revolução de 1930, o livro que a maioria veio a conhecer foi difundido a partir da sua segunda edição bastante modificada de 1948. Nesta, o autor também registra num apêndice a resposta a uma crítica ingênua de Cassiano Ricardo sobre o conceito de cordialidade. Decerto, tratou-se de uma polêmica bastante conveniente para Holanda.
A segunda edição é “o livro” com o qual a intelectualidade brasileira dialogou. Numa concepção historicista poderíamos dizer que foi a que existiu concretamente. As alterações entre a primeira e a outra tem significado para a biografia do autor.
Na segunda edição de 1948, Holanda aumentou o livro em 1/3[v]. Quando foi reeditado, o Brasil vivenciava uma república liberal, como a denominou Edgard Carone, embora não democrática. Getúlio Vargas havia sido afastado, mas pairava sobre o jogo político. O próprio Estado Novo havia aperfeiçoado a máquina estatal, embora estivesse longe do ideal burocrático e impessoal desejado por Holanda[vi].
Metodologia
O historismo (ou historicismo) introduz a “mudança constante na imagem do mundo”[vii] e concebe que “todo fenômeno cultural, social ou político é histórico e não pode ser compreendido senão através da e na sua historicidade. Existem diferenças fundamentais entre os fatos naturais e os fatos históricos e, consequentemente, entre as ciências que os estudam. Não somente o objeto da pesquisa está imerso no fluxo da história, mas também o sujeito, o próprio pesquisador, sua perspectiva, seu método, seu ponto de vista”[viii].
Já seu antípoda, o positivismo, considera que julgamentos de valor, pré noções éticas, políticas ou religiosas podem ser afastadas para se analisar os fatos sociais, negando que aqueles pressupostos integram o seu objeto.
O objetivo de imparcialidade é condição da pesquisa mas o historismo propôs uma solução anti positivista ao problema do condicionamento social do conhecimento. Inicialmente, foi uma reação conservadora às proposições universalistas do iluminismo e do próprio positivismo, cuja pedra de toque é a identificação total entre ciências da natureza e ciências espirituais, ou seja, a pretensão de um conhecimento neutro tanto da objetividade histórico social, quanto da natural.
No final do século XIX, segundo Michel Lowy, o historicismo passa de conservador a relativista, criticando as instituições.
Para os historistas a história deve se voltar às características de uma determinada época e nelas encontrar sua justificação. A história é o locus do acaso e, portanto, da liberdade, contrariamente à ideia de natureza humana ou de uma Razão a-histórica. Como diz Sérgio Buarque de Holanda, trata-se de uma “deliberada renúncia a uma demanda de sentido (e fim) para a história. Semelhante renúncia liga-se, por sua vez, à porfia de querer observar e mostrar o passado com isenção, alheia a amores ou rancores”[ix]. A história é uma ciência do único, atenta só às singularidades e diferenças, mas cega às similaridades, repetições e conexões, separando-se por esse lado da filosofia que se ocupa de abstrações e generalizações.
É comum identificar a historiografia empirista com o positivismo, devido ao culto da cientificidade e da eliminação da subjetividade do historiador, mas a rigor essa historiografia foi uma reação às propostas positivistas de descobrir leis gerais e padrões morais arbitrários para a história[x].
Maria Odila Dias afirmou que Holanda se postou como “observador participante dos valores de outras épocas. Cada época tinha o seu próprio centro de gravidade”, cabendo ao historiador discernir “as grandes unidades de sentido no emaranhado de acontecimentos do passado”. Para ela, Holanda “foge como sempre às generalidades e persegue o global através de um método descritivo de fatos miúdos, que se ligam em cadeias e acabam por recompor quadros gerais”[xi]. Ele buscava nuançar conceitos[xii], incorporar no estilo a linguagem de cada época e compreender o significado próprio que ideias gerais tinham para atores singulares em contextos específicos. Assim, “o conhecimento histórico consistia na intersecção entre os problemas do presente, que envolviam o historiador, e sua observação participante nos valores da época passada. Estabelecia-se certa comunhão entre o sujeito (historiador) e o objeto do conhecimento histórico (o processo do devir)[xiii]”.
Dilthey propôs o problema clássico do historismo: como o conhecimento da sociedade pode ser ao mesmo tempo historicamente limitado, circunscrito aos valores de uma época, e objetivo? O conhecimento da história não pode ser uma reprodução objetiva porque é uma atividade subjetiva que propõe questões ao objeto[xiv]. Para Weber, os pontos de vista prévios e unilaterais seriam inevitáveis e guiariam a escolha do objeto, os conceitos utilizados e as questões, mas as respostas deveriam ser isentas de valores[xv]. A ciência pode ter pressupostos não verificáveis, mas os seus resultados podem ser avaliados por qualquer um independentemente de crenças ou valores[xvi].
De acordo com Löwy, as ciências naturais atingiram um consenso axiológico maior, produto de séculos de debates. Isso não significa que não tenham algumas técnicas em comum com as ciências sociais e nem que estejam livres de condicionamento social. Mas isso abrange sua orientação e não o conhecimento em si. As ciências do espírito tratam de objetos conflitivos porque eles estão inseridos numa realidade dilacerada por interesses de classe, ainda assim a busca de objetividade deve ser o seu escopo[xvii].
A resposta dos marxistas foi a de um conhecimento engajado e ao mesmo tempo objetivo. O marxismo ofereceu uma solução dialética para o problema da objetividade científica, nem positivista e nem relativista. O conhecimento científico parcial não se reduz ao interesse de classe, por isso o marxismo o critica e o conserva; o materialismo histórico é a única teoria que situa as verdades parciais das ciências num quadro geral. Essa leitura totalizante é que garante a possibilidade objetiva de acesso à verdade[xviii]. A burguesia precisa da ideologia para se manter no poder, o proletariado necessita da verdade para se opor. E a verdade está no todo[xix].
Holanda, embora respeitasse o marxismo de Lukács, mantinha diálogo com a dialética hegeliana, a Escola dos Annales, a Escola Histórica alemã entre outras. Esse ecletismo não era produto apenas de sua erudição, mas apanágio de uma intelectualidade autodidata, sem formação acadêmica específica e que se prolongou na universidade, na medida em que os professores precisavam assimilar e debater com os alunos diferentes teorias novas em nosso meio intelectual, sem tempo para sedimentá-las. Ele integrou uma geração de professores que ainda estava criando a Universidade de São Paulo. Embora ele fosse um autor muito mais significativo que seus colegas que até então haviam passado pela seção de História e Geografia da USP, também havia sido “recrutado” entre eruditos locais que já tinham obra publicada anterior e formação nas faculdades de Direito.
O Historiador Profissional
Monções foi o primeiro trabalho especializado significativo de Holanda, obra que tratou do transporte fluvial por canoas e do recrutamento forçado dos remeiros. Ele vinculou a escolha da tripulação ao sistema econômico de produção que criara “uma imensa população flutuante, sem posição social nítida, vivendo parasitariamente à margem das atividades reguladoras e remuneradoras”. Ele cita em seu apoio que “uma recente e lúcida análise dessa situação pode ser encontrada no livro do Sr. Caio Prado Junior”[xx].
No livro Caminhos e Fronteiras Sérgio Buarque de Holanda utiliza os vestígios da cultura material para recuperar a ocupação e transformação pelos europeus da região “paulista” e seu interior, e concomitantemente demonstrar em que se difere da colonização das áreas do litoral nordestino – a qual se baseia no esquema, já convencional, de latifúndio, monocultura e mão de obra escrava africana.
As razões do autor em buscar a cultura material como base de pesquisa não são arbitrárias: “A acentuação maior dos aspectos da vida material não se funda, aqui, em preferências particulares do autor por esses aspectos, mas em sua convicção de que neles o colono e seu descendente imediato se mostraram muito mais acessíveis a manifestações divergentes da tradição europeia do que, por exemplo, no que se refere às instituições e sobretudo à vida social e familiar em que procuraram reter, tanto quanto possível, seu legado ancestral[xxi]“.
Através dos indícios materiais, tais como caminhos, objetos, alimentação e medicação, Sérgio Buarque de Holanda busca o que é específico e diferenciado da colonização portuguesa no interior paulista, apresentando os resultados do confronto dessas duas culturas, a do colonizador e a do gentio, e suas modificações no tempo. Tal confronto não seria a simples sobreposição dos hábitos de um e de outro, nem a imposição de técnicas mais avançadas sobre as mais rudes, mas lento processo de transformações decorrentes das necessidades e ambições mais imediatas dos primeiros sertanistas que percorreram a região. Seria a “situação de instabilidade ou imaturidade, que deixa margem ao maior intercurso dos adventícios com a população nativa”[xxii].
Sérgio Buarque de Holanda refere-se à existência de três momentos na história do interior paulista e adjacências: aquele dos primeiros sertanistas ou bandeirantes; o dos tropeiros; e, por fim, o dos fazendeiros.
Aqueles homens que se aventuraram em regiões incomuns para o europeu, precisaram certamente de mobilidade, imposta antes pelo meio do que pelas diferenças entre os colonizadores, os quais seriam os mesmos em todas as regiões do Brasil. E o meio, no caso paulista, não permitiria o tipo de sedentarização que ocorreu logo nos primeiros anos no nordeste açucareiro. As necessidades de apresamento de escravizados no interior (índios, ou “negros da terra”), forçariam os colonos pioneiros à mobilidade, a percorrer caminhos e estabelecer novas fronteiras.
A sedentarização dos paulistas só se tornaria possível quando o meio, e o tipo de cultura que poderia então ser introduzido, assim o permitisse através do cultivo do café. Então surge o terceiro momento, o dos fazendeiros.
A reconstrução dos primeiros sertanistas e da sociedade que ali se erigiu traz toda profundidade e complexidade do pensamento de Sérgio Buarque de Holanda, onde se dá um processo lento de confronto entre culturas semi-nômades, mas totalmente adequadas ao meio e outra de maior grau de desenvolvimento técnico, porém possuidora de todo um aparato inadequado para a região. Como então extrair as riquezas da terra, objetivo indiscutível da colonização, se nas condições primevas os recursos técnicos apresentavam-se inúteis, fossem estes as armas, os hábitos alimentares, os cavalos, e até os sapatos? Somente quando os próprios colonizadores parecem ter sido capazes de instalar na região paulista uma sociedade mais sólida, com uma agricultura e criação de gado bem estruturadas é que surge o tropeiro, e só depois o fazendeiro.
A centralidade de São Paulo inscrita em Raízes do Brasil é retomada. Naquele primeiro livro ele afirmara que as bandeiras deram ao Brasil sua silhueta geográfica, desafiou perigos, leis, manteve pouco contato com Portugal, promoveu a mestiçagem, o uso da língua geral e o primeiro gesto de autonomia, o de Amador Bueno: “No planalto de Piratininga nasce em verdade um momento novo de nossa história nacional. Ali, pela primeira vez, a inércia difusa da população colonial adquire forma própria e encontra voz articulada. A expansão dos pioneers paulistas (…) podia dispensar o estímulo da metrópole e fazia-se frequentemente contra a vontade e contra os interesses imediatos desta”[xxiii]. Eles são definidos como “audaciosos caçadores de índios”.
Pode-se dizer também que Caminhos e Fronteiras e Visão do Paraíso se complementariam, posto que o primeiro traria o “suporte material” ou cultura material, enquanto o segundo tentaria reconstituir as mentalidades. Mas não há correspondência linear entre a produção da cultura material e da ideologia, pois ambas constituem um amálgama, de tal forma que a relação não é de causa e efeito, mas sim, de complementaridade, na qual tanto uma quanto outra podem assumir a primazia, sabendo-se que essa preponderância é sempre provisória, alterna-se no curso do tempo e nunca pode ser um princípio causal perene.
Visão do Paraíso pretende, através da concepção de Éden aproximar-se dos motivos espirituais da empresa ibérica, particularmente portuguesa, na descoberta e ocupação do Novo Mundo. O autor busca nos cronistas e nos navegadores, nas correspondências e nos contos de larga tradição medieval, nas epopeias e reminiscências da antiguidade, as fontes que podem permitir ao historiador aproximar-se da mundividência dessa época de conquista do Novo Mundo e “Renascimento” artístico e intelectual.
Inserindo-se na História das Mentalidades[xxiv], Sergio Buarque de Holanda não descura dos suportes políticos, sociais e até econômicos da empresa colonizadora:
“Não pretende ser esta uma história ‘total’: ainda que fazendo cair o acento sobre ideias ou mitos, não fica excluída, entretanto, uma consideração, ao menos implícita, de seu complemento ou suporte ‘material’, daquilo em suma que, na linguagem marxista , se poderia chamar a infra-estrutura. Mas até mesmo entre os teóricos marxistas vem sendo de há muito denunciado o tratamento primário e simplificador das relações entre base e superestrutura, que consiste em apresentá-las sob a forma de uma influência unilateral, eliminadas assim, quaisquer possibilidades de ação recíproca. Ao lado da interação da base material e da estrutura ideológica, e como decorrência dela, não falta quem aponte para a circunstância de que, sendo as ideias frutos dos modos de produção ocorridos em determinada sociedade, bem podem deslocar-se para outras áreas onde não preexistam condições perfeitamente idênticas, então lhes sucederá anteciparem nelas, e estimularem, os processos de mudança social. Ora, assim como essas ideias se movem no espaço há de acontecer que também viajem no tempo, e por ventura mais depressa do que os suportes, passando a reagir sobre condições diferentes que venham a encontrar ao longo do caminho“[xxv].
Sergio Buarque de Holanda parece antecipar, ou ao menos se coloca a par, das alterações que teóricos marxistas como o polonês Adam Schaff, e todos aqueles que, no conjunto da produção do marxismo ocidental, tal qual Lukacs e aqueles que se inspiraram em Gramsci, promoveram.
Entretanto, ele não se preocupa em fazer um arrazoado teórico como introdução à sua obra; não está atrás de definições estabelecidas aprioristicamente, mas sim de compreender no próprio fluir da história a dialética dos conflitos que a tecem. E onde estaria entranhada essa dialética? Para Maria Odila Dias estaria no próprio estilo narrativo[xxvi].
Visão do Paraíso é um livro cuja expressão formal anuncia muito do que é a pretensão explicitada pelo autor no plano do conteúdo. Com uma linguagem que serpenteia pelos meandros quase barrocos de complexas construções frasais, muito do que é tensão e contradição se anuncia no próprio plano da escrita.
A História, fluxo e refluxo, é o devir nada linear em que as afirmações se negam, para mais tarde se reafirmarem em sínteses sempre provisórias. É essa expressão plena de contradições, contida numa elaboração sinuosa, que leva o autor a captar os dois fatores que norteiam o seu livro, a mudança e a continuidade, ou melhor dizendo: como a mudança se abriga na continuidade.
Essa dicotomia constituída de afirmações e negações, idas e vindas, avanços e recuos, fluxos e refluxos, é que compõe a tessitura da processualidade histórica, na qual a ausência de grandes rupturas não esconde a alteração de comportamentos, atitudes deliberadas ou espontâneas etc:
“A noção de que existiria uma fratura radical entre a Idade Média e o Renascimento, e é em suma a noção básica de Burchkhardt, tende a ser superada em grande parte da moderna historiografia pela imagem de uma continuidade ininterrupta. Mas precisamente a teoria da continuidade vem reforçar a importância desses momentos que se diriam crepusculares, momentos, no caso, em que a tese da produtividade inexaurível, quase orgiástica, do homem e da natureza é ainda, ou já é, sofreada por hesitações e titubeios. É nesses momentos situados na infância, tanto quanto na agonia, de uma era de otimismo, que iremos deparar com expressões indecisas entre a do abatimento da criatura e a de sua exaltação. (…)”[xxvii].
A tentativa que ele se propôs foi reconstruir a mentalidade daqueles que se lançaram às periculosas navegações transoceânicas, enfrentando tormentos concretos e imaginários. Os que aportavam nas terras americanas traziam consigo os códigos culturais que iriam servir para interpretar uma realidade até então incógnita. Daí surgem as distinções entre aqueles que, vindos do mundo anglo-saxão, deparam-se com terras ao norte da América e os que, ibéricos na origem, serão movidos pela exuberância natural de uma terra de feracidade excepcional.
A preocupação central do autor é com espanhóis e portugueses, e mais com estes do que com aqueles. E é no cotejo da descrição das novas terras com o instrumental lingüístico transplantado da Europa, que Sérgio Buarque de Holanda primeiro encontrará os traços de uma atitude mais concreta, pessimista, presa da força da convenção, no que tange aos lusitanos. Eles foram os primeiros a desencantar o mundo[xxviii].
Desde a carta de Caminha, na qual o escrevente da frota cabralina se detém de maneira temperada na descrição da nova terra, é a curiosidade moderada, sujeita às dúvidas e indagações desconfiadas, é a prosa utilitária, que ressalta a fertilidade da terra ou as chances de encontrar as tão preciosas pedras, que moverão o espírito lusitano. Daí a desproporção entre a insistente atividade dos navegadores portugueses e sua modesta contribuição para a geografia fantástica.
O fabuloso, nas Índias tão procuradas, tornava às vezes o próprio código linguístico incapaz de reconstruir as imagens vistas, como notaria com grande acuidade Brunetto Latino, pois nenhum homem vivo conseguiria “Recitare le figure / Delle bestie e gli uccelli / Tanto son laidi e felli” (“representar as figuras / das bestas e dos pássaros / tanto são feias e más”).
Essa fantasia não estava alheia à cobiça. A ganância terrena por riquezas e honrarias se aliava às sutilezas dos bens do espírito. Essas coisas se conjuminavam de tal sorte que a busca de riquezas minerais era guiada por motivos arquetípicos, trazidos da Europa. No caso dos portugueses, pode-se dizer que a verborragia descomedida dos castelhanos teve uma influência psicológica na prática colonizatória no Brasil. A conquista do Império Incaico e o desvelamento dos tesouros das cordilheiras sul-americanas sob autoridade espanhola, sugerem ao rei de Portugal uma política mais definida e imediata na colonização do Brasil.
Essas imagens dos “incalculáveis tesouros” que os castelhanos encontravam no Peru, estimulavam os portugueses a abandonar sua habitual e desconfiada moderação para se lançar à expansão pelo interior das terras brasílicas na busca de um “outro Peru”. Lá onde a silhueta do continente se adelgava, para usar a descrição geográfica do autor, pelas bandas da capitania de São Vicente e da Vila de São Paulo, e daí para o meridiano, tornava-se mais fácil empreender as buscas pelo ouro escondido no centro da América do Sul.
A presença de motivações alheias à realidade concreta do Brasil colonial na busca do paraíso perdido chegou às raias da ironia, quando um Dom Francisco de Souza, que vivera na corte espanhola e habituado a encarar a atividade colonial segundo a deslumbrante imagem que lhe propunham a Nova Espanha, Nova Granada e o Peru, buscou autorização real e provisões para introduzir lhamas andinas em São Paulo, em 1609, transfigurando as montanhas de Paranapiacaba numa réplica dos Andes[xxix].
Aqui se observa como a dialética histórica se instala na narrativa. As aparências se contraditam e a fantasia, influenciada pelos espanhóis, volta a desaparecer nos portugueses que, embora diante dela não fossem de todo insensíveis, preferem o imediato e o quotidiano ao milagre fantástico[xxx]. Onde estão as raízes dessa peculiaridade histórica portuguesa?
A Revolução de 1383-85 inaugura nova dinastia (Casa de Avis) que promove a centralização do reino e abre caminho à expansão ultramarina comandada pela coroa. A precocidade do absolutismo português o coloca à frente de sua época. Mas o próprio Sérgio Buarque de Holanda demonstra que os novos homens no poder não deixaram para trás suas virtudes ancestrais, adaptando-se aos padrões da nobreza. As formas modernas encobrem o fundo arcaico e conservador e o absolutismo monárquico que racionaliza o Estado é uma simples fachada de uma forma mentis vinculada ao passado[xxxi]. O papel português na expansão ultramarina não adveio de um espírito pioneiro e moderno mas “de uma limitação arcaizante, ainda que eficiente, à sua expansão”[xxxii].
Ao contrário da maioria dos castelhanos é a veia puramente descritiva e o acúmulo de “minúcias justapostas”, conforme a tradição dos cronistas medievais, que vai guiar o olhar português. A sua obra colonizadora é eminentemente tradicionalista, daí seu caráter disperso, fragmentário, de feitorização, e não de um Império articulado, como o da Espanha.
Para o autor, as transformações na superestrutura correspondem, em sua gênese, ao modo de produção, mas sua dinâmica depende de fatores espaciais e da História.
Em sua derradeira obra de fôlego (Do Império à República, 1972), Sérgio Buarque de Holanda transitou das mentalidades para a história política. Ele desmontou a ideia de estabilidade política do império. Demonstrou como a Carta outorgada por Pedro I foi inspirada na Constituição da Restauração francesa de 1814.
Ao pressupor uma constituição escrita e outra não escrita, o autor desnudou a deturpação da ideia de poder moderador. Para Benjamin Constant o poder moderador é neutro e os ministros são responsáveis perante a nação. No Brasil o Rei reina e governa, confundindo os poderes executivo e o moderador.
Para Holanda o poder pessoal do imperador é necessidade de uma elite fracionada por facções rivais. Ele se detêm em aspectos pessoais do monarca, mas em ligação com a conjuntura e o sistema político que dependia de sua figura. Criticou a relação feita por alguns entre fim da monarquia e ascensão das classes médias, posto que não havia burguesia para sustentar a democracia. Ela devia se sustentar na massa da população, embora ele não tenha lembrado que nos regimes liberais europeus do século XIX também não havia sufrágio universal.
Holanda para diante da República. No livro sobre o império ele registrou a hegemonia de homens da Bahia nos sucessivos gabinetes e antecipou a hegemonia de São Paulo no período republicano[xxxiii]. Ele tratou de dois temas significativos para o ano de publicação do seu livro: a questão militar e o positivismo que se atribuiu aos republicanos (e o spencerianismo paulista). Mas abandonou a direção da coleção História Geral da Civilização Brasileira, assim como já havia se demitido da cátedra da USP.
Revolução
No âmbito das classes médias que aderiam ao socialismo democrático (Sérgio Buarque de Holanda nutriu simpatias pela Esquerda Democrática) e aos ideais originários da União Democrática Nacional (UDN), é difícil aceitar a defesa de um autêntico liberalismo, muito menos com tinturas sociais e democrático. Evidentemente que o “progresso” deve estar inscrito nos limites de classe de um autor como Sérgio Buarque de Holanda.
De espírito não revolucionário, ele criticou as reformas adiadas pelo Império, embora elas derivassem da própria natureza do regime, segundo sua concepção. Ele se apresentou como um defensor de uma revolução que já estava delimitada no curso das coisas. Avesso a esquemas pré concebidos, criticou as soluções comunista e integralista. Parecia mesmo lamentar a passagem de um comunismo de mentalidade anarquista a ao stalinismo, embora não use o termo.
Para ele o “caráter nacional” “amolecia” qualquer princípio ético ou político e as correntes radicais de direita ou esquerda não estariam imunes a isto. As torturas do Estado Novo e da Ditadura Militar desmentiram o autor, pois não houve qualquer “moleza” quando se tratou de aplicar uma política anti revolucionária pelo Estado brasileiro. Este também se estruturou racionalmente para dar segurança jurídica aos negócios imperialistas no Brasil.
Por outro lado, sua defesa da impessoalidade do Estado em 1936, quando este estava se estruturando em sua feição moderna no Brasil; e da democracia, quando ela não tinha nenhum movimento a seu favor enraizado na sociedade, constituía uma ousadia. Não podemos projetar os limites da democracia percebidos décadas depois nas lacunas de uma obra da primeira metade do século XX.
O personalismo, a cordialidade e os traços aristocráticos já estavam, para o autor, em vias de desaparecimento em 1948 (data da segunda edição de Raízes do Brasil). Esse é um aspecto importante porque não faria nenhum sentido falar em cordialidade hoje no Brasil. Poder-se-ia acusar o autor de ter elaborado um mito que se apossou das massas, mas seria uma perspectiva idealista que confere aos intelectuais do passado a predominância na formação da cultura política vigente quase um século depois. Essa cultura vai além dos conceitos produzidos por acadêmicos e se define por valores, preferências, hábitos, organizações, sentimentos e ideias compartilhadas que também surgem na própria sociedade e ancoradas nas relações de produção.
A negação do liberalismo é para Holanda inconsciente no caudilhismo latino americano, mas é um “corpo de doutrina” no fascismo europeu. Sua postura anti personalista se manteve e se refletiu, por exemplo, no julgamento de Solano López como desvairado e tendente à megalomania e à fantasia[xxxiv]. Em Raízes do Brasil ele não leva em conta que exatamente o fascismo levou ao paroxismo a personalização (vejam-se Hitler, Mussolini e vários outros ditadores do Velho Mundo), o clientelismo, a quebra de rotinas burocráticas e disfunções no aparelho de Estado[xxxv].
O culto da personalidade, a tibieza das formas de associação não são biológicas para ele. Nem a ausência de moral fundada no trabalho. A miscigenação não é importante e sim a herança ibérica, “por isso que ele se refere tão pouco a índios e negros” segundo João Reis[xxxvi]. Entretanto, para Holanda a própria herança lusitana traz a presença negra que já existia em Portugal. O português é apresentado como desprovido do orgulho de raça, tem“extraordinária plasticidade social” e a presença do negro no espaço doméstico atuava como “dissolvente de qualquer ideia de separação de castas ou de raças” e haveria uma “tendência da população para um abandono de todas as barreiras sociais, econômicas e políticas entre brancos e homens de cor, livres e escravos”[xxxvii].
Tanto Holanda quanto Prado Junior, ao analisar as “raças” recaem na concepção de Gilberto Freyre. Somente a confusão da escravidão mercantil com a manutenção residual da escravidão doméstica poderia levar a projetar laços paternalistas ao conjunto das relações de produção escravocratas.
Sergio Buarque de Holanda estabeleceu tipos ideais que “em estado puro” não “possuem existência real fora do mundo das ideias”, em suas palavras. O tipo ideal é um construto mental obtido mediante a seleção de características que compõem idealmente um instrumento teórico que faz um recorte da realidade e o compreende. Na medida em que não podemos captar a diversidade infinita da história, recorremos a um instrumento dotado de valor heurístico, ou seja, uma hipótese de trabalho provisória que orienta a pesquisa empírica. Os fatos jamais se reduzem ao modelo porque este serve apenas de parâmetro de observação, como uma diretriz da investigação. A sua própria formulação, entretanto, já é um resultado da observação e seleção de fatos e não uma construção ex nihilo[xxxviii].
Mentalidade capitalista e paternalismo, negócios e amizade foram pares opostos usados para explicar o comportamento social marcado por relações pessoais na esfera pública e dos negócios. A crítica de Holanda visava não apenas o Estado, mas também o mercado. Em sua opinião, a mentalidade ibérica padecia de “uma incapacidade, que se diria congênita, de conceber qualquer forma de ordenação impessoal e mecânica prevalecendo sobre os vínculos de caráter orgânico e comunal, como são os que se fundam no parentesco, na vizinhança e na amizade”[xxxix].
Pode-se deduzir que no Brasil não se operou, no mesmo ritmo de outros países, a predominância de uma solidariedade mecânica fundada na divisão do trabalho racional, impessoal e complexa, sobre a solidariedade orgânica, baseada em tradições e valores pré capitalistas. Esta conclusão de cunho sociológico durkheimiano é amparada em observações históricas. No entanto, poderíamos nos perguntar como uma solidariedade orgânica sobreviveria numa economia empresarial especializada na agro exportação e direcionada à obtenção de lucro? Não faria mais sentido falar na falta de coesão social ou em anomia e se indagar como ainda assim surgiu entre nós um estado nacional e o cálculo econômico racional?
A observação histórica de Holanda se dá em pares ideais que se interpenetram e se diluem. Para ele, por exemplo, a conquista e a colonização ocorreram numa época que favorecia o aventureiro e não o trabalhador e isso não era uma singularidade portuguesa:
“A verdade é que o inglês típico não é industrioso, nem possui em grau extremo o senso da economia, característico de seus vizinhos continentais mais próximos. Tende, muito ao contrário, para a indolência e para a prodigalidade, e estima acima de tudo, a boa vida”.
Por vezes parece dar mais peso às “condições locais”, ao clima, às técnicas já adaptadas ao meio que faziam com que alemães no Espírito Santo imitassem os lusitanos. Mas ele também afirma que o indígena é desprovido de “certas noções de ordem, constância e exatidão que no europeu formam como como uma segunda natureza”[xl].
Em sua descrição das reformas do Império, os escravizados estão ausentes, quando muito pertencem a um pano de fundo. En passant registra-se sua tomada de consciência[xli]. Ainda assim, Holanda atribuiu à abolição o papel de retirada dos “freios tradicionais contra o advento de um novo estado de coisas”[xlii]. Enfim, tanto quanto as tensões e acomodações que ele identificou como determinantes psicológicas do povo brasileiro, seu livro Raízes do Brasil é um ambíguo ensaio de incertezas e aventuras por tempos e espaços sem um princípio ordenador resistente às forças dissolventes da história, capaz de expressar o conteúdo na sua própria forma argumentativa, o que lhe permitiu também eximir-se em muitas ocasiões do rigor teórico.
Cordialidade
Para Dante Moreira Leite é evidente que Holanda “está falando da classe alta” quando trata do homem cordial; a cordialidade é “forma de relação entre iguais (…) e não entre o superior e o subordinado”:
“A impressão contrária (…) não é cordialidade, mas paternalismo: como a distância entre as classes sociais é muito grande, a classe superior tem atitude de condescendência para com a inferior, desde que esta não ameace o seu domínio. Nem é difícil concluir que essa mesma distância mascarou o preconceito racial no Brasil: os negros, colocados em situação que não ameaça os brancos são tratados cordialmente. No entanto, quando os negros ameaçaram essa posição, foram tratados com crueldade: é suficiente lembrar a história do bandeirante que exibia as orelhas dos negros mortos em Palmares”[xliii].
Poder-se-ia imaginar que a cordialidade se espraiou pelo conjunto da sociedade, mas a maioria das pessoas não tem oportunidade econômica para estabelecer negócios ou promover interesses de familiares e amigos. Dante Moreira Leite não leva em conta que a própria cordialidade não é bondade e sim o deixar-se levar pela exteriorização afetiva, expansiva, pessoal, impolida e não necessariamente sincera, como lembra Antonio Candido na apresentação que fez à quinta edição de Raízes do Brasil (1969). Na cordialidade pode estar incutida a violência, mas Leite tem razão ao dizer que entre iguais essa violência é ocasional.
Para Holanda a ascensão da cidade é o triunfo do geral sobre o particular. O desenvolvimento urbano tenderia a dissolver relações pessoais típicas do meio rural, mas não há uma dicotomia absoluta entre os dois polos. Richard Morse defendeu a tese de que o triunfo do abstrato e do geral só ocorre se a ordem doméstica e familiar não for negada, mas também conservada ou, na linguagem do autor, “enriquecida tanto em termos domésticos quanto gerais”[xliv].
Devemos seguir o próprio método escolhido por Holanda e encontrar o avesso do que ele denominou cordialidade nela mesma: encontraremos uma empresa constante e meticulosa, fria e racional que caracteriza os processos de submissão das classes dominadas ao longo de séculos, exemplificados por Palmares, Canudos e tantos outros casos.
Aspectos culturais e geográficos conferiram a forma particular que a violência colonial vertical assumiu entre nós; mas ela foi menos produto de personalismo ibérico, dinâmica familiar ou isolamento rural e muito mais exigência econômica numa terra vasta de escassa força de trabalho e amplas possibilidades de deslocamento espacial. Tanto quanto no Leste Europeu da era moderna[xlv], era preciso aprisionar o trabalhador à terra. Exemplos organizados como os quilombos, pequenas propriedades de posseiros, alambiques improvisados ou a vadiagem eram insuportáveis para os proprietários escravistas.
Igualmente o desleixo com a terra, devastada e abandonada, não deriva do espírito de aventura do português e sim do tipo de colonização de exploração aqui estabelecido. E se formos mais ao fundo da questão, a agressão ao meio ambiente se vincula à própria dinâmica da reprodução do capital, verificada antes de tudo na Europa onde a paisagem foi inteiramente transformada. O esgotamento do solo do Vale do Paraíba exigiu cálculo, rotina, impessoalidade e subordinação de todas as ações a um critério contábil, ou melhor, à viabilização da acumulação de capital na periferia.
Em O Capital Marx exibe inúmeros exemplos de desperdício, adulteração de mercadorias e esgotamento desumano da força de trabalho e da natureza. O capitalismo é irracional do ponto de vista macroeconômico, o que não impede que haja racionalidade microeconômica nas decisões de investimento. Sérgio Buarque de Holanda considera irracional um comportamento que é perfeitamente adequado ao modo de produção capitalista. Ele deixa assim de ser coerente com seu historismo e submete a julgamento os valores e práticas econômicas do passado.
“Para o empregador moderno”, diz nosso autor, “o empregado transforma-se num simples número: a relação humana desapareceu. A produção em larga escala, a organização de grandes massas de trabalho” conferiu ao empresário um sentimento de irresponsabilidade “pelas vidas dos trabalhadores manuais”[xlvi]. Poderíamos nos perguntar se essa afirmação não serviria perfeitamente a uma empresa colonial e aos senhores de engenho e seus capatazes diante de seus trabalhadores escravizados.
Ao mesmo tempo Holanda não pretende um engajamento revolucionário, pois sacrificaria a objetividade possível do conhecimento histórico. Isso não significa que sua exigência de liquidação dos traços personalistas, “cordiais” e corrompidos das elites das classes dominantes na esfera pública não fosse um avanço democrático na República Liberal dos anos 1950. O próprio Sérgio Buarque de Holanda precisa ser compreendido segundo os valores daquele momento e não de acordo com o século XXI.
O papel de evidente relevo que Holanda confere a São Paulo em seus estudos históricos seria incompreensível sem levar em conta a auto imagem da elite paulista em sua época, bem como o surto industrial acelerado a partir do Estado Novo.
Na introdução que escreveu em 1941 para as Memórias de um Colono de Thomas Davatz, Holanda descreve uma “nova raça de senhores rurais” cujo “domínio agrícola deixa de ser uma baronia e transforma-se em um centro de exploração industrial”. A “raça” do oeste paulista (de1840) não tem os traços característicos do senhor de engenho nordestino ou mesmo do fazendeiro do Vale do Paraíba. Sem uma larga tradição agrícola atrás de si, ela vê “no presente o que o presente reclama e repele”, numa frase de inspiração historista. Seu elogio indisfarçável prossegue: aquela “raça” é composta por “homens de iniciativas e espírito prático, capazes de encontrar novas soluções para problemas novos”. O uso do termo “raça” não deve passar despercebido. Holanda não lhe atribuiu um significado biológico, mas é inegável que a palavra carregava em si o prestígio científico da época. O autor se inclina muito mais ao papel da fitogeografia e ao gênero de vida. Para ele o cafeeiro é uma “planta democrática”, cuja cultura tem “natureza absorvente e exclusiva”[xlvii].
Holanda transpôs o trecho da Introdução a Davatz à segunda edição de Raízes do Brasil. A plantação exclusiva de café romperia o caráter autárquico do engenho e exigiria a busca de alimentos e outras mercadorias nos centros urbanos. Também as ferrovias rompem o isolamento rural e o fazendeiro pode ser um absenteísta que vê a propriedade apenas como empresa e vive na cidade. Embora tivesse se referido aos paulistas do oeste, o autor fornece um exemplo da província do Rio de Janeiro: a carência de braços devida à extinção do tráfico aumentou a produtividade de cada escravizado que tratava em 1884 de 7.000 cafeeiros, quando antes cuidava de 4.500 pés[xlviii]:
“O espírito de aventura, que admite e quase exige a agressividade ou mesmo a fraude, encaminha-se aos poucos, para uma ação mais disciplinadora. (…) O amor da pecúnia sucede ao gosto da rapina. Aqui como nas monções do Cuiabá, uma ambição menos impaciente do que a do bandeirante ensina a medir, a calcular oportunidades, a contar com danos e perdas. Em um empreendimento muitas vezes aleatório, faz-se necessária certa dose de previdência, virtude eminentemente burguesa e popular. Tudo isso vai afetar diretamente uma sociedade ainda sujeita a hábitos de vida patriarcais e avessa no íntimo à mercancia, tanto quanto às artes mecânicas. Não haverá aqui, entre parêntese, uma das explicações possíveis para o fato de justamente São Paulo se ter adaptado, antes de outras regiões brasileiras, a certos padrões do moderno capitalismo?”[xlix].
Holanda foi cauteloso ao escrever a expressão “uma das explicações possíveis”. Ele teria que conjugá-la a outros fatores posteriores e elencados em outros textos, como a geografia, a cultura do café, a demanda internacional do produto, a fertilidade da terra roxa, a escravidão, o regime de colonato, o financiamento da imigração, exploração de força de trabalho de outras regiões etc. Mas por que a predisposição do paulista ao espírito do capitalismo não se verificaria na empresa “racional” e sistemática da produção de açúcar de outras áreas? Mesmo assim, o autor aborda um problema real a partir do seu presente: São Paulo exibiu um crescimento econômico sem par no tempo em que Holanda escreveu suas obras.
“Revolução”
A “Democracia improvisada” é o título de um capítulo do livro Do Império à República. Desde seus primeiros livros ele buscou na dialética entre tradição e mudança a evolução possível da sociedade brasileira. Calcado em teorias europeias, ele buscou adensar continuamente sua pesquisa e até adaptar a forma da escrita à realidade brasileira. Já em Raízes do Brasil o capítulo em que se apresenta o tipo ideal do homem cordial é fundamentado quase todo em teóricos ou viajantes europeus, diversamente do último capítulo sobre “nossa revolução”. Há um movimento em busca do concreto, do local enquanto expressão do universal. O positivismo, o liberalismo, o integralismo e o comunismo não parecem ao autor mais que adaptações que não se colam ao chão social latino americano, sendo “formas de evasão de nossa realidade”[l].
O autor confere positividade a uma outra forma de improviso, diferente do acaso macunaímico produzido pela colonização. É verdade que a realidade brasileira seria irredutível a esquemas e “escolhas caprichosas”. “A “nossa revolução” corresponde às necessidades específicas do solo histórico nacional, acomoda-se mais às “formas subjacentes” do que à configuração exterior da sociedade. Ela é o contorno de um real inacessível que muda devagar no próprio cotidiano, nas reconfigurações da economia e da geografia, na transição do rural ao urbano, em contraste com os valores cordiais e os fundamentos personalistas que devem ser liquidados.
Não se vê um sujeito dessa revolução, a qual representa a “dissolução lenta (…) das sobrevivências arcaicas”[li]. Mas ainda assim há um conjunto de ideais encontrados na própria negação da sociedade colonial. Essa negação existe nela mesma e não é resultado de um grande movimento auto consciente de libertação. Também não é inteiramente inconsciente. Há tomadas de consciência aqui e ali. A dissolução da ordem antiga já se encontra em processo. Os tipos ideais que Holanda evoca para compreender a sociedade brasileira limitam sua interpretação, mas não escondem as mudanças e nem constituem uma eterna descrição de uma realidade brasileira imutável. Não há prisões eternas. As alterações na infraestrutura que ele nota são mais velozes do que as da superestrutura; ideias se mantêm, mesmo com seus suportes materiais em dissolução, como a abordagem dialética de Visão do Paraíso demonstrou.
Essa descrição desapegada e desengajada remete mais ao pessimismo da razão e pouco ao otimismo da vontade. O seu historismo se reveste de um desapego de fórmulas, projetos e de uma vontade coletiva organizada. Esta poderia ser no máximo uma somatória de ações e vontades individuais, mas não sabemos por qual critério explicar o que as mantêm em conjunto e o que lhes dá sentido[lii]. Para o autor, o espírito só é força normativa se “servir à vida social” já dada. Podemos concluir que a revolução é imprecisa, sem um programa delineado, embora ela se encontre objetivamente enraizada na história do Brasil.
Conclusão
O fato de que muitas de suas conclusões correspondem ao senso comum sobre o que é o brasileiro, não significa que sejam inteiramente falsas. Elas comportam características verdadeiras, porém formuladas ideologicamente. A ideologia que orienta seu primeiro livro e que permeia sua produção historiográfica, não deixou (como vimos) de ter cunho progressista na sua época e nem invalidou sua pesquisa. Seria preciso estar fora do mundo para afirmar que todas as construções intelectuais do passado carecem de importância por se prenderem aos valores de uma classe, época, religião ou grupo social mais restrito.
No caso de Holanda a exigência de impessoalidade, previsibilidade, racionalidade, honestidade e impessoalidade correspondeu ao ideário tenentista das camadas médias que emergiu nos anos 1920. Ideário que só encontraria tradução superior na adesão à classe trabalhadora (caso de Prestes). Holanda manteve-se à esquerda, mas sua revolução estava contida e tensionada num reformismo pleno, socialmente comprometido e democrático. Em certo sentido, algo que poderia ser revolucionário no Brasil, caso apontasse um sujeito histórico e um programa, como o fizeram cada um à sua maneira, Caio Prado Junior e Florestan Fernandes.
É uma obviedade dizer que não fazia parte de seu interesse, temperamento ou prática política formular qualquer programa. Mas não se pode dizer, por outro lado, que sua obra não visasse interferir no debate público sobre os destinos do país.
Apesar disso, a “nossa revolução” não é a dele. É em parte uma figura de linguagem, uma ironia que reforça sua ambiguidade. A revolução imprecisa de Sérgio Buarque de Holanda partia da observação de nossas condições históricas, mas ironicamente não podia fincar suas raízes no Brasil, já que a transformação deveria se dar por aproximação de um padrão europeu.
Sem se dirigir a uma base social, os fatos históricos por ele mobilizados integravam uma ideologia extravagante e sem organicidade. Holanda foi uma expressão ideológica do ingresso das camadas médias urbanas na vida política a partir dos anos 1920. Mas dentro da forma mentis de classe média, ele tensionou os limites da visão de mundo de sua classe em direção à social democracia.
Edgard Carone, que apesar da proximidade geracional foi aluno de Holanda, acentuou como traço das camadas médias a ausência de organização política permanente. É muito difícil caracterizar a ação da classe média por isso. Sua visão de mundo, registrada na literatura política da década de 1930, é contra o improviso, a indisciplina e a democracia; pode ser ou não liberal, exige a direção do povo por intelectuais, a ordem, o anticomunismo, o civilismo[liii], voto secreto e retorno ao ideal republicano e constitucional das origens. Percebemos nesses temas um continuum em que Holanda certamente se posicionou à esquerda.
40 anos depois do lançamento de seu livro, ele defendeu “uma revolução vertical, que realmente implicasse a participação das camadas populares. Nunca uma revolução de superfície (…)”[liv]. Uma asserção que indicava sua adesão ao futuro Partido dos Trabalhadores?
Ainda assim, não havia nenhuma perspectiva organizada e o “popular” era uma abstração. Ele não podia ir além de uma revolução de superfície, embora propusesse uma transformação profunda. Como a ideologia não é uma mentira, sua proposta não foi insincera, porém habitava o reino celestial das palavras deste mundo e não as práticas terrenas. Não podia integrar qualquer força social concreta, pois uma revolução social destruiria o próprio chão histórico em que ele pisava.
Para ele, num país em que a aventura se sobrepõe à rotina, os laços de afeto às virtudes públicas, os vínculos comunitários a toda forma de ordenação impessoal, a revolução só poderia ser improvisada. Por outro lado, essa constatação também carregaria uma positividade: a revolução entre nós haveria de ser própria, calcada num solo histórico irregular e tortuoso em que o improviso e a aventura poderiam interromper o fluxo normal das coisas e gerar sua própria negação.
*Lincoln Secco é professor do Departamento de História da USP. Autor, entre outros livros, de História do PT (Ateliê).
Notas
[i]Este artigo foi originalmente publicado em https://gmarx.fflch.usp.br/boletim-ano2-40.
[ii]Dias, Maria Odila L.S. (org). Sergio Buarque de Holanda. Introdução. S. Paulo: ática, 1985.
[iii]Holanda, S.B. Raízes do Brasil, 16 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1983, p. 134. O trecho é citado por Antonio Candido e Maria Odila Dias.
[iv]Folha de São Paulo, 28/7/2017.
[v]Eugênio, J. K. Um Ritmo Espontâneo: O Organicismo em Raízes do Brasil e Caminhos e Fronteiras, de Sérgio Buarque de Holanda. Niterói: UFF, 2010. Para uma análise da “profissionalização” enquanto historiador nos anos 1950, vide: Nicodemo, T. “Os planos de historicidade na interpretação do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda”, História e Historiografia, Ouro Preto, n. 14, abril de 2014.
[vi]Há um contencioso sobre as diversas filiações teóricas do autor e a repercussão política de sua obra, mas elas são muito posteriores e não tratarei delas aqui. Cabe registrar que a obra antecipa vagamente o historismo cauteloso que orientou seus livros posteriores.
[vii]Schaff, A. História e Verdade, 4 ed, São Paulo: Martins Fontes, 1987, p. 189.
[viii] Löwy, Michel. As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchhausen. São Paulo: Busca Vida, 1987, p.64.
[ix]As ciências sociais analisaram estruturas e recorreram à História como algo anterior a um quadro estático. Braudel historizou o conceito de estrutura “de modo que o tempo cesse de ser exterior às realidades estudadas e se confunda enfim com a própria estrutura”. Holanda, S.B. “O atual e o inatual em Leopold Von Ranke”, in Holanda, S.B. (Org). Ranke, São Paulo, Ática, p. 107 e 109.
[x]Cf. Moura, Gerson. História de uma História: rumos da historiografia norte-americana no século XX. S. Paulo: Edusp, 1995, pp. 16-7.
[xi]Dias, M. O. L. S. cit, p. 42.
[xii] Id. Ibid., p. 23
[xiii]Id. ibid., p. 21.
[xiv] Löwy, cit., p. 72.
[xv] Löwy, pp. 35 -7.
[xvi]Weber, M. Ciência e Política: Duas Vocações. São Paulo: Cultrix, p. 42.
[xvii] Löwy, cit., p. 204.
[xviii]Löwy, cit, p. 207-9.
[xix]Recorro a um exemplo: uma política tributária pode ser elaborada segundo critérios técnicos (tamanho e capacidade contributiva da população, necessidade de arrecadação do Estado em dado período etc), mas se ela será progressiva não depende apenas da verdade parcial inscrita no seu método de formulação, mas do acesso a uma verdade mais geral, que reconheça os conflitos sociais, a desigualdade de renda etc. Um conhecimento que se alça à totalidade observa uma realidade mais ampla, complexa e objetiva e ao mesmo tempo vincula-se aos interesses das classes trabalhadoras, objetivamente interessadas nessa verdade que está oculta por aquela fragmentação especializada. Note-se que o desenho daquela ação tributária corresponde a critérios objetivos parciais, mas ao não se integrar numa visão global, oculta sua parcialidade.
[xx]Holanda, S. B. Monções. Rio de Janeiro: Casa do Estudante Brasileiro, 1945, p.113.
[xxi]Holanda, S. B. Caminhos e Fronteiras, p. 12. Holanda, Sérgio Buarque. Caminhos e Fronteiras. São Paulo: Cia das Letras, 1995, p.12.
[xxii]Id. ibid, p.9.
[xxiii]Holanda, Raízes do Brasil, p. 68.
[xxiv]Holanda, S. B. Visão do Paraíso. Os motivos edênicos no descobrimento e colonização do Brasil. São Paulo: brasiliense, 1996, p. XVI.
[xxv]Id. Ibid., p. XVIII.
[xxvi]Dias, Maria Odila L.S. (org). Sergio Buarque de Holanda. Introdução. S. Paulo: ática, 1985, p.18.
[xxvii]Holanda, S.B. Visão do Paraíso, cit, p. 188.
[xxviii]Ramirez, Paulo N. Dialética da cordialidade. PUC, dissertação de mestrado, São Paulo, 2007
[xxix]Holanda, S.B. Visão do Paraíso, cit, p. 98.
[xxx]Id. ibid., p.104.
[xxxi]Id. Ibid., p. 134.
[xxxii]Guimarães, E.H.L. O atual e o inatual em Sérgio Buarque de Holanda. Recife: Ufpe, 2012.
[xxxiii] Holanda, S. B. Do Império à República. São Paulo: Bertrand Brasil, 2005, p. 317 e 325.
[xxxiv]Id. Ibid., pp. 51-6.
[xxxv]Neumann, F. Behemoth. Mexico: FCE, 2005.
[xxxvi]Reis, J. C. As identidades do Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2002, p. 122.
[xxxvii]Holanda, S.B. Raízes do Brasil, 16 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1983, p.24.
[xxxviii] Schütz, J. A. e Silva Júnior, E. E. “O tipo ideal weberiano: presença e representação em obras de Zygmunt Bauman”, Revista Espaço Acadêmico, n. 210, novembro de 2018; Cohn, G. Crítica e resignação: fundamentos da sociologia de Max Weber. São Paulo: T.A Queiroz, 1979.
[xxxix]Holanda, S. B. “Mentalidade Econômica e Personalismo”, Digesto Econômico, n. 28, São Paulo, março de 1947.
[xl]Holanda, S. Raízes do Brasil, pp. 14 e 17.
[xli]Holanda, S. B. Do Império à República, p. 332.
[xlii]Cf. Costa, V. M. F. “Vertentes democráticas em Gilberto Freyre e Sérgio Buarque”. Lua Nova (26), São Paulo, agosto de 1992.
[xliii]Leite, Dante M. O Caráter Nacional Brasileiro. 4 ed. São Paulo: Pioneira, 1983, p. 324.
[xliv]Morse, R. Formação histórica de São Paulo. São Paulo: Difel, 1970, p. 151.
[xlv]Anderson, P. Linhagens do Estado Absolutista. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 208.
[xlvi]Holanda, Raízes, p. 102.
[xlvii]Holanda, S. B. Introdução, in Davatz, T. Memórias de um colono. São Paulo: Martins, 1941, pp. 13-17.
[xlviii]Holanda, S. B. Raízes do Brasil, cit, p. 129.
[xlix]Holanda, Caminhos, cit, p. 132-3.
[l]Holanda, S.B. Raízes do Brasil, cit., p. 119.
[li]Id. ibid.
[lii]Decerto não se esperaria que o autor resolvesse o problema das relações entre os indivíduos e a estrutura. Vide Anderson, P. Teoria, política e história: um debate com E. P. Thompson. Campinas: Unicamp, 2018, p.62.
[liii]Carone, Edgard. Da Esquerda à Direita. Belo Horizonte: Oficina de Livros, 1991.
[liv]Veja de 28 de janeiro de 1976.