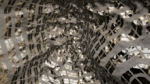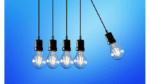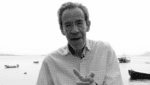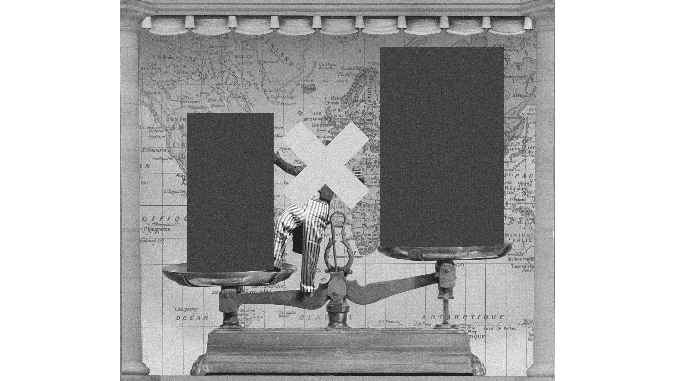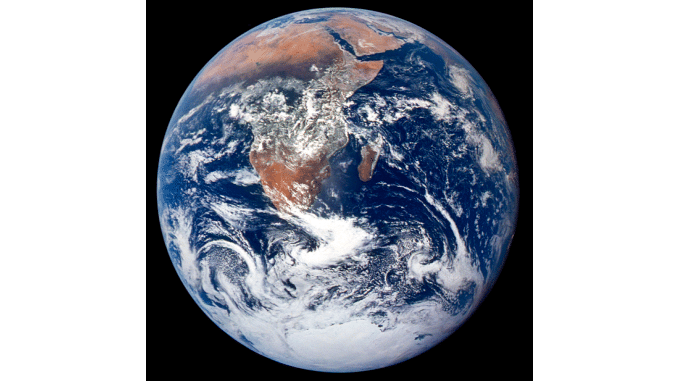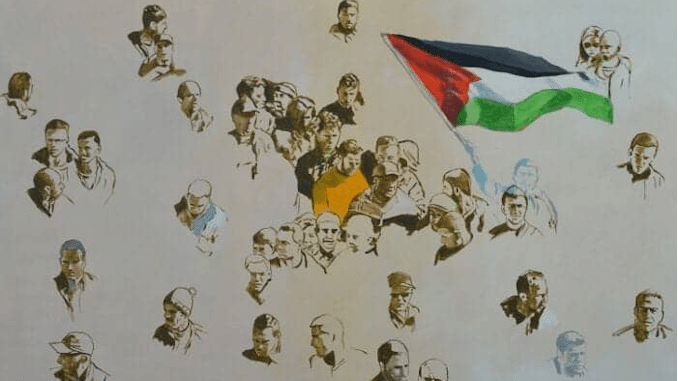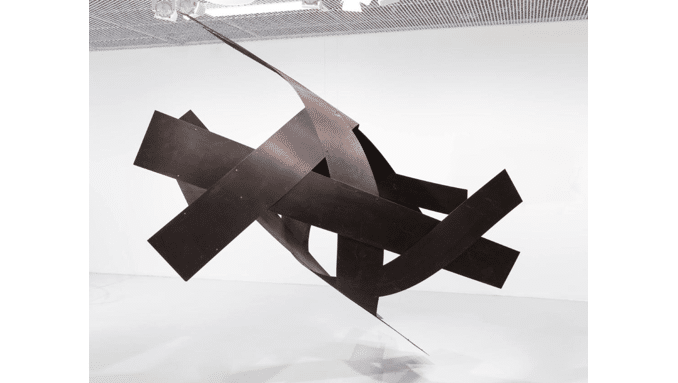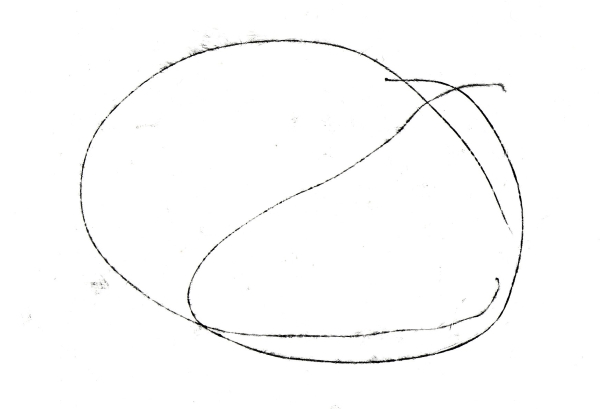Por FERNANDO NOGUEIRA DA COSTA*
Nota sobre a circulação monetário-financeira entre agronegócio e serviços urbano-industriais
A publicidade contínua na TV busca convencer à desinformada opinião pública brasileira o agronegócio ser tudo na economia brasileira. Ao buscar essa hegemonia, tenta o transformar em uma totalidade merecedora dos privilégios oferecidos pelas políticas públicas – agrícola, comercial, financeira, tributária, fundiária e tecnológica – do Estado brasileiro. Afinal, agro é pop…
O agronegócio exportador recebe incentivos fiscais no imposto de renda, não paga imposto de exportação e pouco paga de Imposto Territorial Rural (ITR). Beneficia-se da moeda nacional depreciada em favor de suas exportações e goza de subsídios no crédito rural. O Tesouro Nacional, isto é, todos os contribuintes, banca a equalização da taxa de juros: um subsídio governamental dado aos produtores rurais quando o governo cobre a diferença entre a taxa de juros praticada no mercado financeiro e a taxa efetivamente paga pelo produtor devedor.
O mito para justificar tudo isso seria a suposta transformação do comércio exterior em um completo dependente de commodities agrícolas. Por um lado, abstrai as exportações de petróleo e minerais, fora a de produtos manufaturados. Por outro, não destaca a grande responsabilidade pelo salto da exportação de US$ 48 bilhões em 1999 para US$ 334 bilhões em 2022 ter sido a demanda externa, em especial, a da China.
Aliás, vale destacar: entre 2003 e 2011, a média das variações anuais da exportação brasileira foi 18,6% aa com uma única queda em 2009; entre 2012 e 2020, essa média foi negativa (-1,7% aa), com altas apenas em 2017 e 2018. Os crescimentos dos anos de 2021 e 2022 foram excepcionais, respectivamente +34,2% e +19%, por conta da recuperação do fluxo dos negócios após a pandemia mundial.
Guilherme Delgado (Diplô, maio de 2023) conceitua o agronegócio como “um pacto de Economia Política, associando complexos agroindustriais integrados com a grande propriedade fundiária e o Estado planejador do lucro da produção e da valorização patrimonial, tendo em vista gerar resultados comerciais externos superavitários como meta primordial”.
O objetivo nacional é o superávit do balanço comercial cobrir o déficit da conta de serviços e renda enviados ao exterior. Por exemplo, em 2022, o déficit do balanço de transações correntes foi US$ 55,7 bilhões, apesar do superávit do balanço comercial em US$ 44,4 bilhões, devido ao pagamento ao exterior de US$ 40 bilhões em serviços e remessa de renda primária de US$ 64 bilhões, seja em investimento direto (US$ 42 bilhões), seja em investimento em carteira (US$ 21 bilhões). Lucros e dividendos remetidos para o exterior predominam: os de filiais para matrizes e os recebidos em carteira de ações.
É uma opção reducionista definir o agronegócio como o capitalismo agrário, assim como seria definir a “financeirização” como o capitalismo financeiro – e assim por diante. Nessa ótica, o capitalismo industrial teria perdido sua hegemonia e isso, de maneira pressuposta, seria um desastre sob o ponto de vista de geração de empregos produtivos e valor adicionado.
Deve-se compreender o funcionamento integrado do conjunto de subsistemas do sistema capitalista: agrícola, pecuário, industrial, mercantil e financeiro. Eles interagem, são interdependentes e não excludentes um do outro, seja em escala nacional, seja em nível global. Corporações multinacionais tendem a controlar o complexo de sistemas com componentes agrícola, industrial, mercantil, financeiro, tecnológico e ideológico.
O agronegócio não é apenas o complexo agroindustrial. É configurado por um complexo de redes interconectadas por governos, políticos, organizações financeiras multilaterais, redes de supermercados, bancos etc. O modelo de desenvolvimento possível para a economia brasileira não é, exclusivamente, o primário-exportador, “voltado para fora”.
A Fisiocracia à outrance é anacrônica. A etimologia do grego significa “governo da natureza”. Foi uma das primeiras teorias econômicas, desenvolvida por franceses do século XVIII na Era pré-industrial. Supunham a riqueza das nações ser derivada unicamente do valor de “terras agrícolas” ou do “desenvolvimento rural”.
Predomina ainda em muitas mentes ideológicas a ênfase fisiocrata no trabalho produtivo como a única fonte de riqueza nacional. Esse pensamento era contrastante como o Mercantilismo. Este focava na riqueza do Reino, no acúmulo de reservas em ouro através de saldo superavitário do balanço comercial.
O Mercantilismo pregava a regra de ouro do comércio: o valor dos produtos da sociedade seria criado por o vendedor vender seus produtos por mais dinheiro daquele preço pago originalmente. A força ideológica da corrente fisiocrática de pensamento econômico foi ter sido a primeira a defender o trabalho ser a única fonte de valor.
No entanto, para os fisiocratas, apenas o trabalho agrícola criava valor nos produtos com o apoio da natureza, semeando mais barato e colhendo mais caro. Todos os demais trabalhos não agrícolas seriam apêndices improdutivos. Comerciantes não produziam bens, apenas distribuíam os produzidos por proprietários agrícolas.
Pior, Karl Marx e seus discípulos adotaram a proposição do trabalho produtivo como um dogma. Na verdade, segundo o esquema marxista, o capital “produtivo” não se opõe ao “improdutivo”, mas sim ao capital no processo de circulação.
O capital produtivo organiza, diretamente, o processo de criação de bens e serviços. O capital no processo de circulação organiza a compra e a venda, ou seja, a transferência do direito de propriedade sobre os produtos. O trabalho assalariado, caso seja empregado nessa circulação, não cria valor, apesar de ser explorado?!
Ao serem utilizados para a transferência do direito de propriedade privada, todos os trabalhadores empregados, entre outras “atividades terciárias”, no comércio (compra e venda), no governo (administração pública) e no sistema financeiro (pagamentos, financiamentos e gestão do dinheiro) seriam “improdutivos”? Evidentemente, este é um adjetivo inadequado, porque pode ser confundido como “inúteis”. Ora, eles possibilitam a alavancagem financeira geradores de maior escala de empregos e a realização das vendas com valor adicionado superior aos gastos intermediários.
Em todo o mundo, houve mudança da população das áreas rurais para as urbanas e consequente aumento da proporção de habitantes em cidades. Até 2050, cerca de 64% do mundo em desenvolvimento e 86% do mundo desenvolvido serão considerados urbanizados. O grau de urbanização do Brasil já alcançou este último patamar.
No ano de 1940, apenas 32% da população brasileira vivia em cidades. O censo demográfico de 1970 registrou a ultrapassagem da população urbana sobre a rural.
O processo de urbanização no Brasil se desenvolveu, principalmente, na segunda metade do século XX, a partir do processo de industrialização. Este foi fator de atração para o deslocamento da população da área rural em direção à área urbana. Houve também fatores de repulsão para essa migração campo-cidade, por exemplo, a concentração fundiária sem reforma agrária e a mecanização do campo.
Esse êxodo rural foi sintomático da mudança de um modelo agrário-exportador para um modelo urbano-industrial. O Sistema de Contas Nacionais do IBGE registrou já em 1947 os Serviços (55,7% do PIB) terem superado a Agropecuária (21,4%) e a Indústria (26%). Entre eles, os Financeiros foram contabilizados com 3,3%. Em 1989, a Agropecuária tinha caído para 9,8% e a Indústria Geral aumentado para 46,3% – seu auge aconteceu em 1985 com 48%. Os Serviços Financeiros, neste ano de regime de alta inflação, chegaram a 26,4%!
Em 2022, seu valor adicionado foi contabilizado em apenas 7,5%. Na verdade, o sistema financeiro não agrega, mas sim circula (e se apropria de) valor adicionado em outras atividades. Propicia o carregamento e a proteção da riqueza financeira acumulada por trabalhadores e capitalistas. Ao cumprir essa missão social de gestão do dinheiro viabiliza uma mobilidade social caso se cumpra o planejamento da vida financeira.
A urbanização costuma ser vista como negativa quando há deslocamento de moradores para subúrbios periféricos sem infraestrutura. O desenvolvimento da infraestrutura, com o planejamento estatal em lugar da autoconstrução sem presença do governo local, propicia a redução das despesas com transporte e aumenta as oportunidades de emprego, educacionais, habitacionais e de locomoção.
O crescimento econômico pode não ser regular se for baseado em pequeno número de grandes negócios e dependente de milhares de micro empreendimentos. A falta de acesso a serviços financeiros e de assessoria empresarial, a dificuldade de obtenção de crédito para abrir um negócio e a falta de habilidades empreendedoras são barreiras para novas gerações terem acesso a oportunidades profissionais e empreendedoras.
O investimento em capital humano (capacidade pessoal de ganho), para os jovens terem acesso a uma educação de qualidade, é fundamental. Em conjunto com infraestrutura, para o agronegócio e os serviços urbano-industriais, propicia superar as barreiras.
*Fernando Nogueira da Costa é professor titular do Instituto de Economia da Unicamp. Autor, entre outros livros, de Brasil dos bancos (EDUSP).
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA