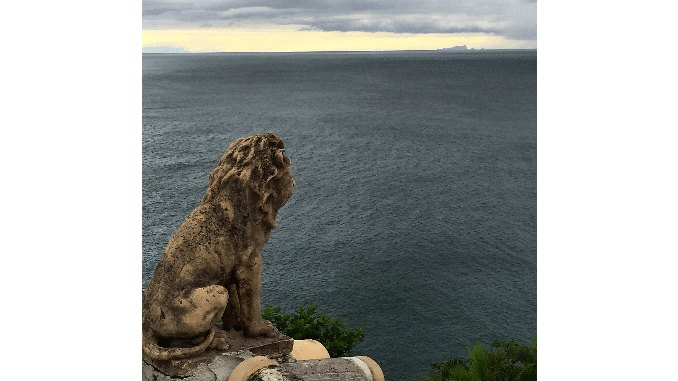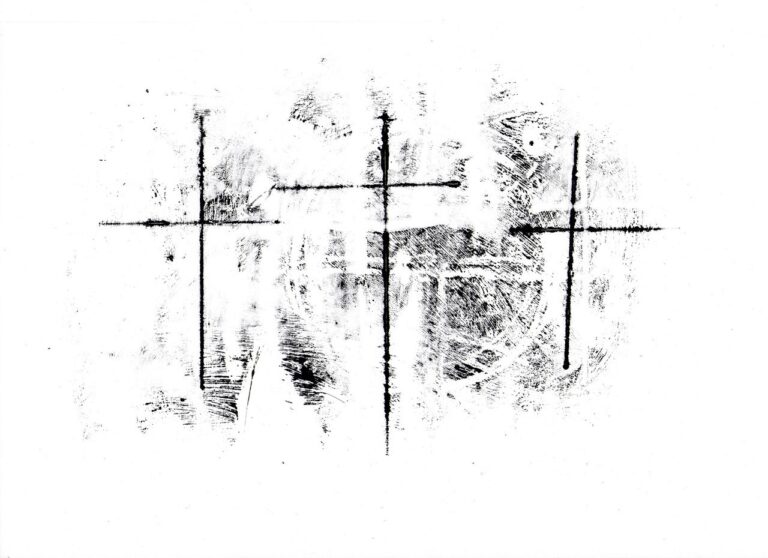Por CELSO FREDERICO*
A dialética entre o universal e o particular tensiona a todo momento as análises de Adorno
Chamada à cena, a filosofia em Theodor W. Adorno reaparece num tom melancólico e sombrio. Na Dialética do esclarecimento, Adorno e seu parceiro Max Horkheimer referem-se a Sade e a outros autores “malditos” chamando-os de “escritores sombrios”, caracterização apropriada para o próprio Adorno, pois todos eles “não tentaram distorcer as consequências do esclarecimento recorrendo a doutrinas harmonizadoras” (ADORNO & HORKHEIMER: 1986, p. 111).
Lembremos também que o termo “sombrio” tradicionalmente acompanhou os pensadores dialéticos (a coruja de Minerva voa ao anoitecer). Desde Heráclito, “o obscuro”, a Hegel, a dialética distanciou-se da claridade pretendida pela lógica formal. Em sua monumental Estética, Hegel insistia na contraposição entre o enganoso “reino das aparências amigáveis” e o “reino das sombras”, o obscuro subterrâneo das essências a ser desvelado pela especulação – pela dialética que não quer limitar o pensamento à imediatidade, à impressão primeira, à positividade, à aparência luminosa que nos é fornecida pela senso-percepção. Adorno, por sua vez, escreveu em sua Teoria estética: “Para subsistir no meio dos aspectos mais estranhos e sombrios da realidade, as obras de arte, que não querem vender-se como consolação, deviam tornar-se semelhantes a eles. Hoje em dia, a arte radical significa arte sombria, negra como sua cor fundamental. Grande parte da produção cultural contemporânea desqualifica-se por não atender nada a este fato, comprazendo-se infantilmente nas cores” (ADORNO, 1982, p. 53).
O pensamento saturnino e desencantado de Adorno, construído em sintonia com a música dodecafônica de Schönberg, tem essa referência musical para dialogar conflituosamente com a tradição dialética. Todo o seu empenho consiste em combater a reconciliação dos opostos que em Hegel ocorreria no momento final – a efetivação do Espírito Absoluto, momento em que a dialética, em repouso, deixaria de agir.
Somos, assim, lançados na clássica distinção entre o caráter revolucionário do método dialético e o caráter conservador do sistema hegeliano. Marx, no segundo posfácio de O capital, apresentou-se como discípulo de Hegel, mas afirmando ser necessário separar o cerne racional (o método), do invólucro místico que o envolve (o sistema). A mesma ideia é compartilhada por Engels em Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Adorno, a seu modo, não se limita a separar as duas esferas, pois entende que o sistema contamina, desvirtua e interrompe a dialética. Por isso, defende uma nova concepção: uma dialética sem sistema, “dialética aberta” ou, em sua fórmula final, uma dialética negativa que não promete uma conciliação ilusória, uma síntese reunificadora. Libertada de sua antiga natureza afirmativa, ela se transforma num antissistema que “estaria fora do encanto de tal unidade”, da reconciliação, pois a unidade para ele é sempre uma violência que pretende submeter o objeto particular a uma classe, tornando-o, assim, mero exemplar de uma espécie, esvaziado de suas características próprias, inigualáveis e irredutíveis.
Crítica semelhante fora feita anteriormente a Hegel por Schiller e Feuerbach. Este último recorreu a uma citação de São Tomás de Aquino para afirmar que a sabedoria de Deus consistia em conhecer os detalhes e não a mera generalização: Deus “não considera em bloco, como um só tufo, os cabelos da cabeça humana, mas conta e os reconhece a todos um a um” (FEUERBACH: 1973, p. 140). A “atenção aos detalhes”, ao particular e seus desdobramentos – a crítica da generalização totalitária – são imperativos que Adorno retomou graças à marcante influência de Walter Benjamim. Nessa trilha, procurou vislumbrar a verdade que escapa do “encanto” do universal, da pretendida unidade que tudo quer dominar em sua rede conceitual. O particular, assim, cobra os seus direitos, recusando-se a ser uma mera particularização, um momento transitório do automovimento do conceito, o exemplar de uma espécie nele submergido a força. Sobre Hegel, observou: “Falta-lhe uma simpatia pela utopia do particular, soterrado sob o universal, pela não-identidade que só seria se a razão realizada deixasse entrar em si a razão particular do universal” (ADORNO: 2009, p. 265).
Diferentemente de Feuerbach, Adorno nunca rompeu totalmente com os termos postos por Hegel e nem excluiu o universal de seu horizonte teórico. Ele, contrariamente, criticou o nominalismo e a ideia segundo a qual o particular se explica por si mesmo ao recusar-se à comparação e à integração em qualquer parâmetro. Algo parecido com a criança que, para livrar-se de um enquadramento, argumenta: “uma coisa é uma coisa; outra coisa é outra coisa”. O marxismo que há em Adorno pretende relacionar os fatos observados à determinação social ou, melhor dizendo, às mediadas relações entre os indivíduos e a sociedade.
Por outro lado, a mediação do geral não se confunde com a totalidade hegeliana que subordinaria a si os particulares. O seu lugar é ocupado pelas “constelações”, termo inspirado nos estudos sobre o drama barroco alemão de Walter Benjamin.
A não-identidade entre o particular e o universal se faz presente em todos os momentos da obra de Adorno, desdobrando-se num conjunto de termos trabalhados sistematicamente a partir de irredutíveis alteridades: natureza-sociedade; primeira natureza-segunda natureza; razão-realidade; teoria-prática; indivíduo-sociedade; racional-irracional etc. Esse constante deslizamento entre termos contraditórios traz revelações surpreendentes nas sofisticadas e precisas análises de Adorno. Mas, reside aí a dificuldade de compreensão de seus textos. Não por acaso, Adorno escreveu que se fosse possível uma definição de dialética seria algo como “pensar contra si mesmo, sem abdicar de si” (ADORNO: 2009, p. 123).
A escrita retorcida expressando um pensamento que se volta contra si mesmo atordoa o leitor desejoso da compreensão apaziguadora propiciada por uma explicação conclusiva que nunca vem.
Susan Buck-Morss observou a propósito: “O significado flutuante dos conceitos de Adorno, sua intencional ambivalência, é a maior fonte de dificuldades para compreender suas obras (…). Isto confere à dialética negativa o caráter de azougue: no momento em que se crê haver apreendido a questão, ela se transforma em seu oposto, deslizando entre os dedos e escapando” (BUCK-MORSE, 1981, pp. 131 e 360). Consciente das dificuldades de sua démarche, do negrume do real e de seu outro, o pensamento sombrio, Adorno voltou-se frontalmente contra a recomendação de Wittgenstein, segundo a qual só se deve falar sobre o que se pode expressar com clareza. Para o nosso autor, contrariamente, “a filosofia é o esforço permanente e inclusive desesperado de dizer o que não se pode propriamente dizer” (ADORNO: 1983, p. 63). Para realizar essa façanha, Adorno, como veremos mais em frente, precisou romper com os métodos tradicionais de exposição/apresentação (Darstellung) da filosofia, procurando para isso apoio na música de Schönberg que lhe sugeriu o conceito de modelo utilizado como exemplos do procedimento da dialética negativa que, à semelhança da música, pretende subverter as relações entre tema e desenvolvimento.
Abandonando a linearidade, a “filosofia dodecafônica” pôs em seu lugar uma tensão permanente que se incrusta no interior de seus textos, conduzindo-os num jogo sucessivo de variações semelhantes àquelas presentes na música atonal. Essa tensão tem como pano de fundo a insistente recusa do terceiro momento da dialética hegeliana – a apaziguadora síntese. Em suas aulas, Adorno confessou uma “aversão” por essa palavra, que lhe soava “extremamente desagradável”. O logicismo idealista de Hegel é descartado por ser “um mero procedimento do espírito para apoderar-se de seus objetos”; Adorno, contrariamente, propõe uma inflexão materialista, pois entende que “o movimento da dialética deve ser sempre, ao mesmo tempo, um movimento da própria coisa e também do pensar” ADORNO: 2013, pp. 107 e 119). O desenvolvimento do espírito, em Hegel, era concebido através da imagem do círculo que em seu movimento ascendente em forma de espiral parecia voltar o resultado ao seu começo. Contra esse proceder que, ao mesmo tempo, pressupõe a identidade entre pensamento e ser e promove o “retorno do negado”, Adorno mantém a tensão entre os opostos recusando a conciliação. A dialética negativa, ao contrário, “tem por tarefa perseguir a inadequação entre pensamento e coisa”, pois “se o todo é o falso”, como sentenciou, “nada singular encontra sua paz no todo não-pacificado” (ADORNO, 2009, p. 133). A inflexão materialista, opondo-se à falsa identidade, volta-se contra a camisa de força que dilui os seres particulares. Portanto, “entregar-se ao objeto equivale a fazer justiça a seus momentos qualitativos”. ADORNO: 2009, pp. 133).
Quando o foco de Adorno passa a ser não mais a filosofia, mas a vida social, a crítica da falsa identidade e da submissão do particular ao geral o conduz ao que ele considera o centro do pensamento de Marx, o capítulo sobre o fetichismo da mercadoria. A forma-mercadoria assumida pelo trabalho humano impôs à sociedade, segundo Marx, o princípio da falsa identidade: a equivalência de todas as mercadorias, incluindo a força de trabalho, ao princípio abstrato e mensurável do valor, um universal que se impõe aos seres particulares, um critério quantitativo sobreposto às qualidades particulares dos objetos intercambiados. Assim fazendo, o capitalismo esconde a desigualdade: o fato de o trabalho humano, além de reproduzir o seu valor, produz também um excedente, a mais-valia. Esquecida a origem humana da criação do valor, os produtos do trabalho humano ganham autonomia e se relacionam entre si como se estivessem enfeitiçados. Reificação é esquecimento: ao lado dos objetos autonomizados, os homens se apresentam no mercado na condição de proprietários da mercadoria força de trabalho, vendida e comprada por seu valor de mercado.
A inversão objetiva posta pelo fetichismo cristaliza a existência de uma segunda natureza que se sobrepõe à primeira. A vida social adquiriu um invólucro que recobre a essência da realidade. Esse invólucro para Adorno, atende pelo nome de ideologia – camada que impregna o real e se reproduz nas teorias que se limitam à positividade, à imediatez, dissimulando, desse modo, as contradições.
Constelações
A recusa do sistema hegeliano que priorizava o domínio do todo sobre as partes levou Adorno a se aproximar das ideias de Walter Benjamin.
Para afirmar a autonomia das partes Benjamin inicialmente empregou mosaico, para, com essa palavra, defender a escrita fragmentária. O livro O drama barroco alemão é um mosaico de citações arranjadas com tal cuidado que quase dispensam os comentários do autor. Retiradas de seu contexto original, as citações ganham uma nova armação, uma gama imprevista de relações. Em obras posteriores, Benjamin, inspirado em Mallarmé, substituiu mosaico por constelação – uma forma de composição que compara ideias com estrelas. Ao contrário da totalidade que pressupõe uma estrutura fechada, hierárquica, a constelação acena para uma imagem serial – a existência de um agrupamento, um conjunto de estrelas: cada uma é diferente da outra, recusa a equiparação, brilha por conta própria, é independente, afirma a sua liberdade iluminando a escuridão.
A distribuição espacial dos seres particulares, a coexistência dos diversos, opõe-se à ideia de uma totalidade in progress, ao movimento triádico do conceito tal como aparece nos textos de Hegel e Lukács. Quanto ao primeiro, basta lembrar a doutrina do silogismo, em que o conceito de universal transpassa, em seu percurso temporal, a singularidade e a particularidade. Quanto a Lukács, toda a sua fase marxista está marcada pelo primado conferido à totalidade. Em História e consciência de classe, ela é o “princípio revolucionário da ciência” que se objetiva na consciência de classe do proletariado revolucionário – o sujeito-objeto idêntico destinado a pôr fim às antinomias; nos ensaios de crítica literária a partir dos anos 30, a totalidade é refeita pelo olhar do romancista que constrói, segundo o cânon realista, “personagens típicos” vivendo “situações típicas”; na teoria estética, o primado é conferido à categoria da particularidade – o ponto de concentração que sintetiza o singular e o universal.
Adorno acompanha Benjamin na recusa de uma totalidade que submete os seres particulares, preferindo também a palavra constelação para, com ela, reconstruir a totalidade e, também exemplificar o procedimento da dialética negativa. A forma preferencial adotada por Adorno é o ensaio, que “não almeja uma construção fechada”, “não chega a uma conclusão”, se recusa a definir previamente conceitos, como quer o positivismo, preferindo “introduzir sem cerimônia e “imediatamente” os conceitos, tais como eles se apresentam. Estes só se tornam mais precisos por meio das relações que engendram entre si”. Relações é a palavra que define o procedimento adorniano para reconceituar uma totalidade descentrada, alheia aos determinismos. Com essa nova visada, “o ensaio deve permitir que a totalidade resplandeça em um traço parcial, escolhido ou encontrado, sem que a presença dessa totalidade tenha de ser afirmada” (ADORNO: 2003, pp. 25, 36, 35) .
Nessa perspectiva antissistemática, a totalidade permanece envolta na indeterminação – não é “o todo complexo estruturado” de Althusser, mas guarda com esse autor a desconfiança em relação à “determinação em última instância”, o que levou Fredric Jameson a afirmar que, nesse ponto, Adorno foi “um althusseriano avant la lettre” (JAMESON: 1996, p. 315) . Assim, estamos distantes da totalidade histórica passível de ser apreendida pela consciência de classe, como quer Lukács. Por sua vez, a defesa intransigente da particularidade contra as pretensões do todo serve de base para a crítica do realismo e da teoria do reflexo. Desse modo, Adorno aproxima-se da teoria benjaminiana sobre a arte alegórica, dirigidas tanto ao drama barroco alemão do século XVII quanto à arte moderna, que rompeu com o realismo.
Na história da arte há uma antiga polêmica entre os defensores da alegoria ou do realismo (o símbolo, como também é chamado). Goethe sintetizou os dois procedimentos para defender a arte simbólica: “Há uma grande diferença se o poeta busca o particular para o universal, ou se ele contempla o universal no particular. Do primeiro nasce a alegoria, em que o particular só vale como exemplo, como paradigma do universal; o segundo, no entanto, é próprio da natureza da poesia: expressa um particular, sem pensar no universal ou sem indicá-lo” (Apud LUKÁCS: 1963, p. 427).
Num outro registro, Benedetto Croce, entendendo a arte como “intuição lírica”, insurgiu-se também contra a alegoria. Procurando diferenciar “a intuição artística da mera imaginação incoerente”, afirma, como bom neohegeliano, o caráter unitário da arte: imagem artística “é tal quando une a um sensível um inteligível, e representa uma ideia (…) ora, “inteligível” e “ideia” não podem significar senão conceito”. A alegoria, contrariamente, tem um caráter “frígido e antiartístico”; ela “é a união extrínseca ou aproximação convencional e arbitrária de dois fatos espirituais, de um conceito ou pensamento e uma imagem, pelo qual se estipula que essa imagem deve representar aquele conceito”. Esse insanável dualismo se resolveria no símbolo, pois nele “a ideia não está mais presente por si, pensável separadamente da representação simbolizadora, e esta não está presente por si, representável de maneira viva, sem a ideia simbolizada. A ideia se dissolve toda na representação (…) como um torrão de açúcar dissolvido em um copo de água, que está e opera em cada molécula da água, mas já não encontramos como torrão de açúcar” (CROCE: 1997, p. 47-8).
Adorno não desenvolveu uma teorização sobre a alegoria como fez Benjamin, mas manteve uma afinidade com aquela visão que valorizava a autonomia dos seres particulares e mantinha distância em relação à subordinação opressora da totalidade, tal como encontrou nos autores modernos que admirava. Desse modo, pode delimitar sua distância com o legado hegeliano, com os defensores do realismo e da música tonal.
A distância fundamenta-se na consciência das relações mutáveis entre pensamento e arte no decurso histórico.
Mutações da arte
A época áurea do progressismo burguês, aberta pela revolução francesa, encontrou seu reflexo artístico mais alto na forma-sonata em Beethoven, de visíveis semelhanças com a dialética de Hegel: em ambas, a tensão entre o momento universal e o particular é predominante, bem como a reconciliação no final da caminhada. Relação de parentesco, sim, mas não influência consciente. Adorno engloba os dois autores na mesma constelação histórica.
A forma-sonata é interpretada como uma construção racional feita à imagem do mundo burguês revolucionário, “um íntimo teatro do mundo”. Ela se estrutura, como a lógica hegeliana, a partir de uma relação entre tema e desenvolvimento. O tema, inicialmente, é sugerido e não plenamente anunciado, mas, através do desenvolvimento da música, ele é retomado através de variações. No final, reafirma-se o que estava dado no indeterminado começo (à semelhança do ser na lógica hegeliana, o “imediato indeterminado”, tão vazio e abstrato em sua primeira aparição, mas que através de sucessivas metamorfoses reafirma progressivamente sua identidade em meio às contradições para reaparecer conciliado no momento final do Conceito – mas agora plenamente enriquecido de determinações). Tudo, portanto, conclui Adorno, é sempre o mesmo. “Mas o sentido dessa identidade se reflete como não-identidade. O material que serve como ponto de partida está feito de tal maneira que conservá-lo significa ao mesmo tempo modificá-lo. Esse material não é em si, mas é somente em relação com o todo” (ADORNO: 1974, p. 51).
O “retorno do superado” observa Adorno, “confirma o processo como seu próprio resultado (…). Não por acaso, algumas das concepções ideologicamente mais carregadas de Beethoven visam o momento da reprise como momento do retorno do idêntico. Elas justificam o que existiu outrora como resultado do processo” (ADORNO: 2009, pp. 385-6).
A forma-sonata, reiterando o mesmo, é interpretada como um elogio dos ideais da burguesia revolucionária. A concepção musical totalizadora em Beethoven “mantém a ideia de uma sociedade justa”. Mas, a relação entre os momentos estáticos, que sempre se repetem, e os momentos dinâmicos da música coincide “com o instante histórico de uma classe que supera a ordem estática, mas sem estar em condições de entregar-se livremente à própria dinâmica caso não pretenda, com isso, suprimir-se a si mesma” (ADORNO: 2009, p. 392). A interrupção do processo e de suas tendências revolucionárias fez-se acompanhar, no plano teórico, da reafirmação do estático (“houve história, agora não há mais”), que se expressará na Filosofia do direito de Hegel e no positivismo comtiano. O gênio de Beethoven realizou como obra de arte as promessas que a realidade social recusava. No Beethoven tardio, a chamada “terceira fase”, o momento harmonioso e conciliador não tinha mais condições de existir e, por isso, foi abandonado, abandono que segundo Adorno não se explica pela surdez do compositor em seus últimos anos de vida, mas como resultado das transformações históricas que sepultaram os ideais revolucionários de 1789. O Beethoven tardio captou o novo momento histórico: “Persiste um processo em sua obra tardia; mas não como desenvolvimento, mas como conflagração entre os extremos que não toleram termo médio seguro nem uma harmonia baseada na espontaneidade” (Adorno: s/d, p. 25).
As transformações históricas sucessivas, alterando a base material da sociedade, continuaram trazendo modificações profundas na música. No século XX, efetivou-se a passagem da música tonal para a dodecafônica. A arte, agora, passa a sofrer o impacto da reificação crescente que deixou para trás não só a totalidade harmônica como também o aniquilamento do indivíduo. Não há mais lugar para o realismo na literatura: o “herói problemático” é substituído pela dissolução do personagem em Kafka, Joyce, Beckett e Musil.
Quando Adorno passa do estudo da música, forma de conhecimento não-discursivo, para a teoria social, precisou retornar ao tema da exposição-apresentação (darstellung), central na escrita dialética. No posfácio de O capital, Marx advertiu sobre a necessidade de distinguir entre “o modo de exposição segundo sua forma” do “modo de investigação” para, assim, justificar o procedimento adotado – a arquitetura categorial grandiosa, baseada na história, mas não seguindo a sua cronologia. Adorno, por sua vez, propôs para si, como forma de apresentação, a escrita paratática, inspirada nos caminhos abertos pelas composições do Beethoven tardio e na poesia de Hölderlin para, com ela, interpretar o estilhaçado mundo moderno (ADORNO: 1973).
Na escrita paratática os termos se ordenam sem que haja subordinação. É o oposto da hipotaxe, escrita em que as relações entre os termos são de subordinação e dependência. Segundo Adorno, a linguagem, como representação, não consegue em sua generalidade expressar a verdade escondida nas singularidades, nos fragmentos isolados que resistem em sua refratária irredutibilidade ao enquadramento e subordinação, às sínteses violentas que suprimem as diferenças em nome de uma totalidade forçada interessada em camuflar as contradições.
A Teoria estética, orientada por essa forma de escrita, foi interrompida pela morte do autor. Em suas cartas para o editor, Adorno insistia na necessidade de uma revisão da obra o que, talvez, pudesse torná-la mais compreensível. As ideias centrais de Adorno, entretanto, permaneceram as mesmas e estão expostas com mais clareza em textos anteriores. Marc Jimenes, no livro Para ler Adorno, afirmou que um dos “fios condutores” do filósofo, “mascarados pelo método paratático”, é “a questão da denúncia ideológica”. Sendo assim, a sua interpretação da Teoria estética centrou-se na relação entre “arte e ideologia” (subtítulo do livro na edição francesa), relação que, por sua vez, remete a Walter Benjamin. Segundo Benjamin, a arte, após libertar-se da função religiosa, envolveu-se nas teias das relações sociais e em suas contradições. Numa célebre passagem, afirmou que o fascismo estetizava a política e o comunismo respondia com a necessidade de politizar a arte. Adorno recusa essa alternativa e, contrariamente, defende a autonomia da arte e sua “inutilidade” (ausência de “função”), que a mantém, em princípio, afastada da lógica mercantil, mesmo sabendo que tal autonomia permite inserir a arte no circuito mercantil e no processo de dominação ideológica. Assim, a arte em Adorno apresenta uma permanente dualidade: ela é, ao mesmo tempo, uma instância autônoma e um fato social, pois se encontra aprisionada à realidade empírica de onde extrai os seus materiais.
O afastamento em relação ao real, tentativa de fugir da identificação através da afirmação de sua autonomia garantida pela “lei formal”, é o ponto de apoio para a crítica do realismo e da arte engajada, contra as quais Adorno dirigiu críticas irritadas. Aquelas duas formas artísticas teriam cometido o erro de se envolver com aquilo que pretendem criticar. Perdido o necessário isolamento, a não-identidade, se enredam e se contaminam no mundo alienado. Erro oposto comete os que defendem a pura autonomia de uma arte que não leva em conta os condicionamentos sociais, como os defensores da “arte pela arte”. A autonomia, afirmada pela elaboração formal, não é para Adorno um gesto gratuito, mas uma tomada de posição, uma recusa de diluir a arte, essa esfera qualitativa, no mundo reificado em que tudo se relaciona e se equipara através de um critério mensurável – a lei do valor.
O todo e as partes
É difícil avaliar uma obra tão rica e extensa como a de Adorno. A sua parte mais relevante, me parece, é constituída pelo conjunto de memoráveis ensaios – forma apropriada para um autor que recusava a sistematização. Entretanto, o brilho e o impacto causados pelos textos ensaísticos e sua enxuta forma não se repetem nas tentativas abrangentes das obras mais ambiciosas como Dialética negativa, Dialética do esclarecimento e a inconclusa Teoria estética. Vale aqui lembrar a opinião de um dos maiores especialistas da obra adorniana, Martin Jay, afirmou que naquelas obras mais globalizantes Adorno parece “andar em círculos”, permanecendo fiel ao seu método de justapor conceitos contraditórios e mantê-los em permanente tensão. Os impasses daí decorrentes o impedem de acrescentar elementos novos e significativos aos achados presentes em seus ensaios anteriores.
Questões complexas permanecem em suspenso. Basta pensar aqui na dialética negativa, construída a partir do discutível pressuposto de que Hegel diluía os seres particulares na indiferenciada totalidade. E mais que isso: a crença do universal como esfera que “comprime o particular como que por meio de um instrumento de tortura até que ele se desfaça em pedaços” (ADORNO: 2009, p. 287). Adorno lembra Feuerbach, um dos primeiros autores a associar totalidade com totalitarismo e supressão dos particulares, e lembra também a posterior crítica dirigida por diversos autores ao conceito leninista de “centralismo democrático”.
A posição adorniana encontra-se no polo oposto de Althusser que acusa Hegel não por esmagar os particulares nas garras de uma totalidade dominadora, mas, contrariamente, por ser um empirista que se deixa guiar pelos dados empíricos, sem separar objeto real de objeto do conhecimento (ALTHUSSER: 1979).
Se tomarmos como referência a Dialética negativa, a crítica de Adorno a Hegel concentra-se principalmente em A Razão na história e na Filosofia do direito, obras de maior conservadorismo de Hegel, nas quais o sistema bloqueia as possibilidades revolucionárias do método. Quanto às obras maiores – Ciência da lógica e Fenomenologia do espírito – elas não constituem o foco da crítica adorniana.
Hegel desde sempre foi um eterno quebra-cabeça para os intérpretes. Além da citada oposição entre método e sistema, os autores se engalfinham na disputa entre um Hegel filósofo da necessidade ou filósofo da contingência, entre saber se ele se refere à história efetiva ou à historicidade, isto é, à fenomenologia da consciência (DOSSE: 2000, pp. 180-5). Igualmente discute-se se ele era um conservador e não um liberal, como quer Norberto Bobbio (BOBBIO: 1981), ou se essa oposição é falsa e sem sentido etc. (LOSURDO: 1997). A própria definição hegeliana da dialética como idealista-objetiva divide os intérpretes que tradicionalmente se apegam à atribuição de idealismo ou, então, como Lukács, veem uma oscilação entre logicismo e ontologia materialista.
Adorno, por sua vez, confronta a dialética negativa com o sistema hegeliano. Este é aproximado sem mais com a sociologia de Durkheim: em ambas se teria efetivado o primado do uno e a adoração da sociedade. A crítica a Hegel parece ter como foco o conceito de astúcia da razão expresso na célebre passagem: “a razão faz com que as paixões atuem por ela e que aquilo que graças ao qual ela chega à existência se perca e sofra dano”; mas, “a razão não pode quedar-se no fato de indivíduos singulares terem sido lesados, os fins particulares perdem-se no universal”.
Hegel pretendia com essa afirmação um encontro harmonioso final entre os fins particulares dos indivíduos e a razão que, com seus meios ardilosos, colocaram em movimento as paixões individuais: deste modo, o universal se projeta “nos fins particulares e através dos mesmos se realiza”. Razão e paixão constituem desse modo “a trama e o fio da História Universal”, mas essa história não é o terreno da felicidade, e sim, “a imagem concreta do mal”, um “açougue onde os indivíduos e povos inteiros são sacrificados”. Diante desse cenário de horrores, e apesar dele, Hegel afirma que a razão “repudia a categoria do simplesmente negativo e supõe que, deste negativo (…) promanará uma obra permanente, que a nossa realidade efetiva constitui um resultado da história de todo o gênero humano” (HEGEL: 2020, pp. 103, 52, 246 e 88).
Não se pode esquecer que, para Hegel, é o Estado que dá sentido à história. Afinal, somente nessa instituição a liberdade, que é o objetivo final da história, pode de fato se realizar, efetivar-se, uma vez que somente no Estado a vontade geral e as vontades particulares se conciliam plenamente. Com sua efetivação plena, de acordo com o seu conceito, o Estado deixa para trás a guerra de todos contra todos (o “açougue”) fazendo com que o ser social possa se realizar numa realidade-racional enfim tornada plenamente social (= política).
Essa visão positiva que afinal triunfa sobre os destroços humanos tem, evidentemente, um fundo religioso: a identificação entre o curso do Espírito e a providência divina. Adorno fez uma crítica devastadora desse final feliz da teleologia hegeliana. A própria ideia de continuidade da história universal é descartada por subordinar os fatos particulares à marcha triunfal do espírito uno. Nem por isso, contudo, defende a tese da descontinuidade da história, que passaria a ser entendida como mera facticidade. Em seu lugar, Adorno aponta para a história de uma unidade que, a partir da dominação da natureza, transformou-se em dominação sobre os homens e, finalmente, em domínio sobre a natureza interior. Sendo assim, conclui: “não há nenhuma história universal que conduza do selvagem à humanidade, mas há certamente uma que conduz da atiradeira até a bomba atômica” (ADORNO: 2009, p.266).
O catastrofismo de Adorno, fruto de uma interpretação unilateral, condena em bloco todo o processo civilizatório negando teses caras ao marxismo como a auto- formação do gênero humano através do trabalho (o que não significa somente dominação sobre a natureza). A própria noção de necessidade histórica, cuja base última está na determinação econômica, é posta de lado e, com ela, a visão de uma totalidade contraditória estruturada a partir de sua base material. Tanto Hegel como Marx seriam idealistas ao divinizarem uma interpretação da história que se apoia na identidade entre razão e realidade, no primeiro, e no “primado da economia” para fundamentar “o final feliz como algo imanente à economia” no segundo (ADORNO: p. 267). Em Adorno, a identidade sonhada pelo hegelianismo e pelo marxismo produziu o pesadelo de uma razão irracional: “o todo é o falso” que se transformou numa ideologia que se reproduz mecanicamente.
No limite, todo processo civilizatório é negado. Em Marx, ele significava “recuo das barreiras naturais”, e isso não se reduz à transformação na natureza, mas também no próprio homem que, assim, tornou-se um ser social.
No decurso histórico, contudo, materializa-se uma contradição entre o desenvolvimento da totalidade (o gênero humano, a espécie) e as desventuras individuais. No livro Teorias da mais valia Marx fala da relação entre indivíduo e o processo histórico a partir das divergências entre o romantismo socialista de Sismondi e o realismo de Ricardo. E toma a defesa do último: “a produção pela produção significa apenas desenvolvimento das forças produtivas humanas, ou seja, desenvolvimento da riqueza da natureza humana como fim em si mesmo. Opor a essa finalidade o bem do indivíduo, é afirmar que o desenvolvimento da espécie tem de ser detido para assegurar o bem do indivíduo” (…). “deixa-se de compreender que esse desenvolvimento das aptidões da espécie humana, embora se faça de início às custas da maioria dos indivíduos e de classes inteiras, por fim rompe esse antagonismo e coincide com o desenvolvimento do indivíduos isolado; que assim o desenvolvimento mais alto da individualidade só se conquista por meio de um processo histórico em que os indivíduos são sacrificados” (MARX: 1980, p. 549).
A dialética entre a parte e o todo, o indivíduo e o gênero como dois polos inseparáveis do ser social foi trabalhada exaustivamente por Lukács na Ontologia do ser social. Numa linha oposta, romântica e regressiva, se coloca Adorno. O seu anti-evolucionismo radical se opõe à tese marxiana da emancipação humana em relação à natureza. Todo o processo evolutivo, que se inicia com a comunidade primitiva, é substituído pela dialética especulativa entre mito e esclarecimento que conduz a narrativa de Dialética do esclarecimento que Adorno escreveu em parceria com Horkheimer. As origens dessa visão pessimista segundo Perry Anderson estaria na filosofia de Schelling que via “toda a história como uma regressão de um estado mais alto a um estado inferior de natureza “decaída”, após uma “retração” da divindade que abandonara o mundo, e anterior a uma eventual “ressurreição” da natureza mediante a reunificação da deidade e do universo. Adorno e Horkheimer adaptaram esta doutrina místico-religiosa e transformaram-na numa “dialética do iluminismo” secular (ANDERSON: s/d, p. 106).
Adorno também critica Marx por pregar uma “revolução das relações econômicas” e não “a transformação das regras de jogo da dominação”, como queriam os anarquistas e também o próprio Adorno alinhado aqui às teses de Weber sobre a racionalização/burocratização. A dominação, nesse registro, passou a ocupar o lugar que Marx atribuía à exploração capitalista. A dominação ideológica, assim, substitui a luta de classes.
A segunda referência da crítica de Adorno a Hegel centra-se na Filosofia do direito. Também aqui se realizaria a tese da subjugação dos particulares no universal. Este, representado segundo Hegel pelo Estado político, só se efetiva nos particulares (sociedade civil). Por isso, o Estado reintegra em sua universalidade os interesses que até então permaneciam dispersos e antagônicos na sociedade civil, tornando esta um momento do Estado. Há um movimento de mão dupla: o Estado se abre à sociedade civil através do que Hegel chamou da “trama privada”. As assembleias, o legislativo, a burocracia etc. são recrutadas na sociedade civil. Por outro lado, as corporações, sindicatos, partidos etc., reunindo os indivíduos até então esparsos, se fazem presente e se reconhecem na universalidade do Estado. Estamos, portanto, no interior de mediações de uma totalidade orgânica. Da leitura desse texto de Hegel, Gramsci tirou conclusões políticas decisivas. As corporações, por exemplo, não são instrumentos diabólicos do Universal para triturar os seres particulares. Elas, ao contrário, são entidades ao mesmo tempo públicas e privadas, estatais e sociais. São locais de formação do consenso e luta pela hegemonia. Mas a política não está nos horizontes de Adorno.
Marx, em 1843, também compartilhava a tese da subordinação do todo às partes na Filosofia do direito como uma decorrência de artifícios logicistas (a doutrina do silogismo) aplicado à força naquela obra. Alguns anos depois, escreveu a Engels afirmando que Hegel “não qualificou nunca de dialética a redução de “casos” a um princípio geral” (MARX: 1976, p. 291). E não foi mero acaso ter relido a Ciência da lógica antes de se aventurar a redigir O capital.
Adorno, paradoxalmente, faz finca-pé na tese da diluição dos particulares na totalidade, como característica da filosofia hegeliana e base de toda a dialética negativa. Quando sai do plano filosófico, como no texto sobre a indústria cultural, para a análise sociológica, parece dar razão àquilo que criticara em Hegel: “é só porque os indivíduos não são mais indivíduos, mas sim meras encruzilhadas das tendências do universal, que é possível reintegrá-los totalmente na universalidade”. Nesse ponto, conclui Adorno, “a indústria cultural realizou maldosamente o homem como ser genérico. Cada um é tão- somente aquilo mediante o que pode substituir todos os outros: ele é fungível, um mero exemplar. Ele próprio, enquanto indivíduo, é o absolutamente substituível, o puro nada” (ADORNO e HORKHEIMER: 1986, pp. 133 e 135).
A dialética entre o universal e o particular tensiona a todo momento as análises de Adorno, conferindo-lhes visadas originais e, também, conduzindo-o muitas vezes a insuperáveis antinomia e contradições. Nada surpreendente para um autor que nos convida a pensar contra o próprio pensamento. Tal convite, contudo, pode se voltar contra o próprio Adorno. Quando se referiu a Weber e Thomas Mann, afirmou que nesses autores “o decisivo é o que não está no mapa, ou seja, aquelas coisas que contrariam a sua própria metodologia oficial” (ADORNO: 2007, pp. 279-280). Um estudo aprofundado que contrastasse a Dialética negativa com a brilhante produção ensaística de Adorno certamente traria resultados surpreendentes. Mostraria não só o que contraria a “metodologia oficial” como, inversamente, como a metodologia em alguns momentos se impõe arbitrariamente sobre os objetos analisados – é o caso do jazz, cuja crítica destemperada foi feita a serviço de um método cuja pretensão original era se desenvolver em função da análise imanente dos objetos e não, como foi efetivamente realizada, enquadrando-os arbitrariamente a partir de conceitos apriorísticos.
Os posteriores recuos perante a avaliação do jazz são bem modestos e não puderam ir além, pois entrariam em confronto com a rigidez do método, pondo assim em cheque a própria teoria normativa de Adorno que se veria ameaçada por aquilo que “não está no mapa”. Por isso, os admiradores incondicionais de Adorno evitam criticar os textos sobre o jazz, recalcados como meros deslizes inofensivos que não merecem ser lembrados.
*Celso Frederico é professor aposentado e sênior da ECA-USP. Autor, entre outros livros, de Lukács: um clássico do século XX (Moderna).
Referências
ADORNO, Theodor, Teoria estética (Lisboa: Edições 70, 1982).
ADORNO, Theodor. Dialética negativa (Rio de Janeiro: Zahar, 2009).
ADORNO, Theodor. “El estilo de madurez em Beethoven”, Reación y progresso (Barcelona: Tusquets Editor, s/d).
ADORNO, Theodor. “Parataxis”, in Notas de literatura (Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1973).
ADORNO, Theodor e HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento (Rio de Janeiro: Zahar, 1986).
ALTHUSSER, Louis – Ler O Capital (Rio de Janeiro: Zahar, 1979).
BOBBIO, Norberto. Estudos sobre Hegel (São Paulo: Unesp, 1995).
BUCK-MORSE, Susan. Origen de la dialéctica negativa (México: Siglo veintiuno, 1981).
CROCE, Benedetto. Breviário de Estética. Aesthetica in nuce” (São Paulo: Ática, 1997).
DOSSE, François. La historia. Conceptos y escrituras (Buenos Aires: Nueva Visión, 2003).
DUARTE, Rodrigo. ADORNOS. Ensaios sobre o filósofo frankfurteano (Belo Horizonte: UFMG, 1997).
FEUERBACH, Ludwig. Manifestes Philosophiques (Paris: Presses Universitaires de France, 1973).
HEGEL, G. W. F. A razão na história (Lisboa: Edições 70, 2020).
LOSURDO, Domenico. Hegel, Marx e a tradição liberal (São Paulo: Unesp, 1997).
MARX, K. Anotaciones a la correspondência entre Marx y Engels 1844-1883 (Barcelona: Grijalbo, 1976).
MARX, K. Teorias da mais valia, vol II (São Paulo: Difel, 1980).