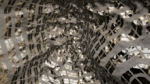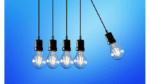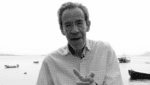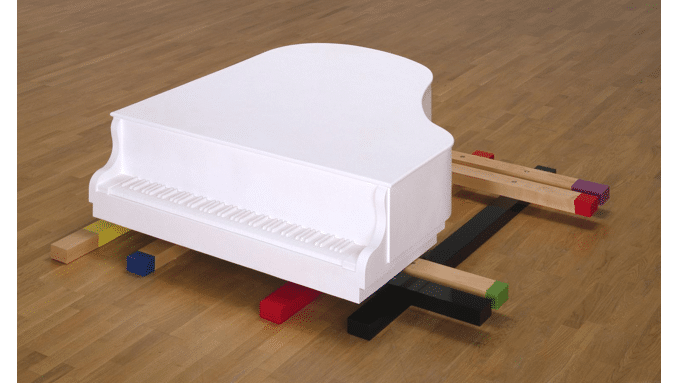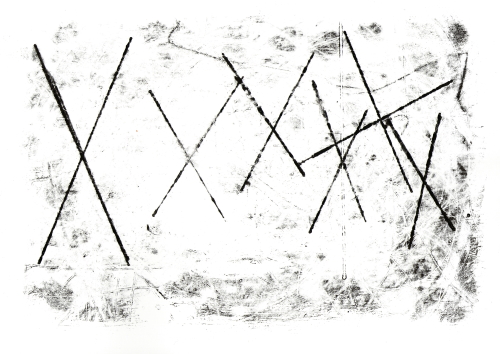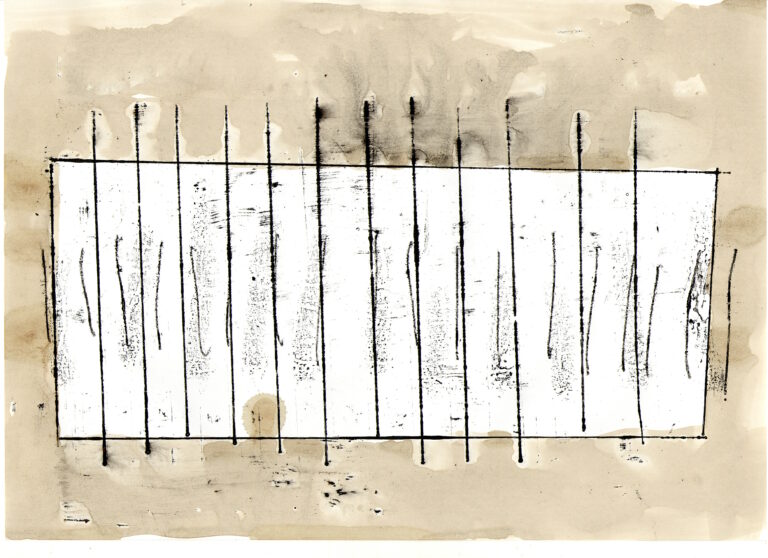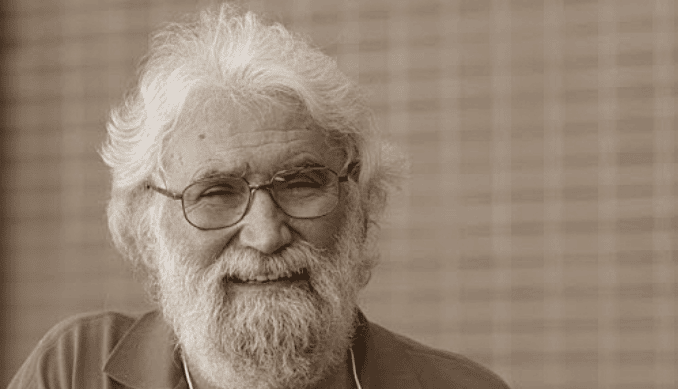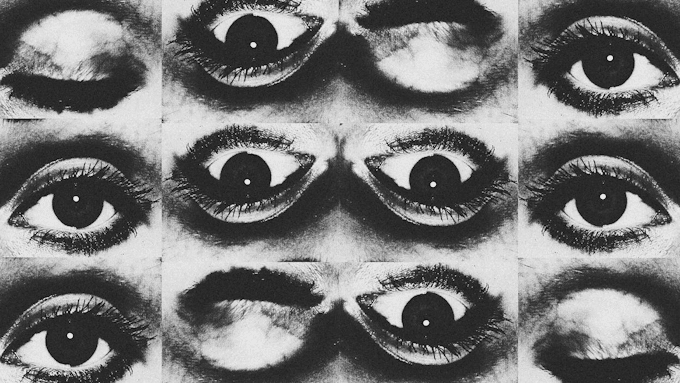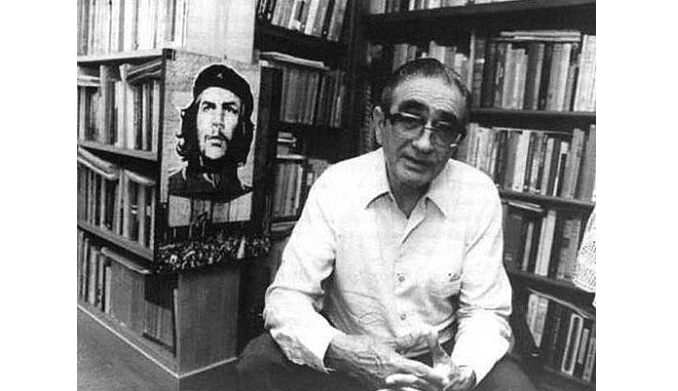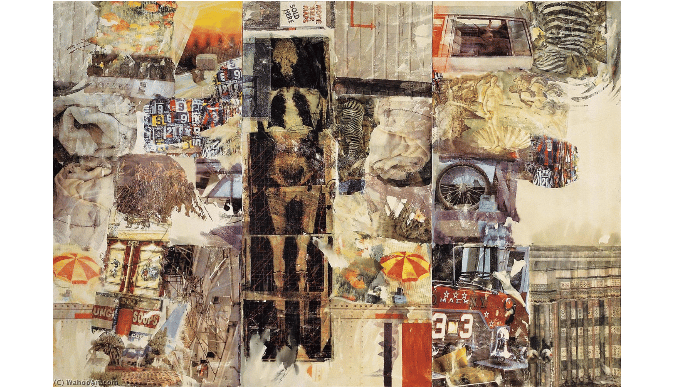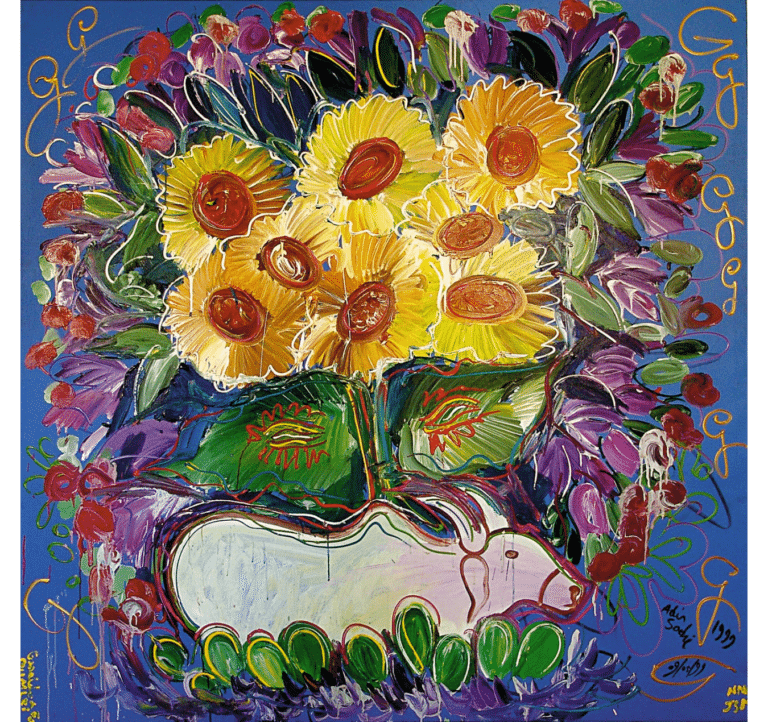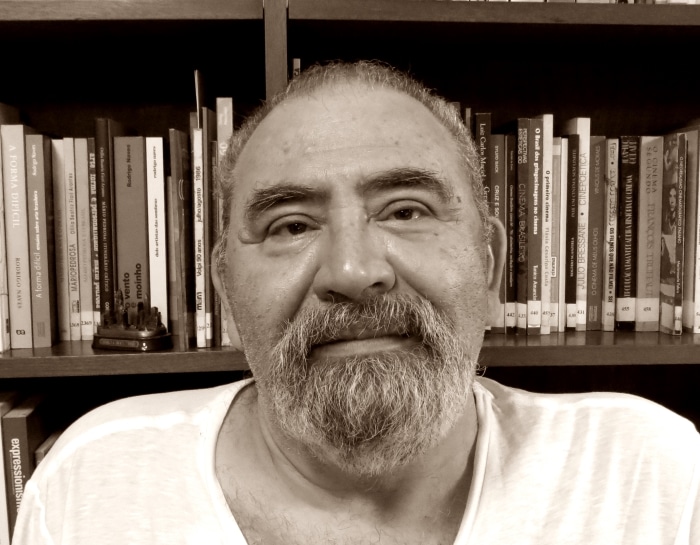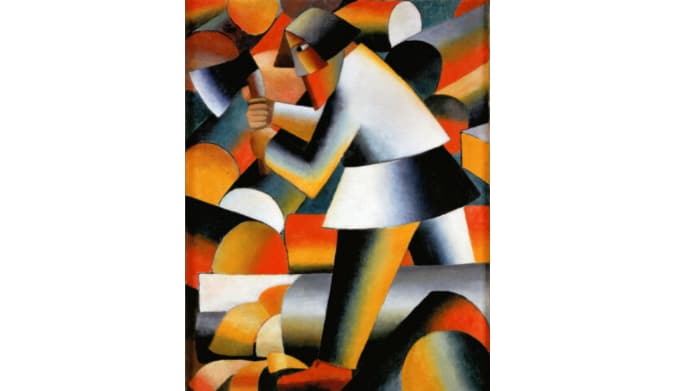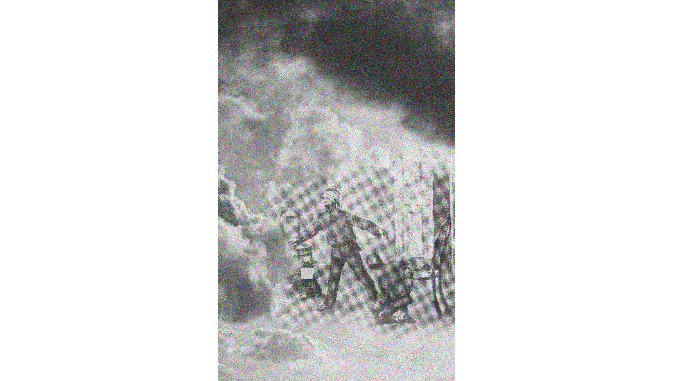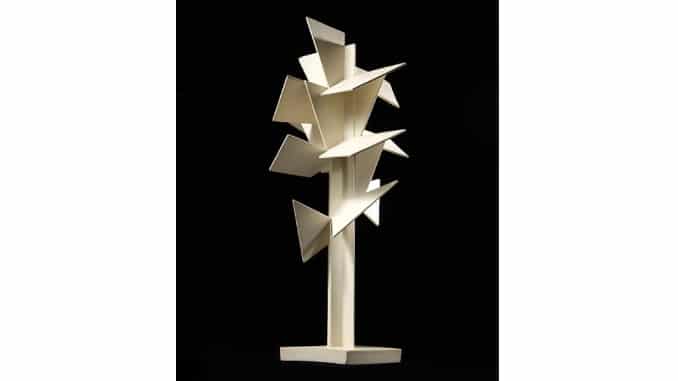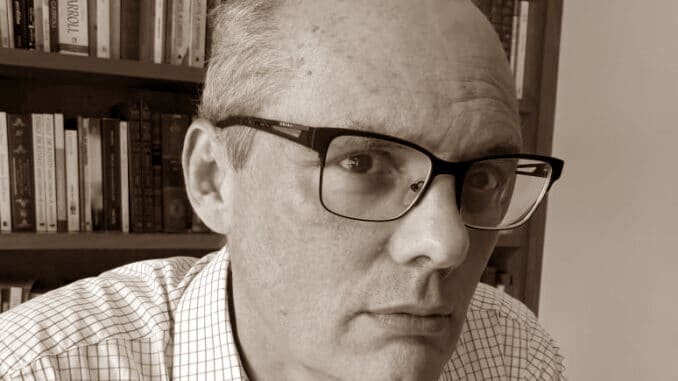Por DANIEL ARRUDA CORONEL & JOSÉ MARIA ALVES DA SILVA*
Um conceito que ainda não é prioridade para a sociedade, em função da busca e das inclinações do homem por outras coisas, como o lucro máximo e as “maravilhas exossomáticas” da sociedade pós-moderna
1.
Ultimamente, a questão do desenvolvimento sustentável tem merecido grande destaque na imprensa, com as recentes publicações de relatórios internacionais e suas conclusões sobre os problemas climáticos do planeta. Frequentemente, os alertas desses estudos são divulgados pela mídia, sem levar na devida consideração certas questões que estão no cerne do problema.
Na década de 1970, começou a ficar latente a preocupação com o desenvolvimento sustentável através da publicação, por parte do Clube de Roma,[i] da obra Limites ao crescimento, a qual definiu cinco pontos inibidores do crescimento econômico: população, produção agrícola, recursos naturais, produção industrial e contaminação. A partir daí, foram crescendo as discussões e os debates acerca do desenvolvimento sustentável, sendo generalizado o seu conceito a partir do relatório Brundtland (1987) e atingindo o ápice na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, no Rio de janeiro, em 1992, onde se definiu a Agenda 21 – um conjunto de pressupostos que as nações deveriam adotar visando à sustentabilidade.
No relatório Brundtland, o desenvolvimento sustentável é definido como desenvolvimento “que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades” (World Commission on Environment and Development, 1987). A partir desse conceito, a discussão tem evoluído, quase sempre girando em torno da busca de um suposto equilíbrio entre as dimenssões econômica, social e ambiental.
Seja no nível das nações (Gladwin et al., 1995; Banerjee, 2003; Greaker, 2003; Anton et al., 2004; Spangenberger, 2004), seja no nível da gestão empresarial (Buysse; Verbeke, 2003; Russo, 2003; Bansal, 2005; Sharma; Henriques, 2005; Barin-Cruz et al., 2006), no nível ontológico-religioso (Francisco, 2023), ou mesmo através do impacto nas mudanças estruturais das atividades econômicas (Guarini; Oreiro, 2024), o desenvolvimento sustentável entrou na pauta das preocupações de gestores públicos e privados.
Nessa perspectiva, considerando a ética individual, a partir do imperativo categórico kantiano, o comportamento de cada indivíduo deveria basear-se na seguinte máxima: “ages de tal modo que a máxima das tuas ações possa se tornar uma lei universal, ou ainda, ages de maneira que o motivo que te levou a agir assim possa ser convertido em lei universal”. Seria plausível, então, considerar o desenvolvimento sustentável a partir do imperativo categórico kantiano? Se sim, quais seriam suas implicações?
2.
Pode-se definir ética como a disciplina que trata do agir humano e de suas regras, princípios ou ideais, no sentido de determinar qual a melhor forma de agir individualmente ou socialmente na relação entre os homens, ou seja, a ética implica uma relação com o outro ser.
O objeto de estudo das pesquisas envolvendo a ética têm como foco os atos humanos, ou seja, os atos humanos voluntários e conscientes que afetam outros indivíduos, outros grupos sociais e outras pessoas.
As questões éticas, apesar de serem mais estudadas pelos filósofos, não podem ser usurpadas pela filosofia, de acordo com Mendonça (2003), visto que envolvem conceitos transdiciplinares como liberdade, justiça, sociabilidade, sustentabilidade, valor, necessidade etc., partilhados com diferentes áreas do conhecimento.
Para Immanuel Kant (2003), ética consiste em não tomar as pessoas como meio ou como fim. A ética kantiana é autônoma e formal, na medida em que formula para os homens um dever independente de suas condições sociais e econômicas, já que este é um ser livre, ativo, produtor e criador.
As idéias de Kant são um resultado lógico de sua crença na liberdade fundamental do indivíduo, como afirmada na sua Crítica da razão prática (2004). Essa liberdade não pode ser confundida como anarquismo, devendo ser entendida mais como a liberdade de autogoverno – a liberdade para obedecer conscientemente às leis universais como reveladas pela razão.
O imperativo categórico kantiano pode ser formulado da seguinte maneira: ages de tal modo que a máxima das tuas ações possa se tornar uma lei universal, ou ainda ages de maneira que o motivo que te levou a agir assim possa ser convertido em lei universal. Assim, exige de todos os indivíduos o cumprimento do dever moral e fornece, para isso, o critério da lei universal, ou melhor, das máximas segundo as quais as respectivas ações são praticadas (HAMM, 2003).
Com o objetivo de tentar melhor exemplificar o imperativo categórico, Kant (2003) apresenta quatro exemplos: o suicídio, a mentira, o ocultamento dos talentos e a preocupação com o outro.
Kant (2003) tenta primeiramente explicar a lei universal e o imperativo categórico com a relação entre uma pessoa que se encontra com dificuldades extremas e pensa em se suicidar. A partir daí, surge a primeira indagação kantiana, ou seja, se é possível transformar o suicídio em lei universal. Obviamente não, afirma ele, visto que, por maiores que sejam as dificuldades, a morte jamais pode ser a solução para os problemas.
O segundo ponto que Kant (2003) discute, para esboçar o imperativo categórico, é a mentira, ou seja, uma pessoa encontra-se em grandes dificuldades, tenta pedir dinheiro emprestado e diz que vai saldar a dívida em determinada data. Ela sabe que não vai poder honrar seu compromisso, mas, se não pedir, não conseguirá o dinheiro de que precisa. Daí surge a segunda questão: se é possível tornar a mentira uma lei universal, ou seja, se todos os homens devem mentir para alcançar seus objetivos.
O terceiro ponto para fundamentar o imperativo categórico usado por Kant (2003) é o ocultamento dos talentos. Se uma pessoa tem determinadas habilidades e não se esforça para aperfeiçoá-las, isto não pode se tornar uma lei universal, pois, segundo Kant, esse comportamento não incentiva as pessoas a aperfeiçoarem suas potencialidades e enfrentarem desafios.
Por fim, o último ponto que Kant (2003) explicita é ilustrado no caso de uma pessoa que vê um semelhante passando necessidades e poderia ajudá-lo a aliviar as dores e não faz absolutamente nada. Nesse sentido, Kant (2003) questiona se a falta de solidariedade poderia se tornar uma lei universal. Não, pois sem qualquer solidariedade, a espécie humana não poderia subsistir.
A partir da explicação do imperativo categórico, surge a questão de como determinar se a máxima pessoal deve ser elevada ao status de lei universal, sendo introduzido nesse contexto o conceito de boa vontade. Para Kant (2003), uma boa vontade é livre, autônoma, e as ações não são determinadas e nem causais. Dessa forma, são pré-requisitos para a ação do homem e para a definição de se o que ele está praticando poderia ser uma lei universal; contudo, muitas vezes, as opções e os atos do homem fazem com que ele não tenha uma boa vontade. De acordo com Pascal (2005), no homem, muitas vezes a vontade não é boa, devido às inclinações e à sensibilidade por determinadas coisas, atos e pessoas.
Com base nesses conceitos kantianos, pode-se fazer uma relação mesclando elementos da epistemologia acerca do desenvolvimento sustentável com os pressupostos filosóficos kantianos. Os homens sabem que o desenvolvimento sustentável é um pré-requisito fundamental para que as futuras gerações possam viver numa sociedade habitável, ou melhor, num planeta que seja sustentável do ponto de vista econômico, social, político e cultural, mas por que a sociedade não tem uma preocupação com o desenvolvimento sustentável e não faz disso uma lei universal, aos moldes do imperativo categórico kantiano?
Começa-se a se perceber o envolvimento de mais setores da sociedade, que clamam pela busca de soluções que levem em conta o desenvolvimento sustentável. Universidades, ONGs, organizações privadas e públicas, alguns governos e a mídia. Esse movimento que vem avançando nos últimos anos tem despertado a consciência de mais e mais indivíduos.
Nesse sentido, ainda é preciso avançar. As atitudes do homem muitas vezes não são inteiramente autônomas, visto que ele busca muitas vezes o lucro máximo, tem atitudes oportunistas, inclinando-se às ideologias, às vissitudes, ao relativismo, às “modas do momento” e, dessa forma, sua atitude de tornar a busca pelo desenvolvimento sustentável uma lei universal acaba ficando em segundo plano. Contudo essa opção poderá comprometer o futuro das próximas gerações, que poderão ter que viver em ambientes inóspitos e insalubres, como consequência das atitudes de homens sem compromisso social, político e econômico com os seus semelhantes e o planeta em que vivem.
Os fundamentos da ética kantiana continuam atuais, visto que, havendo a boa vontade dos homens, a busca pelo desenvolvimento sustentável poderia ser considerada como uma lei universal. Contudo, como advertiu Kant (2003), muitas vezes o homem, por suas atitudes, inclinações e preferências, não tem boa vontade. De certa forma, atualmente, é isso que ainda acontece com o desenvolvimento sustentável. É um conceito que ainda não é prioridade para a sociedade, em função da busca e das inclinações do homem por outras coisas, como o lucro máximo e as “maravilhas exossomáticas” da sociedade pós-moderna.
*Daniel Arruda Coronel é professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
*José Maria Alves da Silva é professor titular aposentado da Universidade Federal de Viçosa (UFV).
Referências
ANTON, W R. Q.; DELTAS, G.; KHANNA M. Incentives for environmental self-regulation and implications for environmental performance. Journal of Environmental Economics and Management, v. 48, p. 632-654, 2004.
BANERJEE, S B. Who Sustains Whose Development? Sustainable Development and the Reinvention of Nature. Organization Studies, v. 24, p. 143-180, 2003.
BANSAL, P. Evolving sustainably: A longitudinal study of corporate sustainable development. Strategic Management Journal, v. 26, p. 197-218, 2005.
BARIN-CRUZ, L.; PEDROZO, E. A.; ESTIVALETE, V. Towards Sustainable Development Strategies: A complex view following the contribution of Edgar Morin. Management Decision, v. 44, n. 7, p. 871-891, 2006.
BUYSSE, K.; VERBEKE, A. Proactive Environmental Strategies: A stakeholder management perspective. Strategic Management Journal, v. 24, n. 5, p. 453-470, 2003.
FRANCISCO. Exortação Apostólica Laudate Deum-sobre a crise climática. Brasília: CNBB, 2023.
GLADWIN, T.; KENNELLY, J.; KRAUSE, T. Shifting Paradigms for sustainable development: implications for management theory and research. Academy of Management Review, v. 20, n. 4, p. 874-907, 1995.
GREAKER, M. Strategic environmental policy; eco-dumping or a green strategy? Journal of Environmental Economics and Management, v.45, p. 692-707, 2003.
GUARINI, G.; OREIRO, J. L. C. Ecological Transition and Structural Change: A New-Developmentalist Analysis. Socio-Economic Planning Sciences, 2024.
HAMM, C. Princípios, motivos e móbeis da vontade na filosofia prática kantiana. In: NAPOLI, R.; ROSSATO, N; FABRI, M. (org.). Ética e justiça. Santa Maria: Palloti, 2003.
KANT, I. Crítica da razão prática. São Paulo: Martin Claret, 2004.
KANT, I. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. São Paulo: Martin Claret, 2003.
MENDONÇA, W. Como deliberar sobre questões morais In: NAPOLI, R.; ROSSATO, N.; FABRI, M. (org.). Ética e justiça. Santa Maria: Palloti, 2003.
PASCAL, G. Compreender Kant. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006.
RUSSO, M. The emergence of sustainable industries: Building on natural Capital. Strategic Management Journal, v. 24, n. 4, p. 317-331, 2003.
SHARMA, S.; HENRIQUES, I. Stakeholder Influences on Sustainability Practices in the Canadian Forest Products Industry. Strategic Management Journal, v. 26, n. 2, p. 159-180, 2005.
SPANGENBERG, J H. Reconciling sustainability and growth: criteria, indicators, policies. Sustainable Development. v. 12, p. 74-86, 2004.
WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT. Our Common Future. New York: Oxford University Press, 1987.
Nota
[i] O Clube de Roma surgiu em 1968, formado por cientistas de diversas nacionalidades, tendo por objetivo discutir os problemas que afligiam a humanidade, bem como, a partir de políticas concretas, visar ao equacionamento desses problemas.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA