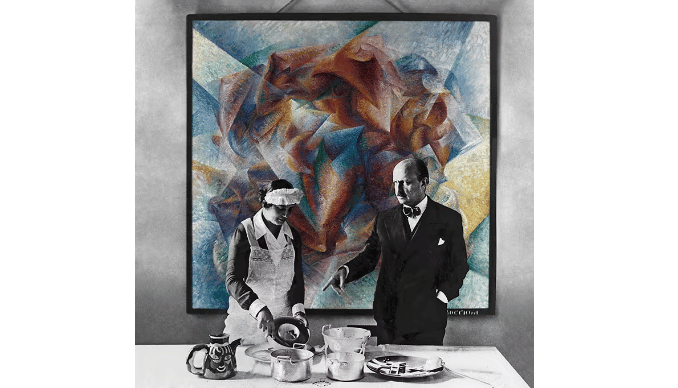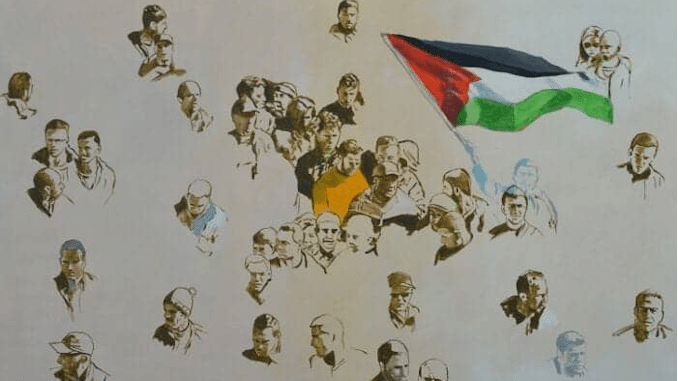Por LUIS FELIPE MIGUEL*
Entre os muitos mortos do Brasil nos últimos meses, há um pelo qual não vale derramar uma única lágrima: a “frente ampla” pela democracia
Quando a condução perversa do combate à pandemia escancarou a natureza do atual governo, escandalizando mesmo muitos de seus parceiros de ocasião na direita “civilizada”, parecia que era inevitável retirar Bolsonaro do cargo. Motivos não faltariam, já que sua gestão se constitui, desde os primeiros dias, como um mostruário de crimes – comuns e de responsabilidade.
A ideia de uma frente ampla nasceu, então, do reconhecimento por parte de políticos, empresários e jornalistas conservadores, no contexto da crise sanitária, de que os serviços que Bolsonaro podia prestar a seus interesses não compensavam a insanidade que era mantê-lo à frente do país. E do apoio a ela por muitos, nos movimentos sociais e na esquerda, convictos de que nossa sina seria repetir o caminho que levou ao fim da ditadura militar.
Um primeiro sinal veio na comemoração unificada – e virtual – do Primeiro de Maio pelas centrais sindicais. Em nome do combate comum pela democracia, notórios inimigos da classe trabalhadora foram convidados a falar, de Fernando Henrique Cardoso e Dias Toffoli a Rodrigo Maia, João Dória e Wilson Witzel. A maioria deles acabou não gravando suas mensagens, devido à repercussão negativa, mas o episódio já sinalizava que, para as lideranças sindicais, era hora, uma vez mais, de trocar as reivindicações classistas pela defesa das “liberdade democráticas”, aceitando abraçar aqueles que haviam dado o golpe de 2016 e destruído os direitos trabalhistas.
No final do mesmo mês de maio, os jornais estamparam o manifesto do “Juntos”, com uma ampla lista de signatários que incluía desde pessoas com os pés solidamente plantados na centro-esquerda ou mesmo na esquerda até Fernando Henrique Cardoso, Cristovam Buarque, Roberto Freire, Armínio Fraga, Luciano Huck, Lobão e Tábata Amaral. O texto não falava em impeachment e não citava Bolsonaro.
Ostensivamente, era um chamamento à união nacional. “Clamamos que lideranças partidárias, prefeitos, governadores, vereadores, deputados, senadores, procuradores e juízes assumam a responsabilidade de unir a pátria e resgatar nossa identidade como nação”. “Invocamos que partidos, seus líderes e candidatos agora deixem de lado projetos individuais de poder em favor de um projeto comum de país”. “É hora de deixar de lado velhas disputas em busca do bem comum”. “Esquerda, centro e direita unidos para defender a lei, a ordem, a política, a ética, as famílias, o voto, a ciência, a verdade, o respeito e a valorização da diversidade, a liberdade de imprensa, a importância da arte, a preservação do meio ambiente e a responsabilidade na economia”.
O tom conservador era denunciado aqui e ali. A própria ideia de união nacional é, classicamente, um chamamento ao abandono das reivindicações da classe trabalhadora. Além disso, havia as referências à defesa da “ordem”, à “responsabilidade na economia” etc. Muitos quiseram, no entanto, ver ali o pontapé inicial de um movimento amplo para derrubar Bolsonaro e restaurar a democracia e o Estado de direito. Uma referência do manifesto ao movimento das Diretas Já reforçava essa leitura: todos pela democracia.
O paralelo histórico, porém, era equivocado. As Diretas Já foram um movimento amplo em busca de um objetivo pontual, a volta das eleições diretas para presidente, que visava alargar e democratizar a disputa política, não escondê-la em nome de um elusivo “projeto comum de país”. Já o Juntos alardeava “princípios éticos e democráticos” abstratos e vagos, mas era incapaz de enunciar o que de fato propunha. Julgar que era o afastamento de Bolsonaro do cargo ficava a critério de cada freguês. A roupagem de defensores da democracia caia mal em tantos que recém haviam se unido para golpeá-la com o afastamento ilegal de uma presidente e a perseguição judicial e midiática a toda a esquerda.
Como de costume nesse tipo de manifesto, o preço que se esperava que a esquerda pagasse, para a direita “civilizada” fazer frente comum contra o fascismo, era abrir mão de seu próprio discurso. O desespero com a situação levou muitos para esse caminho, mas a experiência mostra que ele se revela um péssimo negócio. Ao fazer com que lideranças da esquerda abram mão do projeto que as define, ele reforça a posição da ideologia dominante como chão comum e fronteira final da disputa política. Reduz os horizontes da disputa política e enfraquece a exigência de uma transformação social profunda. A democracia que se propõe a defender é, de partida, severamente limitada.
A “amplitude” da frente exigia apagar a linha de continuidade que une Bolsonaro ao golpe de 2016. Por consequência, não se podia tocar nas arbitrariedades cometidas, no desmonte da Constituição de 1988, no lawfare contra Lula e o PT. O processo de criminalização da esquerda seria revertido, talvez, na medida em que a esquerda deixasse de sê-lo. A macarthização do debate público, com o veto à expressão de tantas posições, se abrandaria conforme as vozes dissidentes optassem pela autocensura. Em suma: teríamos a democracia de novo, desde que com o compromisso de não usá-la para enfrentar os padrões de dominação vigentes na sociedade.
O grande problema do golpe sempre foi como encontrar o caminho para sua normalização. Isto é, como deixaria de ser o ato de força que foi e teria seu legado (em retrocesso de direitos, redução do Estado e rompimento de políticas igualitárias, desnacionalização da economia) incorporado de vez à vida nacional. No sonho dos golpistas, a normalização se daria com a eleição de Alckmin em 2018: um conservador que encarnava o programa dos retrocessos, mas que receberia o aval das urnas. O eleitorado, porém, não se dispôs a cumprir seu papel nesse script.
A “frente ampla” aparecia, então, como nova oportunidade de normalização do golpe. Ao fazer com que a esquerda brasileira aceitasse ficar a reboque da direita “civilizada”, abrindo mão de toda a sua agenda em nome nem sequer da democracia representativa, mas simplesmente de um regime menos iliberal, Bolsonaro cumpriria seu último serviço aos golpistas de 2016: ser o bode na sala.
Depois de algum tempo, incluindo uma fracassada manifestação virtual pela “democracia” que programara intervenção até de Michel Temer, a frente murchou. Houve a oposição vigorosa de setores da esquerda, incluindo, com destaque, os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Mas, sobretudo, ela deixou de ser útil para a parte da direita que a animara – por ter cumprido uma boa parte daquilo a que se destinava.
A queda de Bolsonaro nunca foi o único resultado esperado dessa movimentação. A outra opção era domesticar o ex-capitão. Menos de duas semanas após a divulgação do manifesto, o presidente nacional do PSDB já descartava a possibilidade de impeachment – logo ele, que fora resgatado do baixo clero parlamentar pelo acaso de ter dado o voto decisivo no impeachment fraudulento que destituiu Dilma Rousseff. Mais do que esse canto de sereia, o que moveu Bolsonaro na direção desejada foi a prisão de Fabrício Queiroz, que o fragilizou e fez com que baixasse o tom em suas disputas com o Legislativo e o Judiciário. Em setembro, às vésperas de encerrar seu constrangedor mandato como presidente do STF, Dias Toffoli sacramentou o grande acordo nacional, declarando: “Nunca vi atitude de Bolsonaro contra democracia”.
O presidente fala um pouco menos. Os cargos para o Centrão são liberados. Em especial, ele parece estar entendendo que o mandato não é só dele, mas do conjunto de forças que permitiu que ele chegasse lá.
Mas nada nas políticas concretas do governo mudou. A pandemia prossegue descontrolada, e enquanto a prometida vacina – russa, chinesa ou inglesa – não vier, a única coisa que a freia é a diminuição do estoque de potenciais infectados. A devastação ambiental está no auge. Os indícios das práticas corruptas de Bolsonaro e de sua família não param de crescer. O boicote à educação e à ciência é permanente. Agressões grotescas aos direitos das mulheres, dos povos indígenas, da população negra, da comunidade LGBT, ocorrem todos os dias.
Mas parece que chegamos a uma nova “normalidade”. Mesmo os órgãos de imprensa hostilizados por Bolsonaro, um presidente que tem (como é evidente sobretudo no caso do Grupo Globo) trabalhado para miná-los financeiramente, cuidam em primeiro lugar de não prejudicar a “agenda positiva” do governo: privatizações, destruição do Estado por meio da reforma administrativa, precarização generalizada nas relações de trabalho.
A resistência ao governo Bolsonaro será protagonizada pela classe trabalhadora e demais grupos dominados. Setores insatisfeitos das classes dominantes podem dar apoio pontual aqui e ali – o apoio é tão pontual quanto são pontuais suas insatisfações. Atrelar a nossa estratégia à deles, subordinar a nossa agenda à deles, é o caminho certo para a derrota. A morte, desde o princípio anunciada, da “frente ampla” serve de lição.
*Luis Felipe Miguel é professor do Instituto de Ciência Política da UnB, onde coordena o Grupo de Pesquisa sobre Democracia e Desigualdades (Demodê). Autor, entre outros livros, de Dominação e resistência: desafios para uma política emancipatória (Boitempo).