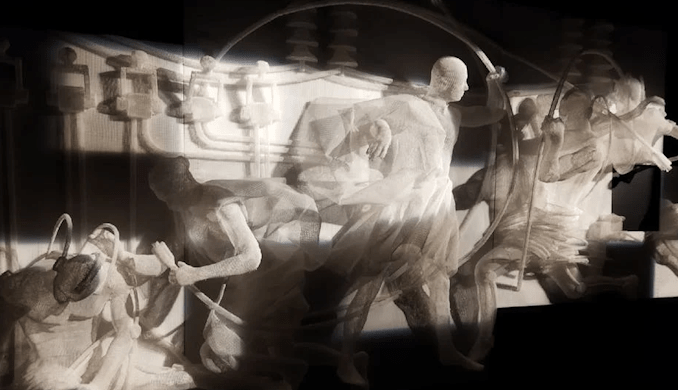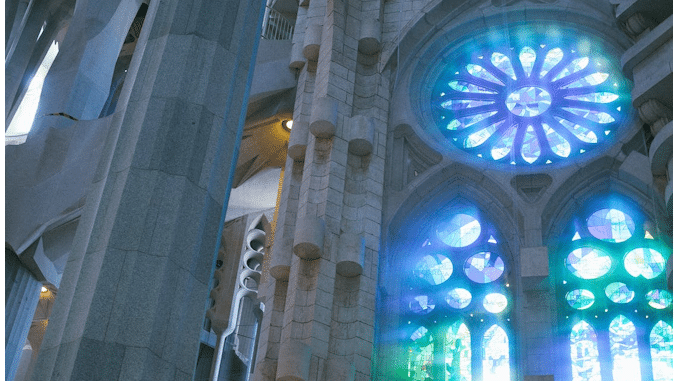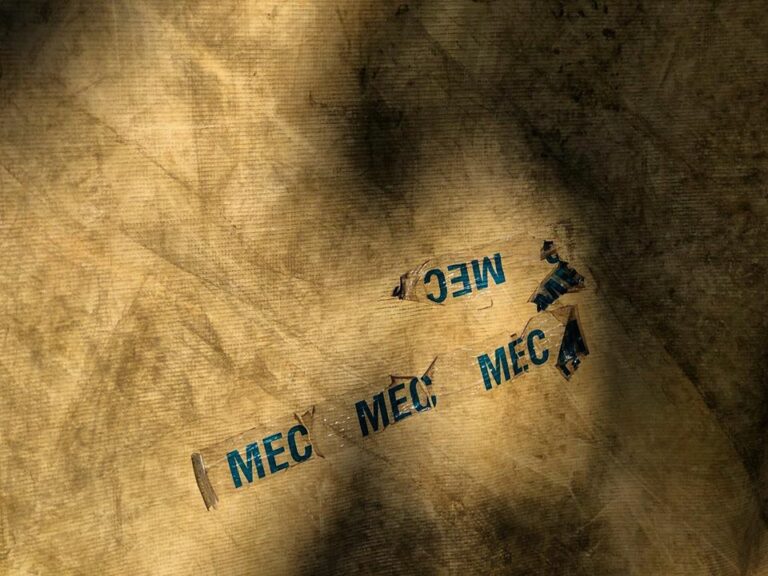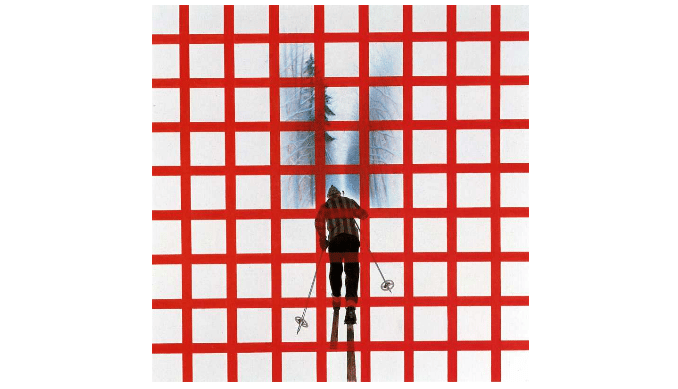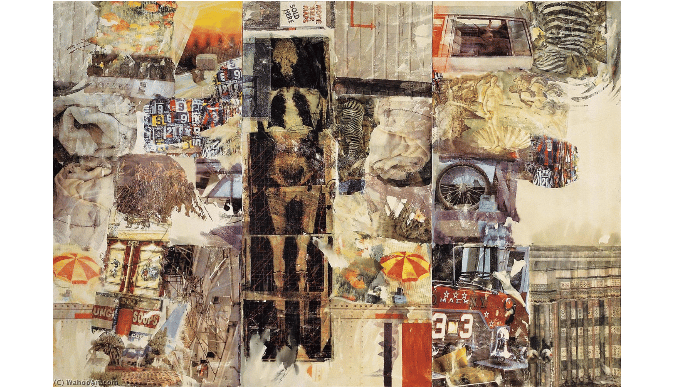Por IGNACIO ECHEVERRÍA*
Uma reflexão sobre as raízes antropológicas e culturais do ódio
“O ódio pode ser suscitado de duas maneiras distintas: de modo espontâneo ou induzido. Ninguém precisa nos ensinar a odiar. […] Faz parte do mecanismo sentimental, emocional, e torna-se parte do rito iniciático de incorporação a um grupo, um clã. […] Odiar o mesmo objeto que todos odeiam e da mesma maneira que todos. O grupo se consolida quando todos os integrantes vivem uma ameaça comum. O ódio é um excelente vínculo entre os membros de um grupo e, uma vez que se odeia como todos os demais, passa-se a ser um dos fiéis. […] Isso é claramente observável nas facções políticas.”
Essas palavras pertencem à palestra com que Carlos Castilla del Pino introduziu, em 1997, um seminário dedicado ao ódio. O seminário fazia parte da série de seminários de antropologia do comportamento, que o próprio Castilla del Pino dirigia anualmente em San Roque, organizados pela Universidade de Cádiz. As intervenções desse seminário sobre o ódio foram reunidas, em 2002, em um volume intitulado El odio, publicado pela Tusquets Editores. Seus participantes foram, além do próprio Castilla del Pino, a psiquiatra Carmen Gallano, o professor de literatura Túa Blesa, o professor de psicanálise Carlos Gómez Sánchez, a catedrática de antropologia social Teresa del Valle, o catedrático de Filologia Grega Carlos García Gual e eu mesmo.
Embora a situação política e social que motiva a iniciativa tenha muito pouco a ver com a daqueles dias (ainda que, já naquela época, se semeassem as sementes do que ocorre atualmente, como nos recordou recentemente Antón Losada), talvez não seja irrelevante, no contexto do debate suscitado pelas crescentes políticas de ódio, refletir sobre o pano de fundo sociológico desse sentimento, utilizando algumas referências culturais e teóricas. Com esse objetivo, proponho-me a revisitar minha intervenção naquele seminário mencionado, que, para esta ocasião, abrevio. Muito se passou desde então; eu mesmo mudei de lugar, mas, embora elementares, as linhas gerais daquela reflexão, algo juvenil, ainda me parecem úteis.
1.
“Ó bruxas, miséria, ódio: a vós foi confiado o meu tesouro!” Com esta invocação, Arthur Rimbaud abre sua coleção de poemas em prosa Uma temporada no inferno. Não é fácil precisar o alcance que este termo – o de inferno – tem para Rimbaud, mas cabe recordar que a modernidade foi em alguma ocasião nomeada como “a época do inferno”. Assim se refere a ela quem talvez seja seu mais perspicaz analista, Walter Benjamin. Em todo caso, é em Uma temporada no inferno que se encontra a célebre frase em que Rimbaud declara que “é preciso ser absolutamente moderno”. E ele mesmo é considerado o modelo do artista moderno: aquele em que, sucessivamente, se manifestam, de modo premonitório, o impulso revolucionário, o solipsismo, a transgressão e a fuga, para finalmente sucumbir ao culto da mercadoria.
Às portas, portanto, de um inferno que não é descabido identificar com a modernidade, um dos poetas emblemáticos desta, Arthur Rimbaud, invoca o ódio como um de seus patronos. Interessa indagar se, mais além de seu alcance poético, é possível extrair daí a intuição do ódio como paixão característica da modernidade. Mais do que isso: como sentimento específico desta, na medida em que se aceite que, mais além de sua substância intemporal, os sentimentos adquirem, em cada época, um conteúdo particular (conforme sugeriu Ortega y Gasset a propósito do amor).
É já um lugar-comum caracterizar a modernidade como uma fratura na consciência do indivíduo histórico, fratura que altera sua relação com o mundo, com a sociedade que o cerca e até consigo mesmo. Essa fratura determina uma nova percepção de sua própria individualidade, destacando seu radical estranhamento em relação a todas as instâncias nas quais costumava encontrar abrigo.
A modernidade, escreve Octavio Paz em Os filhos do barro (Cosac & Naify), “é sinônimo de crítica e se identifica com a mudança; não é a afirmação de um princípio atemporal, mas o desdobramento da razão crítica que, sem cessar, se interroga, se examina e se destrói para renascer de novo. Não nos rege o princípio de identidade nem suas enormes e monótonas tautologias, mas a alteridade e a contradição, a crítica em suas vertiginosas manifestações […]. A modernidade é uma separação. Emprego a palavra em sua acepção mais imediata: afastar-se de algo, desunir-se. A modernidade inicia-se como um desprendimento da sociedade cristã. Fiel à sua origem, é uma ruptura contínua, um incessante separar-se de si mesma”.
Bastam estas palavras, com o destaque que conferem às categorias trazidas à discussão (sublinhadas), para conectar o que dizem à pretensão de que o ódio é um sentimento específico da modernidade. E isso porque esse sentimento enraíza-se nas referidas categorias e constitui, por excelência, uma das derivações típicas daquele estranhamento ao qual Octavio Paz se refere.
Ligado intimamente ao amor – que costuma ser erroneamente julgado como o seu contrário –, o sentimento de ódio aparece relacionado, na teoria psicanalítica, ao reconhecimento da realidade exterior, ou seja, ao reconhecimento da alteridade, e, como tal, é considerado um agente decisivo na construção da identidade individual.
Segundo Freud, nas fases mais primitivas da psique, “o eu não precisa do mundo exterior enquanto é autoerótico”. Durante essa fase, e sempre “sob o domínio do princípio do prazer”, o eu acolhe em seu interior “os objetos que lhe são oferecidos na medida em que constituem fontes de prazer e os introjeta, afastando, por outro lado, de si, aquilo que, em seu próprio interior, constitui motivo de desprazer”.
Durante essa etapa, que o próprio Freud qualifica como narcisista, “o mundo exterior divide-se para ele [o eu] em uma parte prazerosa, que é incorporada, e um resto, estranho a ele”. O sentimento associado a esse “resto” do mundo exterior que permanece estranho é, inicialmente, o da indiferença. Mas na medida em que a realidade alheia ao eu, com seus estímulos incessantes (que constituem outras tantas fontes de desprazer), se impõe na experiência do sujeito, a indiferença dá lugar ao ódio, que aparece assim ligado ao reconhecimento do mundo exterior enquanto objeto, ou seja, enquanto realidade independente do sujeito. Segundo Freud, “o mundo externo, o objeto e o odiado teriam sido, inicialmente, idênticos”. E isso a tal ponto que se pode afirmar que “o ódio faz o objeto” (referindo-se, claro, ao objeto no sentido de não-eu, de externo ao Eu).
2.
É tentador – por mais que, em muitos aspectos, pareça abusivo – extrapolar as observações de Freud sobre a função do ódio para o comportamento dos corpos sociais e reconhecer neles uma dinâmica semelhante. É algo que parece simples quando se trata de sentimentos racistas ou nacionalistas, geradores de ódios que atuam, efetivamente, como agentes de diferenciação e identidade. De fato – como Rafael Sánchez Ferlosio se ocupou insistentemente de ilustrar –, na formação dos povos e das nações, ou mais geralmente dos grupos sociais, o ódio desempenha um papel ancestral, comparável ao que exerce na construção da autoconsciência individual.
Durante muito tempo, o enraizamento da consciência individual em uma estrutura social solidamente fundamentada assegurou ao ódio, além de suas manifestações particulares, uma função social importante, reforçando a consciência coletiva. Um bom exemplo disso é o papel decisivo que, na consolidação das modernas nações europeias, desempenharam as lutas religiosas e, muito especialmente, o sentimento antissemita ou o ódio ao turco.
O específico da modernidade seria que nela, ao tornar-se conflituosa a relação de pertencimento do indivíduo ao seu próprio entorno social, problematiza-se essa função integradora do ódio. Pela força da razão crítica, a modernidade inaugura um processo de “estranhamento radical” entre o indivíduo e seu meio, que põe em questão o conjunto de valores coletivos sobre os quais se fundamentavam tanto as relações interpessoais quanto a imagem que o sujeito tinha de si mesmo. Deixando claro que a presente análise se limita ao indivíduo enquanto sujeito social, cabe lembrar que a ruptura do modelo teocêntrico, continuada depois pela dos modelos geocêntrico e antropocêntrico, inaugura a partir do Renascimento um processo de estranhamento que adquire toda a sua intensidade com o Iluminismo.
A Europa das revoluções, no longo trajeto que vai da Revolução Francesa de 1789 à Revolução Russa de 1917, pode ser resumidamente explicada como resultado desse processo, do qual uma das consequências é o ódio, o qual, a partir de então, passa a opor os diferentes estamentos sociais, uma vez que os vínculos que sustentavam sua articulação hierárquica foram questionados. Sob esse ponto de vista, a luta de classes, na interpretação dialética que dela faz o marxismo, viria a constituir, em grande medida, uma racionalização estratégica desse ódio, com o objetivo de refundar, em benefício da classe proletária, um novo pacto social.
Porém, eludindo agora o plano ideológico, talvez o modo mais claro de ilustrar os transtornos que os novos tempos infligem à consciência individual consista em explorar o sentimento da multidão. Tal é, segundo Walter Benjamin, o novo sentimento que enraíza na cidadania do século XIX; um sentimento determinado pelo fenômeno moderno por excelência: o surgimento das grandes cidades e das novas condições de vida que elas proporcionam.
O próprio Walter Benjamin traz à tona, a esse respeito, uma expressiva citação do jovem Engels, que vale a pena transcrever aqui: “Uma cidade como Londres, na qual se pode caminhar por horas sem sequer chegar ao início do fim, sem topar com o menor sinal que permita deduzir a proximidade de um terreno aberto, é algo muito peculiar. Essa colossal centralização, esse amontoamento de três milhões de homens em um único ponto, centuplicaram sua força […]. Mas só depois se descobrem as vítimas que […] isso custou. Quando se perambula por um ou dois dias pelas ruas pavimentadas, percebe-se que esses londrinos tiveram que sacrificar a melhor parte de sua humanidade para realizar todas as maravilhas da civilização das quais sua cidade transborda […]. Já o formigar das ruas tem algo de repugnante, algo contra o qual a natureza humana se indigna. Essas centenas de milhares que se empurram uns aos outros, não são todos eles homens com as mesmas propriedades e capacidades e com o mesmo interesse em ser felizes? E, no entanto, correm desviando-se uns dos outros, como se não tivessem nada em comum, nada que os unisse, com um único pacto tácito entre si: que cada um se mantenha no lado direito da calçada, para que as duas correntes da aglomeração, que avançam em sentidos opostos, não se bloqueiem. A ninguém ocorre, certamente, dignar-se a lançar um único olhar ao outro. A brutal indiferença, o isolamento insensível de cada um em seus interesses privados, ressaltam ainda mais de maneira repugnante, ferindo ainda mais, dado que todos estão comprimidos em um pequeno espaço.”
O sentimento aqui expresso vai além do profundo desgosto que desperta, em tantos artistas do século XIX, a configuração da nova ordem social, das novas condições de vida – desgosto que encontra sua formulação mais precisa e radical em Flaubert e seu reiterado “ódio ao burguês”. Seu objeto é algo muito mais extenso e impreciso, em qualquer caso não conotado pela perspectiva de classe nem por posições ideológicas: a multidão.
3.
Após essa citação, Walter Benjamin lembra os textos clássicos de Poe e Baudelaire, e ele próprio constata, a propósito deles, como “a multidão da grande cidade despertava medo, repugnância, terror nos primeiros que a olharam de frente”. Desse terror, dessa repugnância e desse medo, surgiu, em correspondência, um sentimento de ódio que, em muitos casos, expressou-se em um reflexo de agressividade. As ideologias revolucionárias redirecionam esse sentimento para uma utopia redentora. Mas, fora do canal determinado por essas ideologias, o desenvolvimento da razão crítica lança muitas consciências ao niilismo. No cenário conformado por este, talvez o mais característico da modernidade, o homem da multidão ao qual se referem Poe e Baudelaire converte-se ou no misantropo atormentado que protagoniza as Memórias do Subsolo (1864), de Dostoiévski, ou no feroz anarquista que encarna o personagem do professor em O agente secreto (1907), o romance de Joseph Conrad.
Como se recordará, esse último personagem caminha impune pelas mesmas ruas de Londres descritas por Engels, mas o faz portando consigo uma bomba. Eis um dos trechos em que Joseph Conrad o descreve: “Perdido na multidão, miserável e diminuto, meditava confiantemente sobre seu poder, sem tirar a mão do bolso esquerdo da calça e segurando levemente a bola de borracha, a suprema garantia de sua liberdade sinistra; mas, após algum tempo, sentiu-se desagradavelmente afetado pelo espetáculo da rua atulhada de veículos e da calçada repleta de homens e mulheres. Estava em uma rua longa e reta, ocupada por uma simples fração de uma multidão imensa; mas ao seu redor, em todas as partes, incessantemente, até os limites do horizonte oculto pelos enormes amontoados de tijolos, sentia a massa da humanidade, poderosa em suas dimensões. Ela fervilhava como gafanhotos inumeráveis, industriosos como formigas, inconscientes como uma força natural, avançando cegos e em ordem, absortos, impermeáveis ao sentimento, à lógica, talvez, também, ao terror.”
Novamente, aqui, o que produz espanto não é tanto a própria multidão, mas a sua indiferença. No vazio que essa indiferença abre na própria consciência individual, constrói-se a consciência moderna. Mas no trecho recém-citado insinua-se, quase imperceptivelmente, uma nova noção, que determina uma mudança significativa no processo aberto por essa consciência: a noção de “massa”. Vale a pena nos deter nela.
A massa alude a uma noção afim, mas em absoluto idêntica à de multidão. Joseph Conrad acerta ao intuir isso ao expressar como a massa se faz sentir além da multidão imensa que rodeia seu personagem, além – diz ele – “do horizonte oculto pelos enormes amontoados de tijolos”.
Ao contrário do “homem da multidão”, ao qual se referem Poe e Baudelaire, o “homem da massa” é indiferente ao terror que inspira o próprio espectro. E isso ocorre porque a massa constitui uma transmutação da multidão, pela qual sua entidade múltipla se dissolve em uma unidade superior, na qual se renova o atávico gregarismo que deu impulso às sociedades humanas.
É decisivo diferenciar o sentimento da multidão do sentimento de massa para distinguir, por sua vez, duas etapas sucessivas no desenvolvimento da moderna consciência individual. A percepção da multidão marca praticamente todo o século XIX e está dominada pelo impacto perturbador que as novas condições de vida, decorrentes da revolução industrial, exercem sobre o indivíduo. Nesse contexto, o fenômeno da multidão, consequência de concentrações humanas em uma escala desconhecida até então, possui – como já foi dito – um protagonismo essencial.
O terror que o indivíduo experimenta diante da multidão dá lugar, em toda uma primeira etapa da modernidade, a diferentes atitudes: à conspiração revolucionária, ao solipsismo esteticista, à fuga, ao ressentimento, ao ódio… Este último surge, em primeiro lugar, do repúdio ao que, devido à sua imponente heterogeneidade, é inesperadamente reconhecido como estranho e, portanto, ameaçador.
O determinante, em qualquer caso, é a angústia provocada pela súbita revelação de que o entorno anteriormente percebido como próprio – o tecido das relações humanas que sustentava e reforçava o sentimento de si mesmo que o indivíduo possuía – adquiriu uma consistência hostil. O ódio surge aqui como reação ao isolamento da própria identidade, à sua solidão, arrancada como foi de sua pertença a uma ordem mais ou menos confortável. O repúdio à multidão, de acordo com isso, seria um sentimento dominado pela estranheza e pela alteridade.
O fenômeno da massa tem raízes muito distintas das da multidão. Sua natureza não é histórica. A formação mais ou menos espontânea de massas humanas remonta às origens do homem e obedece a uma espécie de instinto de indiferenciação pelo qual o indivíduo dissolve sua própria identidade em uma entidade superior. Se o fenômeno da massa adquiriu tanto protagonismo ao longo do século XX, é porque esse instinto de massa atua com especial insistência em situações de estranhamento, como as geradas pelo sentimento de multidão.
Pode-se dizer, nesse sentido, que o sentimento de massa atua como revulsivo do sentimento de multidão. Se o da multidão é um sentimento característico do processo de individualização que culmina no século XIX, o da massa é um sentimento que atua precisamente como dissolvente da consciência individual. O repúdio à massa tem um signo contrário ao repúdio à multidão. Se este constitui uma reação da consciência individual ao múltiplo e estranho, aquele consiste na reação dessa mesma consciência individual à formidável pressão do idêntico. Se a multidão intimida por sua diversidade, a massa o faz por sua uniformidade. E isso porque a massa constitui a cristalização da multidão em uma espécie de individualidade transcendida.
A massa é o asilo de uma individualidade traumatizada, que resolve sua angústia ao preço de se dissolver. A massa oferece ao indivíduo o consolo da multiplicação de sua identidade, através do qual alivia o sentimento de alteridade e de estranheza que lhe provocava a multidão entendida como multiplicação da diversidade. O sentimento de massa dissolve, em uma identidade sublimada, a inquietação provocada pela multidão.
4.
Elias Canetti, que dedicou boa parte de sua vida ao estudo e caracterização da massa – que compreendeu e explicou como nenhum outro –, destaca entre as propriedades fundamentais desta o fato de que, no interior da massa, reina a igualdade. Observa Elias Canetti: “Trata-se de uma igualdade absoluta e indiscutível e jamais é questionada pela própria massa. Possui uma importância tão fundamental que se pode definir o estado da massa diretamente como um estado de igualdade absoluta. Uma cabeça é uma cabeça, um braço é um braço, as diferenças entre eles carecem de importância. Torna-se massa buscando essa igualdade. Ignora-se tudo o que possa nos afastar desse objetivo.”
É impossível compreender o século XX sem compreender ao mesmo tempo – como fez Elias Canetti – o protagonismo que nele tem a experiência da massa, determinante para o auge dos totalitarismos. Na linha do que se vem argumentando, poderia até, com certa ousadia, estabelecer-se uma correspondência entre as relações da massa com o totalitarismo e as da multidão com a democracia. Mas basta aqui registrar o mecanismo que dá origem ao surgimento da massa: a tendência à identidade, consequência da reação ao sentimento de alteridade e de estranheza radical que, como se viu, está na base da consciência moderna.
Enquanto entidade compacta, a massa retoma comportamentos semelhantes aos de qualquer sujeito. Para ela, o ódio é um mecanismo de afirmação que contribui a forjar a sua própria identidade. Mas aqui trata-se do ódio como sentimento da individualidade moderna, que é uma individualidade crítica em relação ao entorno social ao qual pertence, e que, por isso, atua em uma direção oposta ao ódio das massas, que é um ódio, por assim dizer, “social”.
Na massa opera o absolutismo da identidade, que anula a individualidade na medida em que atua no sentido da mercadoria, isto é, no sentido da repetição do idêntico para fins de instrumentalização, tanto por parte do mercado quanto dos chamados poderes fáticos.
Mais que nenhum outro crítico da modernidade, foi Theodor Adorno quem, ao longo de toda a sua obra, defendeu mais apaixonadamente o valor da cultura como campo de resistência do indivíduo à pressão do idêntico. “Quanto mais a sociedade se totaliza, quanto mais perfeitamente vai se reduzindo a um sistema monocolor, tanto mais as obras de arte, em que se acumula a experiência desse processo, se convertem em seu oposto”, escreve. Na teoria de Theodor Adorno, tanto a arte quanto a filosofia são os dois terrenos em que ainda atua uma força que “vem em auxílio do não idêntico, do oprimido na realidade por nossa pressão identificadora”.
Tanto em uma quanto na outra, as instâncias mais profundas do Eu (que, em Theodor Adorno, assume uma fisionomia nitidamente freudiana) se mobilizam em favor de sua conservação. E é nesse movimento defensivo que se pode reconhecer o protagonismo do ódio como agente de resistência da individualidade, e, por isso mesmo, enquanto fator decisivo na dinâmica da modernidade.
Afirma Freud que o ódio “tem sua fonte nos instintos de preservação do eu”. Segundo ele, o ódio procede “da luta do eu por sua conservação e manutenção”. O que convida, após o percurso realizado, a considerar novamente como esse sentimento desempenha um papel determinante na modernidade, tantas vezes entendida e explicada como “uma cultura do Eu”.
De fato, toda uma corrente da arte e do pensamento modernos, cujas primeiras manifestações podem ser rastreadas no Romantismo, orienta seu discurso na direção de um repúdio à sociedade produto da revolução industrial, sentida como instrumento de alienação, de expropriação do Eu. Um repúdio que se torna mais agressivo e radical na medida em que o Eu reconhece em si mesmo territórios inteiros que se encontram sob a jurisdição das forças sociais e de sua poderosa pressão.
5.
Apontaria aqui uma dimensão “humanitária” do ódio que Theodor Adorno explorou e defendeu insistentemente através de seu conceito de negatividade e sua defesa intransigente das vanguardas. Mas o ódio enquanto agente defensivo da individualidade frente à massa pouco ou nada tem a ver com o ódio coletivo que alimenta a massa enquanto individualidade transcendida. O ódio da massa, alimentado por sentimentos racistas, religiosos e nacionalistas, é um ódio atávico.
Pelo contrário, o ódio que anima boa parte do discurso filosófico e estético da modernidade, o que determina boa parte das condutas marginais, dissidentes ou transgressoras dentro do atual ordenamento social, é a expressão de uma resistência da individualidade a ser absorvida, um enclausuramento do Eu diferenciado frente à totalidade. Jean Baudrillard acertou ao expressá-lo com exemplar contundência: “O ódio é talvez aquilo que subsiste, que sobrevive a todo objeto definível […]. O ódio permanece como uma espécie de energia, ainda que negativa ou reacionária. Atualmente, não restam mais do que essas paixões: ódio, desgosto, alergia, aversão, decepção, náusea, repugnância ou repulsa. Não se sabe o que se quer. Mas sabe-se o que não se quer. O processo atual é um processo de rejeição, de desafeto, de alergia. O ódio participa desse paradigma de paixão reacionária: eu rejeito, eu não quero, não entrarei no consenso […]. Ao mesmo tempo em que se exalta o universal, descobre-se a alteridade, o verdadeiro, aquilo que não cabe no universal e cuja singularidade persiste, apesar de estar desarmada e impotente. Tenho a impressão de que a fossa entre uma cultura universal e o que resta de singularidades endurece e se aprofunda.”
Essas palavras expõem uma concepção clara do ódio como sentimento residual de uma individualidade acuada, para a qual a premissa da universalidade esconde uma armadilha mortal. Para essa individualidade, toda construção social, todo consenso cultural, acaba por ser veículo de dominação do mercado e, portanto, instrumento de indiferenciação. O próprio Jean Baudrillard destaca até que ponto a função primordial dos media consiste na “produção da indiferença”. “A comunicação, ao universalizar-se”, declara Jean Baudrillard, “implicou uma perda fenomenal da alteridade. Já não existe o outro. Talvez as pessoas busquem uma alteridade radical, e a melhor forma de alcançá-la seja o ódio, forma desesperada de produção do outro. Nesse sentido, o ódio seria uma paixão, uma forma de provocação e de desafio […]. Atualmente, o que resta de energia é investido em uma paixão negativa, uma rejeição, uma repulsa. A identidade, hoje, encontra-se na rejeição […].”
Jean Baudrillard não evita o aspecto desesperado e estéril dessa “paixão negativa”, que surge da ausência de qualquer perspectiva construtiva e se projeta sobre a totalidade do sistema social. Fica para trás o ódio de classe, que, como observa Jean Baudrillard, “não deixava de constituir, paradoxalmente, uma paixão burguesa”: “Tinha um objetivo; podia ser teorizado, e de fato o foi. Era formulável, dispunha de uma ação possível, comportava uma paixão histórica e social. Tinha um sujeito, o proletariado, estruturas, as classes, contradições. O ódio de que falamos não tem sujeito; não tem ação possível […].”
É por aí que surge o seu potencial autodestrutivo. Pois, tão certo quanto o ódio constitui o reflexo legítimo de uma individualidade submetida à crescente pressão do idêntico, é também certo que essa individualidade só é defensável na medida em que é sentida, ela própria, como projeto. Mas é aqui que as versões contemporâneas de ódio fracassam, na medida em que a produção de indiferença, na qual convergem todos os mecanismos do atual sistema social, penetra no sentimento que o indivíduo tem de si mesmo, dando lugar ao enclausuramento de um eu sem conteúdo, ou seja, um eu sentido apenas como rejeição de tudo o que existe, incluindo ele próprio.
*Ignacio Echeverría é editor e crítico literário. Autor entre outros livros de Una Vocación de editor (Gris tormenta). [https://amzn.to/4hnAGPs]
Tradução de Rafael Almeida.
Publicado originalmente em CTXT.
Referências
Arthur Rimbaud, Une saison en enfer (1873); trad. de Ramón Buenaventura, Hiperión, Madrid, 1982;
José Ortega y Gasset, prólogo de 1952 a El collar de la paloma, de Ibn Hazm de Córdoba, en versión de Emilio García Gómez (Alianza, Madrid, 1971);
Octavio Paz, «La tradición de la ruptura», en Los hijos del limo (1974), Seix Barral, Barcelona, 1981 (3.ª ed. corregida y ampliada);
Sigmund Freud, Los instintos y sus destinos (1915); en Obras Completas, VI, trad. de José Luis López Ballesteros, Biblioteca Nueva, Madrid, varias ediciones y reimpresiones;
Friedrich Engels, Die Lage der arbeitenden Klase in England (1848); citado por Walter Benjamin en «Sobre algunos temas en Baudelaire» (1939), Poesía y capitalismo. Iluminaciones 2, trad. de Jesús Aguirre, Taurus, Madrid, 1980;
Joseph Conrad, The Secret Agent (1907); trad. de Jorge Edwards, El agente secreto, Muchnik, Barcelona, 1980;
Elias Canetti, Masse und Macht (1960); trad. de Juan José del Solar, Masa y poder, Galaxia Gutenberg – Círculo de Lectores, Barcelona, 2002;
Theodor W. Adorno, Aesthetische Theorie (1970); trad. de Fernando Riaza: Teoría estética, Taurus, Madrid, 1980;
Jean Baudrillard, «Une ultime réaction vitale», entrevista de François Ewald, Magazine Littéraire, núm. 323, dedicado a «La Haine» (‘El odio’), julio-agosto de 1994, pp. 20-24.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA