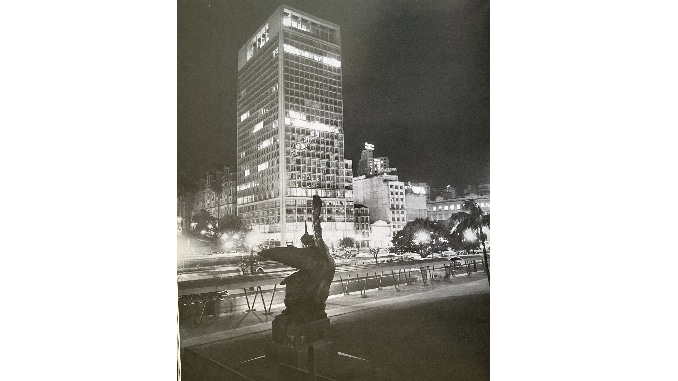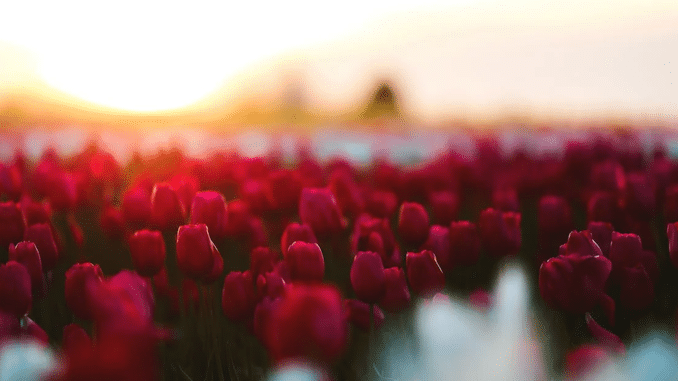Por CAIO NAVARRO DE TOLEDO*
As falácias do revisionismo
“Disso eles não sabem, mas o fazem” (Karl Marx).
Por ocasião do 40º Aniversário do movimento político-militar que derrubou o governo constitucional de João Goulart (1961-1964), a maioria das universidades públicas[i] e algumas faculdades privadas, entidades culturais, órgãos públicos, sindicatos de trabalhadores e os meios de comunicação promoveram palestras, seminários, mesas-redondas, entrevistas, depoimentos, exposições iconográficas sobre este crucial momento da recente história política brasileira; novos livros e algumas reedições sobre esse período também foram publicados[ii].
Ressalte-se que foram os jornais e as revistas semanais que mais espaço dedicaram ao debate em torno dos 40 anos do Golpe de Estado. Reportagens sobre os idos de abril de 1964, editoriais, artigos e entrevistas com estudiosos (acadêmicos ou não), depoimentos de ex-protagonistas (civis e militares) – publicados em edições regulares e em extensos cadernos especiais – contribuíram para a discussão acerca das razões e circunstâncias do golpe; igualmente constituíram-se em elucidativos materiais para um exame crítico do regime militar que vigorou no país durante mais de 20 anos.
Numa primeira aproximação, é possível afirmar que duas posturas ou posições ideológicas – pelas “novidades” de suas formulações – se evidenciaram nesse debate. De um lado, a de setores militares e, de outro, a de alguns acadêmicos de orientação progressista ou de esquerda.
O propósito deste artigo[iii] é o de comentar as confluências e os conflitos entre as interpretações sobre o golpe de 1964 formuladas por estes protagonistas. Concebendo o terreno ideológico como o espaço em que se verifica um extenso trânsito de representações, símbolos, imagens, valores etc., buscamos aqui examinar as oposições, as negações e as apropriações entre os significados que intelectuais progressistas e setores militares conferiram à discussão sobre abril de 1964.
Uma derrota ideológica dos setores conservadores
Na Ordem do Dia emitida pelo Comandante do Exército, general Francisco Roberto de Albuquerque – lida nos quartéis de todo o país na manhã de 31 de março –, a expressão “Revolução de 1964” é a grande ausente em todo o texto[iv]. Ao contrário de ocasiões semelhantes, nesta nota não se exaltou a atuação das Forças Armadas brasileiras que, em abril de 1964, intervieram no processo político a fim de “salvar” o país da “subversão” e “anarquia” políticas, do “caos econômico” e do “totalitarismo ateu e comunista” que vicejavam e ameaçavam a democracia nos chamados tempos do populismo. De forma sóbria e sem nenhuma eloqüência, a Ordem do Dia, dirigida aos jovens soldados do Exército, alude vagamente aos “difíceis momentos” vividos pelo país em 31 de março de 1964. Nela, os costumeiros inimigos ou adversários da Pátria deixavam de ser nomeados, cedendo espaço ao reconhecimento de que – sem ressentimentos de qualquer natureza – vivemos hoje numa sociedade “cujos filhos não estão divididos pelas paixões ideológicas e não estão expostos às inquietações do passado”.
Pacificados os espíritos e superadas as divisões fratricidas, a “Revolução de 1964” seria uma página virada. Nas palavras do Comandante: “Veja o 31 de março de 64 como uma página de nossa história, com o coração livre de ressentimentos”[v]. Assim, nesta nova versão do 31 de março, nenhuma comemoração haveria de ser feita. Caberia, sim, expressar aos céus a gratidão do país ter alcançado a modernidade que se identificaria com a emergência da República democrática: “Abençoado por Deus, você (jovem soldado, CNT) chegou aos tempos modernos. Chegou a uma República independente e livre, em contínuo aperfeiçoamento, no caminho democrático”[vi]. Se, hoje, os 40 anos não devem ser festejados, cabe, porém, reiterar valores permanentes e sagrados para a Instituição: “Reverencie, nesta data, a disciplina e a ordem”.
Certamente, nem todos os militares aceitam a quebra de uma tradição que vinha sendo firmada nestes últimos 40 anos. Muitos ainda discordam que esta data – que representaria um momento decisivo de nossa nacionalidade – deixe de ser exaltada. Assim, na página oficial do Exército brasileiro, dois oficiais defendem opiniões que contrariam a serena alocução do Comandante. Retomando o espírito e o ânimo prevalecente em anos anteriores, as armas aqui não estão ensarilhadas: as palavras dos oficiais são candentes, duras e ameaçadoras. Contra aqueles que desejam amesquinhar o mais alto propósito da intervenção militar – “o restabelecimento da democracia plena no país” – consideram ainda que é imperioso ressaltar a importância do “Movimento Revolucionário de 31 de Março de 1964”[vii].
Pode-se observar que a opinião dos oficiais também foi endossada – por vezes, de forma menos contundente ou maniqueísta – por outros militares e civis, em artigos, depoimentos e cartas do leitor, publicados em jornais de circulação nacional e regional.
Foge aos propósitos imediatos deste texto proceder a uma avaliação em profundidade das mudanças/permanências ideológicas no pensamento das cúpulas da atual burocracia militar brasileira. Em que medida nelas existiria hoje um forte e consolidado compromisso com os valores democráticos? Ou, nelas predominariam uma latente resistência em aceitar iniciativas políticas das classes populares que questionam as limitadas e restritas instituições vigentes na democracia liberal representativa? Certamente, são questões ainda hoje difíceis de receberem respostas conclusivas.
Levando em conta a problemática histórica e particular que aqui abordamos, uma indagação também se imporia: teriam as elites militares brasileiras se convencido de que a ditadura militar constituiu uma experiência que não mais deveria se repetir em nossa história política e social? O equilíbrio e a moderação expressos na Ordem do Dia do Comandante do Exército seriam sentimentos e convicções dominantes no seio de nossas Forças Armadas?
Embora se esclareça na mensagem que o “movimento de 31 de março” é uma “página virada” de nossa história – a ponto de não ter sido oficialmente comemorado –, seria uma conclusão apressada, temerária e desmesurada acreditar que o conjunto da Corporação militar hoje renegue a “Revolução de 1964”. Esta eventual autocrítica apenas aconteceria como resultado de uma eventual radicalização da democracia política no país.
Enquanto este dia não chega, não se pode, contudo, deixar de reconhecer que o pensamento progressista e democrático no Brasil conseguiu impor uma derrota aos “vencedores” de abril de 1964. No terreno das idéias, os golpistas foram derrotados.
Um exemplo desta derrota no plano ideológico talvez possa ser sintetizado pela resolução de uma questão de ordem simbólica: Golpe ou Revolução? Por ocasião dos 40 anos, o conjunto da grande imprensa brasileira – que na sua extensa maioria apoiou a derrubada de Goulart e teve um comportamento ambíguo e complacente face à ditadura militar – não deixou de empregar a noção adequada para designar abril de 1964: golpe de Estado ou golpe político-militar[viii]. Assim, a prestigiosa designação de “Revolução de 1964”, cunhada pelos protagonistas do regime militar, vai gradativamente encerrando sua (inglória) carreira ideológica[ix].
Por outro lado, na literatura política e historiográfica sobre 1964, destacam-se como obras relevantes do ponto de vista científico e intelectual, apenas aquelas que têm um claro e ineludível sentido crítico. Ao contrário dos textos apologéticos ou comemorativos, somente os trabalhos (livros e revistas) que questionam abertamente o golpe político-militar e a ditadura militar têm sido bem-sucedidos editorialmente. No ainda restrito mercado editorial brasileiro, são as obras de orientação crítica ou progressista que têm alcançado um público leitor mais significativo.
Assim, logo após o golpe, foram os livros e revistas da editora Civilização Brasileira – graças ao arrojo e à coragem intelectuais de Ênio Silveira – que alcançavam reedições e sucesso de venda, não os panfletos e livros largamente financiados por empresários e pela Embaixada norte-americana. Lembremo-nos, por exemplo, da experiência vitoriosa da Revista Civilização Brasileira e da enorme repercussão editorial de O Ato e o Fato, de C. Heitor Cony (recentemente reeditado). Posteriormente, são, entre outros, os livros de Moniz Bandeira (O governo João Goulart. As lutas sociais no Brasil 1961-1964), de René Dreifuss (1964: a conquista do Estado), de Jacob Gorender (Combate nas trevas), da Arquidiocese de São Paulo (Brasil: nunca mais) e as obras de Elio Gaspari (quatro livros publicados que levam no título a palavra ditadura) que contribuem para moldar e construir a cultura política brasileira sobre 1964[x].
Em contrapartida, os relatos legitimadores e racionalizadores da atuação dos militares e civis em 1964 não são obras bem-sucedidas do ponto de vista intelectual e editorial. Entre elas estão os livros do gen. Meira Mattos (Castelo Branco e a Revolução), do gen. Poppe de Figueiredo (A Revolução de 1964), de Jayme Portella (A revolução e o governo Costa e Silva), do ex-ministro Armando Falcão (Tudo a declarar), os freqüentes artigos do cel. Jarbas Passarinho etc. Apenas estudiosos, em função de seus objetos de pesquisa, têm por estas obras algum interesse documental.
Esta evidente derrota no plano ideológico[xi] não deixa de ser deplorada pela elite militar brasileira. Alguns militares têm-se valido da expressão “traição” para manifestar o sentimento de frustração diante da “injustiça” que teriam sofrido; afinal, acreditam, as Forças Armadas teriam sido conclamadas pelos “civis” para intervirem no processo político, mas, apesar de seu denodo e sacrifício, são hoje chamadas de “golpistas”…
Esta derrota no plano das idéias tem sido invariavelmente atribuída à presença dos esquerdistas na direção e controle dos meios de comunicação e editoriais do país[xii]. No artigo do cel. Passarinho, são os “cínicos”, os “tartufos” e os “farsantes” que reescrevem à sua maneira a História; no depoimento do jornalista Ruy de Mesquita, um proeminente ex-conspirador, temos uma peculiar explicação sobre esta derrota: “Diz-se que a história é sempre escrita pelos vencedores. A história do golpe de 64 foi escrita pelos derrotados”.
No entanto, no texto dos oficiais citados, que defendem a inteira validade da comemoração dos 40 anos, esta derrota seria apenas circunstancial.
“O verdadeiro juízo da Revolução será feito pela geração do Século XXI, descompromissada com o emocionalismo próprio dos perdedores, que buscam revanche hoje. A versão da história que vem sendo construída pelas esquerdas, com base em referências ideológicas inconsistentes e mediante a utilização de categorias sociomarxistas certamente será desqualificada. Todos os que, de forma isenta, analisarem o período abrangido pelos governos da Revolução hão de constatar que aquele foi um tempo de acelerado progresso e concretas realizações, em todos os campos do poder (…) A história fará justiça”[xiii].
Nesta formulação, pois, uma batalha foi perdida, não a guerra pela “verdade”. No dia em que prevalecer a razão na história, a “Revolução de 1964”, afirmam esses militares, será reconhecida como um momento decisivo da construção da nacionalidade.
De uma perspectiva crítica e democrática, não se pode senão esperar que, num futuro breve, venham ser dominantes – no seio das Forças Armadas brasileiras – os setores que estejam convencidos de que o golpe de Estado deve ser banido da cultura e da prática militares. Somente assim, abril de 1964 passará a ser encarado, pelo conjunto da corporação militar, como uma página definitivamente virada de nossa história política.
Revisionismo e recuo ideológico dos setores progressistas
Em torno dos 40 anos, ex-militantes políticos, escritores, jornalistas, artistas, sindicalistas etc., – no campo das esquerdas – também se manifestaram. Enquanto a maior parte dessas intervenções reiterou as análises críticas que responsabilizam setores “duros” das Forças Armadas e setores conservadores e liberais da chamada sociedade civil pelo golpe de 1964, alguns acadêmicos defenderam teses de caráter revisionista sobre os acontecimentos de abril. Expressas em artigos, entrevistas e debates acadêmicos, essas formulações foram bem acolhidas pelos setores conservadores. Sintomaticamente, contribuíram para levar “água para o moinho” dos ideólogos que ainda justificam o movimento político-militar de 1964.
Na visão destes acadêmicos, na conjuntura de 1964, todos os agentes relevantes do processo político estavam comprometidos com o golpismo: militares, setores da direita, das esquerdas e Goulart – por “não morrerem de amor pela democracia” – estavam prontos para desfechar um golpe de Estado.
Numa entrevista, o historiador Marco Villa afirmou existir uma identidade política entre esses agentes: o que unia “ambos os lados é que todos querem chegar ao poder por (sic) golpe, seja os militares, seja Brizola e mesmo Jango (…) tanto é assim que veio o golpe”[xiv]. Num artigo, o autor opinou que a democracia, no pré-64, tinha muitos inimigos, sendo “atacada por todos os flancos”; “vivendo aos trambolhões”, acabou sendo destruída[xv].
Para Villa, o que deve ser destacado na conjuntura de 1964 foi a ação destrutiva de várias forças, pouco comprometidas com os “valores democráticos”; ou seja, relevante seria ressaltar a inexistência de uma cultura política democrática na sociedade brasileira. Nessa perspectiva analítica, não caberia, pois, privilegiar o fato de que agentes políticos, bem concretos e definidos, não hesitaram em colocar soldados e tanques nas ruas para suprimir a democracia política vigente no país.
Não se preocupando em distinguir as motivações e as atuações específicas de cada um dos agentes políticos – nem avaliar os recursos materiais e simbólicos que detinham –, o autor impõe-nos a conclusão de que todos (os militares, a direita civil, setores de esquerda e Goulart) estavam em igualdade de condições e absolutamente nivelados em termos de responsabilidade pela destruição da democracia instituída pela Carta de 1946.
Assim, para o acadêmico, as experiências efetivas da direita brasileira (responsável por tentativas e golpes efetivos em 1950, 1954, 1955, 1960, durante o governo JK e em 1961) não a colocavam em “vantagem” em termos de conspiração contra a democracia. Fazendo tabula rasa desta entranhada tradição golpista, Villa coloca todos os agentes políticos em idêntica situação. Para o historiador, no pré-64, todas as forças políticas eram idênticas em matéria de golpismo.
Outro acadêmico, Jorge Ferreira, ao analisar o contexto que precedeu o golpe, entende que, nos tempos de Goulart, havia um reduzido compromisso das esquerdas brasileiras com a questão democrática. Defendendo “a qualquer preço” a realização de reformas sociais e econômicas, as esquerdas se dispunham, inclusive, a adotar soluções não-democráticas a fim de que as mudanças na sociedade se efetivassem. Direita e esquerdas, pois, se equivaliam em termos de antidemocratismo. Nas palavras do autor:
“A questão central era a tomada do poder e a imposição de projetos. Os partidários da direita tentariam impedir as alterações econômicas e sociais, sem preocupações de respeitar as instituições democráticas. Os grupos de esquerda exigiam as reformas, mas também sem valorizar a democracia (…) A primeira sempre esteve disposta a romper com a legalidade, utilizando-a para defender seus interesses econômicos e privilégios sociais. A segunda (as esquerdas, CNT), por sua vez, lutava pelas reformas a qualquer preço, inclusive com o sacrifício da democracia”[xvi].
Ferreira não utiliza o termo golpismo – como fazem Villa e Konder (como se verá logo abaixo) – para identificar as posições “não-democráticas” das esquerdas no pré-64. Esta prudência terminológica, no entanto, não o impede de afirmar que: “(…) de uma posição defensiva e legalista em 1961, as esquerdas adotaram a estratégia ofensiva e de rompimento institucional”. A palavra não é grafada, mas a idéia do golpismo domina a cena com a agravante de que eram as esquerdas em geral que agiam para romper a legalidade institucional. Na avaliação do autor, as esquerdas estavam representadas pela atuação “revolucionária” de Brizola e por lideranças “sindicais, camponesas, estudantis, dos subalternos das Forças Armadas, grupos marxistas-leninistas, políticos nacionalistas”[xvii].
Por sua vez, Leandro Konder, num artigo recente, opinou que “o golpismo, entranhado nos costumes e na cultura política da sociedade brasileira, se manifestava também no campo da esquerda”. Sustentou, por exemplo, que o golpismo da esquerda se expressava pelo apoio de Luis Carlos Prestes (secretário-geral do PCB) à proposta da reforma da Carta de 1946 visando a reeleição de Goulart. O autor não hesitou em escrever: “(…) dadas as circunstâncias (exigüidade dos prazos, inexistência de consenso), a proposta era, certamente, golpista”[xviii].Para surpresa do leitor – posto que inexiste argumentação para a grave conclusão –, Konder afirmou: “Assim, a reação contra o golpismo do campo da esquerda resultou no golpe da direita”.
Em termos de revisão historiográfica – forçoso é de se reconhecer – esta sentença é a que vai mais longe em matéria de responsabilizar as esquerdas (ou o “campo da esquerda”, como prefere Konder) pelo golpe de 1964[xix].
***
Quais as evidências apresentadas por estes autores para corroborarem suas teses? Como veremos, além da falta de comprovações empíricas ou factuais, as interpretações que oferecem são teoricamente frágeis. A rigor, são ideias falaciosas que passam a ter significados políticos e ideológicos claros e precisos no debate historiográfico; a rigor, endossam uma visão conservadora e reacionária do golpe de 1964.
Retomemos mais de perto as teses e os “argumentos” dos autores supracitados.
No pré-64, proclamam eles, “todos eram golpistas”: a direita civil e os militares – pois, afinal, estes foram os “vitoriosos” em 1964; mas também eram golpistas os “perdedores” – Goulart e setores das esquerdas.
Certamente, é possível especular que, em algum momento – diante da cerrada oposição do Congresso e de setores importantes da sociedade civil –, o Presidente da República teria cogitado da idéia de um golpe de Estado[xx]. Se fosse bemsucedido, as reformas sociais e econômicas seriam impostas e realizadas por decreto, com o Congresso fechado ou inteiramente tutelado. À época, era isso o que a direita alardeava pela imprensa, fazendo clara analogia com o golpe que, em 1937, instituiu o Estado Novo. Para os setores reacionários, Goulart nada mais fazia do que ser fiel ao “caudilho” Vargas.
Contudo, passados 40 anos, nem mesmo um simulacro de Plano Cohen foi descoberto (ou forjado) pela dura repressão que se abateu sobre os “subversivos”. Militares progressistas e democratas (alguns deles vinculados ao alardeado “dispositivo militar” de Jango), quadros civis ligados diretamente à Presidência da República, setores de esquerda, entidades (CGT, UNE, ISEB etc.) tiveram seus arquivos apreendidos; frequentes inquéritos políticos militares (IPMs) vasculharam as atividades de lideranças políticas e organizações nacionalistas e de esquerda. No entanto, nenhum documento (mesmo na forma de um simples esboço ou rascunho) – revelando os supostos planos golpistas ou continuístas de Goulart – foi descoberto pela inteligência repressiva. Nem mesmo os serviços de segurança norte- americanos (CIA, Departamento de Estado) – que colaboravam intensamente com as autoridades brasileiras – apresentaram, passados 40 anos, quaisquer indícios da decantada trama golpista de Goulart[xxi].
O “dispositivo militar” de Goulart – exaltado em verso e prosa – revelou-se um fiasco no exato momento em que dele se exigia uma ação eficiente em defesa da ordem constitucional. Poderia então Goulart ter planejado um golpe de Estado com forças de comprovada incompetência e inépcia? De outro lado, como interpretar a total abulia do presidente que nenhuma resistência ofereceu aos sediciosos militares que vinham de Minas, mesmo sabendo que estes, naquele primeiro momento, não tinham pleno apoio da alta oficialidade? Preferiu a capitulação do exílio, sob o pretexto de não desejar testemunhar a uma guerra civil entre seu povo. Político com tal perfil psicológico e hesitação política poderia, dias antes, estar envolvido na articulação de um golpe de Estado?
Mas, além de Goulart, alguns setores das esquerdas também estariam planejando um golpe. Para alguns dos autores citados, Brizola, chefe nacional dos malafamados Grupos dos Onze, também conspirava contra a democracia.
Quais então as provas? Ei-las: os longos discursos de Brizola transmitidos pela Rádio Mayrink Veiga, no Rio de Janeiro, e seus artigos no jornal Panfleto. Neles, o deputado federal verberava em defesa das reformas, atacava os reacionários da UDN e do PSD e incentivava a organização dos Grupos dos Onze[xxii]. “Prova” também do golpismo teria sido o inflamado discurso de Brizola no comício do dia 13 de março quando apelou para a “derrogação do Congresso” e para a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte; com composição majoritariamente popular, o novo Congresso deveria elaborar uma nova Carta que viabilizaria reformas de base em profundidade.
Para o historiador Jorge Ferreira, a liderança de Brizola sintetizaria a visão e a atuação não-democrática do conjunto das esquerdas no pré-64. “Se ele era radical, sectário, intolerante, fazia pregações revolucionárias e defendia a ruptura institucional, era porque as esquerdas eram igualmente radicais, sectárias, intolerantes, pregavam a revolução (sic) e defendiam a ruptura institucional”[xxiii].
As Ligas Camponesas também fazem parte do suposto roteiro golpista. Afinal, os camponeses em suas marchas, nas manifestações de rua, em comícios, em reuniões, no plenário do Congresso nacional bem como em seus panfletos e faixas não brandiam ameaçadoras palavras de ordem como “Reforma agrária, na lei ou na marra!”? Sabemos que após as ocupações de latifúndios improdutivos, os jornais e as revistas da época alardeavam em suas manchetes que uma “guerra camponesa” estava em curso no NE brasileiro[xxiv].
No mesmo roteiro golpista são mencionadas ainda as inúmeras manifestações de insubordinação dos cabos, sargentos e marinheiros cujas lideranças radicalizavam seus discursos na defesa das reformas e contestavam seus comandantes a quem denominavam, invariavelmente, de gorilas[xxv].
Seria preciso lembrar que os Grupos dos Onze tinham uma frágil organização, eram diminutos e destituídos de qualquer poder de fogo? Não seria ocioso recordar que essa incipiente organização era minoritária dentro do conjunto das esquerdas, além de sua pequena representatividade política no pré-64? Semelhantemente aos Grupos dos Onze, as Ligas Camponesas eram dotadas de quadros precários e de recursos financeiros reduzidos para suas atividades e mobilizações políticas[xxvi].
Como o golpe de 1964 amplamente evidenciou, nem as Ligas nem os Grupos dos Onze foram capazes de explodir um único rojão contra os sediciosos. De outro lado, as candentes ameaças de Julião e as “pregações revolucionárias” de Brizola revelaram, na prática, ser autênticas bravatas ou meros “fogos de artifício”, sem nenhuma eficácia em termos de arregimentação e organização política dos setores populares.
No entanto, é o PCB que recebe, de forma concentrada, as críticas ao golpismo das esquerdas. Em duas ocasiões, às vésperas do golpe, o secretário-geral do PCB, Luis Carlos Prestes, teria afirmado que as forças de direita teriam as cabeças cortadas, caso ousassem desfechar o golpe… É também lembrado que, num programa de TV em São Paulo, no início de 1964, Prestes teria apoiado a proposta de uma Constituinte, a ser convocada antes da eleição presidencial prevista para 1965.
Sobre as cabeças cortadas, há de se convir que a expressão foi utilizada num contexto claramente defensivista. A partir de fins de 1963, o golpe estava nas manchetes dos jornais e em todas as conversas políticas. A direita não apenas conclamava ao golpe (no rádio, na TV, nos jornais de grande circulação) como também agia de forma truculenta, impedindo manifestações e coagindo publicamente lideranças nacionalistas e de esquerda. Diante de uma iminente ameaça golpista, era compreensível que um líder político a repudiasse em seu discurso. No entanto, a metáfora de Prestes, formulada num contexto político de ânimos exaltados e acirrados, foi inapropriada e exagerada. Assim, como Brizola e Julião, o líder comunista, no calor da hora, também produziu as suas bravatas políticas.
Em relação ao segundo ponto, não se pode senão concordar com a historiadora Marly Vianna quando pondera, no artigo mencionado anteriormente, que “a convocação de uma Constituinte, que implica amplíssima mobilização política nacional e eleições mais gerais, pode ser vista como um equívoco naquele momento, mas é impossível identificar golpismo nela”.
Um golpe de Estado se impõe com palavras, mas não apenas com elas. Frequentemente, tropas nas ruas e armas pesadas de combate também são requeridas para que ações golpistas sejam bem-sucedidas. Podemos ainda acrescentar: recursos financeiros, extensa contra-propaganda pela mídia, apoio político internacional etc. também podem ser decisivos para a derrubada de regimes constitucionais.
Afora as palavras, quais outros recursos – não apenas simbólicos, mas materiais – detinham as esquerdas? Não seria o caso de observar que, em certa medida, os equívocos e o fracasso das esquerdas residiram exatamente no excesso de palavras e nos abusos retóricos dos discursos de suas lideranças?
As críticas a Prestes e ao PCB também questionam a defesa da proposta de reforma constitucional visando instituir o direito à reeleição do Presidente da República.
Na plena vigência de um mandato presidencial, a proposta de emenda constitucional certamente tinha uma dimensão casuística. Acreditava-se que, reeleito, Goulart teria mais chances de aprovar as reformas de base contestadas e bloqueadas no Congresso pelo bloco conservador. Mas, aqui também, evidenciava-se a inconveniência política da iniciativa[xxvii].Tinha ela a condenação frontal da maioria dos partidos políticos e de importantes lideranças nacionais que eram postulantes à sucessão presidencial de 1965 – entre elas, Juscelino Kubitschek, Miguel Arraes e Carlos Lacerda.
No entanto, seria razoável denominar de golpista uma proposta que – para ser aprovada pelo Congresso nacional[xxviii] – exigia quorum qualificado? Antes de ir ao plenário, o projeto de emenda constitucional deveria ter uma longa tramitação no parlamento ao mesmo tempo em que seria intensamente debatido (e certamente contestado) pela chamada sociedade civil. Novamente a questão se colocaria: as instituições são golpeadas quando uma proposta política – mesmo que seja irrazoável e inoportuna – é formulada no debate político?
Esclareça-se ainda que os comunistas, em documento oficial do PCB difundido às vésperas do golpe, não sustentaram a tese da emenda pela reeleição do Presidente da República. Nas “Teses para Discussão”, que deviam definir e orientar a linha política do partido nos meses seguintes, nenhuma linha foi dedicada ao tema. Se Prestes apoiou a tese da emenda da reeleição, impõe-se registrar que, oficialmente, o PCB não endossou a controvertida proposta[xxix].
Os verdadeiros golpistas e suas razões
Contrariamente às interpretações acima, é possível sustentar que o Golpe de 1964 constituiu o coroamento das iniciativas de setores políticos e militares que, desde 1950[xxx], se opunham, de forma sistemática, à consolidação e ao alargamento da democracia política no Brasil; no curto período do mandato presidencialista de Goulart, estes setores passam a questionar radicalmente a realização das chamadas reformas de base e de medidas que afetavam o capital estrangeiro. Na visão dos protagonistas do golpe, a crescente mobilização política e o avanço da consciência ideológica dos setores populares e dos trabalhadores, que se acentuava na conjuntura, poderiam implicar o questionamento do sistema político e da ordem econômico e social que, a rigor, deveriam permanecer sob o estrito controle e domínio das classes possuidoras e proprietárias[xxxi].
O golpe de Estado não foi um raio em céu azul… Ao longo de décadas, foi sendo urdido pelas forças liberais e conservadoras (as chamadas “vivandeiras de quartel”) e setores “duros” das Forças Armadas. Entre outros fatores e motivações, estas forças se identificavam pelo caráter antipopular de suas convicções (contrários a uma democracia com maior e ativa participação popular), pelo anti-reformismo social, pela inconteste aceitação da supremacia econômica, militar e ideológica do imperialismo norte-americano, pelo radical anticomunismo etc.
Não se pode contestar que os setores nacionalistas e de esquerda – PCB/ Prestes, Brizola/Grupo dos Onze, as Ligas Camponesas, o CGT, a Frente Parlamentar Nacionalista, o Movimento dos cabos e subalternos das Forças Armadas, a UNE etc. – e o presidente da República, João Goulart[xxxii], têm parcelas de responsabilidades no agravamento e radicalização do processo político que culminou no golpe de Estado.
Num momento de extrema polarização do cenário político, em que a direita defendia abertamente a derrubada do governo constitucional, os grupos de esquerda foram incapazes de construir acordos políticos e alianças sociais com setores progressistas e não-golpistas. A tentativa quase in extremis de Goulart, no início de 1964, de constituir a chamada Frente Ampla (liderada pelo ministro progressista San Thiago Dantas) foi minada por radicalismos de todos os lados e matizes. A chamada “política de conciliação” era intensamente condenada pelas esquerdas, desgastando e fragilizando ainda mais o governo, hostilmente repudiado pelas forças conservadoras e reacionárias.
Habituando-se e acomodando-se às ante-salas do poder, as lideranças de esquerda foram ineficazes no trabalho de organização e preparação dos setores populares e trabalhadores na luta pela resistência ao golpe que, desde fins de 1963, se vislumbrava no horizonte. Abusando da retórica revolucionária e de palavras de ordem radicais, estas lideranças, ao contrário, contribuíram para mobilizar e unificar a direita civil e militar. A facilidade encontrada pelos golpistas na deposição de Goulart – surpreendendo civis e militares brasileiros e os órgãos de inteligência do governo norte-americano – revelou de forma meridiana a fragilidade política das esquerdas. Em certa medida, o esquerdismo teve papel importante na contundente e desmoralizante derrota dos setores progressistas. Mas, do ponto de vista teórico e político, é inaceitável confundir esquerdismo com golpismo.
Entendo que também é abusivo e inaceitável que sejam niveladas as responsabilidades políticas pelo golpe de 1964. Afirmar que setores das esquerdas ou Goulart tinham intenções ou práticas golpistas – apenas baseados nas palavras estridentes e discursos eloqüentes dessas lideranças –, em nada contribui para o conhecimento deste complexo e atribulado período da história social e política brasileira.
Como mostramos anteriormente, os autores citados acabam confluindo com a tese de Leandro Konder, para quem “a reação contra o golpismo do campo da esquerda resultou no golpe da direita”.Tal conclusão significa dar razão aos ideólogos da direita que não se cansam de repetir que a “Revolução de 1964” nada mais foi do que um contragolpe. Ou seja, a fim de evitarem o “golpe” que estava sendo organizado pelas esquerdas (ou por Goulart), os militares – compelidos pela “sociedade civil” – contragolpearam, defensivamente, em defesa da democracia ameaçada[xxxiii].
A historiografia e a ciência política críticas no Brasil têm documentado, de forma consistente, a ação política e ideológica de setores civis e “duros” das Forças Armadas – apoiados pelos serviços de inteligência do governo norte-americano – no planejamento e consecução do golpe de 1964.
No entanto, nossos “revisionistas”, sem o apoio de fontes documentais, apenas especulam e dão asas à imaginação. Interpretam as freqüentes bravatas, brandidas pelas lideranças de esquerdas, como inequívocas senhas anunciando o assalto final ao poder. Por detrás das bandeiras encarnadas dos trabalhadores, das foices empunhadas pelas Ligas Camponesas, dos incendiários discursos dos cabos e marinheiros e, também, por detrás das canções, peças teatrais e filmes “radicais” exibidos pelas caravanas estudantis da UNE e artistas engajados, enxergam inquestionáveis atos pré-insurrecionais.
Como no relato mítico, confundiram a nuvem por Juno. Mas, estas especulações não são inocentes.
A afirmação do golpismo das esquerdas tem efeitos ideológicos precisos; de imediato, ajuda a reforçar as versões difundidas pelos apologetas do golpe político- militar de 1964. Mais do que isso: contribui para legitimar a ação golpista vitoriosa ou, na melhor das hipóteses, atenua as responsabilidades dos militares e da direita civil pela supressão da democracia política em 1964. A direita golpista não pode senão aplaudir esta “revisão” historiográfica proposta por alguns intelectuais progressistas e de esquerda.
Se não deixa de ser auspicioso perceber sinais de autocrítica procedentes das Forças Armadas, ironicamente, a propalada tese do golpismo das esquerdas caminha na (exata) direção oposta: contribui para municiar as falácias reacionárias. Enquanto setores militares, por ocasião dos 40 anos do golpe, recuam e reconhecem a derrota ideológica que sofreram, os autores progressistas cedem terreno ao reintroduzirem, pela porta dos fundos, teses e significações que os setores conservadores forjaram para justificar o golpe e o regime militar.
Que os ideólogos da direita civil e militar reiterem falácias e mistificações, é compreensível. Inaceitável é que intelectuais progressistas ou de esquerda dêem seu aval a evidentes falsificações da história[xxxiv].
Como ensinou um implacável crítico das ideologias, estes intérpretes, talvez, “não sabem, mas o fazem”.
Democracia e/ou Reformas?
Para alguns destes acadêmicos, a “radicalização” das demandas sociais e econômicas – sintetizadas na luta pelas reformas de base (agrária, bancária, fiscal, universitária etc.), na nacionalização de empresas de serviço público, no controle do capital estrangeiro (investimentos, remessa de lucros) etc., – acabaram comprometendo a democracia política vigente no país. Se os movimentos sociais, liderados pelas esquerdas, fossem menos maximalistas e aceitassem reformas mais moderadas – que, para esses autores, certamente seriam aprovadas pelos setores não-reacionários do Congresso[xxxv] –, a direita não teria perpetrado o golpe. A sociedade brasileira, concluem, teria se livrado da amarga experiência da ditadura militar.
Pesquisadores que publicaram textos decisivos sobre a conjuntura de 1964, entre eles, R. Dreifuss, Moniz Bandeira, Werneck Sodré, J. Gorender e outros demonstraram que a hipótese não se sustenta em virtude do repúdio da grande burguesia nacional e do empresariado multinacional, de setores das Forças Armadas e do governo norte-americano (disposto a evitar a qualquer custo uma “nova e grandiosa Cuba abaixo do Equador”) às tentativas reformistas, ao “caos econômico” e à crescente mobilização social durante o governo Goulart. A mais vigorosa oposição transcendia o Congresso, tendo lugar no seio da chamada sociedade civil brasileira. Constituindo-se em apenas uma das esferas em que se processava a luta política e ideológica no período, não seria o Congresso – onde se supõe que as reformas “moderadas” poderiam ser acordadas – que inviabilizaria o golpe, em marcha a partir de 1961, contra o “governo reformista” de Goulart.
Um segundo comentário tem a ver com a questão da relação entre democracia e reformas implícita nas posições destes acadêmicos. Para alguns destes, não deixavam de ser legítimas as reivindicações de reformas sociais e econômicas; porém, na compreensão deles, as mudanças deveriam estar condicionadas à preservação das instituições democráticas. Reformas deviam ser postuladas, mas não aquelas que, pela sua radicalidade, poderiam ameaçar o ordenamento democrático instituído. Nessa ótica, as lutas sociais – que sempre são lutas de classes – não devem ser exacerbadas se quisermos manter a democracia política. Como se viu anteriormente, para estes autores, a nãomoderação ou o maximalismo na luta pelas reformas resultou no golpe militar[xxxvi].
A posição teórico-política desses autores implica, assim, conceber, de forma reticente e moderada, a luta por reformas substantivas na ordem capitalista. Por conseguinte, fica distante do horizonte político e estratégico desses acadêmicos a possibilidade de se construir uma democracia que – mediante uma ampla participação política dos trabalhadores e dos setores populares – enseje significativas conquistas sociais para as classes dominadas.
Na minha interpretação, não serão reformas moderadas que permitirão transcender as dimensões formalistas que caracterizam, em profundidade, os regimes democráticos no capitalismo dependente e periférico. Historicamente, sabemos que são as lutas políticas, sem tréguas, dos trabalhadores e das camadas populares que podem produzir significativos benefícios materiais e culturais para as classes dominadas. Assim, questionar as reformas “radicais” em nome da preservação das “instituições democráticas” implica, objetivamente, justificar as democracias realmente existentes; numa palavra, significa legitimar as democracias liberais excludentes em que as liberdades e os direitos políticos têm reduzida eficácia no sentido de atenuar as profundas desigualdades sociais e as distintas opressões extra-econômicas (de gênero, raça, sexuais etc.) existentes na sociedade. Diferentemente, da chamada “esquerda democrática”, os socialistas não deixam de reconhecer o valor das instituições representativas de natureza liberal, no entanto recusam-se a identificar a luta pela democracia – que, no limite, implicaria o “poder do povo” – com a defesa da democracia liberal.
De outro lado, verifica-se que os pressupostos teórico-políticos desses revisionistas os levam a conceber a relação entre reformas e democracia de uma forma disjuntiva. Negam, assim, que possa existir uma relação de complementaridade/reciprocidade entre democracia política e mudanças sociais e econômicas. Ou seja, a democracia política ampliada e de massas é condição importante para as reformas em profundidade das estruturas sociais ao mesmo tempo em que as instituições democráticas apenas adquirem alguma consistência quando são implementadas mudanças sociais e econômicas relevantes para as classes dominadas.
É nesta direção que atuam os socialistas. Não negam nem subestimam o significado das instituições representativas mesmo conhecendo seus limites na ordem capitalista. Os socialistas se empenham para o alargamento destas instituições e lutam para que as liberdades políticas não tenham, para o conjunto das classes exploradas, um valor abstrato ou meramente formal. Mais do que isso: os socialistas afirmam que a ampliação das liberdades políticas e dos direitos sociais é recurso indispensável na batalha pela hegemonia e na luta pela superação do Estado e sociedade capitalistas.
Contudo, se admitirmos os pressupostos teóricos e políticos da chamada “esquerda democrática”, não somos reintroduzidos à clássica questão do socialismo: Reforma ou Revolução; retrocedemos, sim, ao dilema Reformas ou Democracia. Na minha interpretação, com suas formulações, estes acadêmicos recuam ideologicamente na medida em que suas formulações se enquadram dentro dos marcos e limites da política liberal-democrática. Além de não comprovarem a tese do golpismo, imputam às esquerdas uma cultura política não-democrática pelo fato destas serem críticas da democracia liberal.
Na conjuntura de 1964, as esquerdas foram derrotadas politicamente; sem complacência, seus erros e equívocos devem ser apontados e questionados. No entanto, ao contrário do julgamento desses revisionistas, não devem elas ser censuradas pela decisiva influência que tiveram junto aos movimentos sociais de trabalhadores (operários e camponeses), de subalternos das Forças Armadas, de estudantes, de intelectuais, de artistas etc. Nesses anos que precederam a ditadura militar, como lembrou um ensaísta, o país começava a ficar “irreconhecivelmente inteligente” em virtude do intenso debate das idéias, do confronto de distintos projetos políticoideológicos e da participação de novos protagonistas na vida política e cultural[xxxvii]. Nos tempos de Goulart, setores de esquerda contribuíram para um inegável avanço e intensificação das lutas sociais no Brasil, constituindo-se a conjuntura de 1964 num momento singular em toda nossa história republicana.
De forma sintética e para concluir, pode-se afirmar que estas lutas objetivavam a ampliação da democracia política e a realização de profundas reformas da ordem capitalista no Brasil[xxxviii]. Como o crítico acima ainda observou, tratava- se de uma “pré-revolução desarmada” embora, acrescentamos, a palavra Revolução também fosse exaltada (e desejada) em discursos e em versos generosos.
As razões da derrocada das esquerdas – em termos de seus objetivos políticos e estratégicos – devem ser discutidas e aprofundadas. De uma perspectiva crítica, é possível sempre aprender com os erros cometidos. Mas, na minha leitura, não deveriam as esquerdas ser criticadas pelo inegável mérito que tiveram: ao contrário do que ocorre hoje com partidos e setores intelectuais progressistas, na luta ideológica do pré-64, setores atuantes das esquerdas não estavam cativos do discurso da democracia liberal[xxxix].
*Caio Navarro de Toledo é professor aposentado da Unicamp e membro do comitê editorial do site marxismo21. É organizador, entre outros livros, de 1964: Visões críticas do golpe (Unicamp).
Artigo publicado originalmente na revista Crítica Marxista, no. 19, 2004.
Notas
[i] Dez anos atrás, raros foram os debates em torno dos “30 anos do golpe”. Em função de seus resultados, objetivados em livros, dois eventos podem ser mencionados: um realizado na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) – sete mesas-redondas, exposição iconográfica, atividades artísticas; o segundo, realizado na cidade do Rio de Janeiro.Em 1997, a Editora da Unicamp publicou o livro C.N. de Toledo (Org.), 1964: visões críticas do golpe. Democracia e reformas no populismo que reuniu os principais trabalhos apresentados durante os cinco dias de evento. Em 1995, publicou-se Eduardo Raposo (Org.), 1964 – 30 anos depois, Editora Agir, RJ, coletânea de textos debatidos no Seminário realizado em fins de março de 1994, na PUC-RJ e no Cine Clube Estação Botafogo.
[ii] Por constituir um amplo balanço e avaliação dos estudos sobre o golpe de 1964, deve ser destacado o livro do historiador Carlos Fico, Além do golpe. Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar, Rio de Janeiro, Ed. Record, 2004. De forma didática, o autor discute as principais interpretações sobre o golpe e o regime militar. Na última parte desse trabalho, o leitor tem acesso a vários documentos relevantes (discursos, manifestos, projetos, leis, atos institucionais etc.) para o conhecimento da recente história política brasileira.
[iii] O colega de editoria, Armando Boito Jr., incentivou-me a escrever este texto. Dispensável dizer que as incorreções e os equívocos de interpretação são de minha inteira responsabilidade.
[iv] O singelo título da Ordem do Dia é “31 de março”, Informex, no 11, de 25 março de 2004. In: www.exercito.org.br. Como epígrafe, o verso da canção do soldado: “A paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor”.
[v] Numa direção semelhante, o Ministro da Defesa, José Viegas Filho, publicou um artigo no dia 31 de março de 2004. Em “Forças Armadas e plenitude democrática” (Folha de S. Paulo, p. 3) em nenhum momento se menciona a ação vitoriosa em abril de 1964. O tema central do texto é a valorização da democracia; no mesmo espírito evocado pelo Comandante do Exército, apela-se para a compreensão e entendimento nacionais. Nos dois textos, também uma significativa palavra em comum: ressentimento. Pede-se – a fim de se alcançar “um país mais justo” – que não se façam “sangrar feridas do passado”. Deixar de lado ressentimentos, no texto do Ministro da Defesa significa, muito concretamente, obstar as investigações sobre os mortos e desaparecidos durante a ditadura militar. Esta parece ser a “cláusula pétrea” imposta pelas Forças Armadas que, até o presente, o governo Lula da Silva aceita sem nenhum questionamento.
[vi] Três anos atrás, por ocasião do 31 de março de 2001, numa nota intitulada “A história que não se apaga nem se reescreve”, publicada no sítio do Exército, o estilo e a retórica eram outros: “No início de 1964 (…) agitadores infiltrados nas instituições legais realizavam um trabalho destrutivo das estruturas. Buscavam substituir as Forças Armadas por milícias. Disseminavam a anarquia. Virtudes, autoridade legal e consciência nacional claudicantes. Foi preciso coragem para defendê-las e preservá-las (…) Vitoriosa, a Revolução de 1964 nos assegurou perspectivas mais nítidas de convivência e a tolerância com limites. Ela nos passa a silente mensagem de que, a qualquer tempo, atentos e preparados, estaremos prontos para a defesa da democracia”. Assim, passados 37 anos, durante o segundo mandato de FHC – cujo governo alardeou ter contribuído para a consolidação da democracia no país –, a elite militar fazia questão de reiterar seu compromisso com a “defesa da democracia”. Sempre alertas, as Forças Armadas, se as circunstâncias exigissem, novamente pegariam em armas.
[vii] “Fica cada dia mais claro que, naquela data, a nação brasileira escolheu a avenida certa da história, dizendo definitivamente não à proposta sociomarxista, verdadeira inspiradora e orientadora das ‘reformas de base’ que, naquela oportunidade, as forças do populismo e do anarcossindicalismo, dominantes no governo Goulart, pretendiam impor ao país. Queriam impor à nação, via intimidação do parlamento, pressão das massas sindicalizadas e dissociação das Forças Armadas, um tipo de Estado que a nação não pedia nem queria; ao contrário, repudiava, isto é, o Estado marxista da ditadura do proletariado”. “Revolução de 1964”, artigo originalmente publicado em Correio Braziliense de 29/03/ 2004. Fonte: www.exercito.org.br
[viii] A este respeito, é exemplar que O Estado de S. Paulo e O Globo – jornais que melhor representam o conservadorismo civil e que conspiraram abertamente contra Goulart –, abriram extenso espaço a opiniões críticas ao “Golpe civil-militar”.
[ix] Num momento de lucidez, o ex-ditador E. Geisel afirmou: “O que houve em 1964 não foi uma Revolução” (apud Elio Gaspari, A ditadura envergonhada, Cia.das Letras, São Paulo, p. 138). Hoje, diante das dificuldades em sustentar a pertinência da noção de “Revolução”, os ideólogos civis e militares contra-atacam. Para eles, em 1964 houve um contra-golpe ou um golpe preventivo. É o que afirmam o militar-escritor Jarbas Passarinho e o militar-politólogo Meira Mattos, respectivamente, em “O contra-golpe de 1964”, O Globo, 30/03/2004 e “O 31 de março de 1964”, Folha de S. Paulo, 31/03/2004. Por sua vez, o jornalista Ruy Mesquita, da família proprietária de O Estado de S. Paulo, afirma: (1964, CNT) “na realidade não foi uma revolução, foi uma contra-revolução; não foi um golpe, foi um contragolpe”. Caderno especial “40 anos esta noite”, O Estado de S. Paulo, 31 de março, 2004.
[x] Sobre a obra de Elio Gaspari, acolhida de forma entusiasmada pela mídia brasileira, talvez uma de suas maiores virtudes resida no seu inequívoco esclarecimento sobre a prática sistemática da tortura durante todo o regime militar. A expressão ditadura, em todos os títulos, contraria, assim, uma tendência acadêmica que prefere a ambígua e imprecisa denominação de “regime autoritário” para caracterizar os governos militares. No livro de Fico, acima mencionado, uma observação sobre A ditadura escancarada deve ser sublinhada: “Prevalece uma leitura militarista, sendo o golpe reduzido aos episódios da conspiração e da ação militares. Surpreende também que não haja nenhum diálogo com as leituras que privilegiam outros agentes como os empresários ou o sistema político. É intrigante a ausência das revelações de Dreifuss”, p. 56, op. cit.
[xi] Talvez uma decisiva comprovação dessa derrota esteja no atual comportamento editorial da Rede Globo de Televisão, o mais eficiente aparelho ideológico do regime militar e, ainda hoje, o mais importante veículo de comunicação do país. Embora seu jornalismo – como o do conjunto da grande imprensa brasileira – nunca designe os ex-presidentes de ditadores, o período militar não é mais louvado em suas reportagens históricas. Digno de menção são as telenovelas e as minisséries da Rede. Quando tratam do período militar, estas produções, invariavelmente são críticas da repressão militar. A minissérie “Anos rebeldes”, exibida em 1992, chegou a exaltar a ação “heróica” dos estudantes, de lideranças políticas e de intelectuais que, nos chamados “anos de chumbo”, lutaram pela redemocratização do país. Nessa ocasião, o líder do governo Collor, o senador conservador Jorge Bornhausen (PFL), contrariado, afirmou: “Roberto Marinho acaba de dar um tiro no próprio pé”. Foi uma metáfora, pois a Rede Globo não deixou de tirar proveitos materiais e simbólicos com o grande sucesso de público alcançado pela minissérie. Na ficção literária, na música e no cinema também são as obras críticas ao regime militar que são bem-sucedidas. Em algum plano da criação artística ou cultural, existiria alguma obra, de comprovado valor, que apóie o regime militar?
[xii] Conhecidos articulistas que têm espaço garantido na grande imprensa também investem furiosamente contra os complôs – de “orientação filo-comunista” – supostamente existentes nas redações dos jornais e revistas semanais. Assim, aprendemos com eles, que, no Brasil, a mídia segue padrões capitalistas, mas os chefes de redação e os trabalhadores-jornalistas são insidiosos esquerdistas pondo em risco a propriedade privada de seus patrões.
[xiii] In: www.exercito.org.br Nos textos combativos destes ideólogos militares atribui-se ao italiano Antonio Gramsci – não mais ao “pérfido” russo Lênin – a responsabilidade intelectual pela criação das categorias sociomarxistas que resultariam na mistificação da história.
[xiv] Entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, 13/03/2004.
[xv] “O caldeirão da turbulência”, Folha de S. Paulo, 01/04/2004, p. 3.
[xvi] Jorge Ferreira, “O comício revisto”, in: Nossa História, ano I, no 5, março de 2004, Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional. O artigo é uma súmula de um outro trabalho mais extenso, publicado em Jorge Ferreira e Lucília de Almeida Delgado (Orgs.). O Brasil republicano, o tempo da experiência democrática, 3a ed. Rio de Janeiro. Ed. Civilização Brasileira, 2003.
[xvii] “O governo Goulart e o golpe civil-militar de 1964”. In: Op. cit, p. 381.
[xviii] L. Konder, “Vaca fardada”. In: Margem esquerda. Estudos marxistas, no 3, maio 2004. Nesta nova acepção do termo, golpismo passa a existir quando uma proposta – tida como inadequada e inoportuna pela “agenda política” oficial – for apresentada ao debate. Se, de antemão, o consenso (ou o bom senso) dominante condena a proposta, ficamos então sabendo que ela não é “democrática”; ou melhor, é “golpista”. Assim, a proposta de “fora Collor”, lançada inicialmente na cena política por uma expressiva minoria, não poderia senão ser denominada de “golpista” na medida em que contrariava o consenso então existente nos meios políticos. Um outro acadêmico, coincidente com as formulações de Konder, sintetizou o revisionismo em curso: “Na conjuntura que precedeu ao golpe, as lideranças políticas de esquerda e de direita radicalizavam cada vez mais seu discurso dando uma clara demonstração de que tinham uma baixa convicção na democracia existente no país. Ambos os lados, de fato, conspiravam contra a democracia representativa e preparavam um golpe contra suas instituições: a direita para impedir o avanço e a consolidação das reformas; a esquerda para eliminar os obstáculos que se antepunham a esse processo (…) o golpismo, concepção e prática já arraigada na direita brasileira se combinava dramaticamente com a ausência de tradição democrática da esquerda, levando a uma confrontação que seria fatal para a democracia.” Alberto Aggio, in: Aggio, A. et alii – Política e sociedade no Brasil (1930-1964), Ed. Annablume, São Paulo, 2002.
[xix] Outros acadêmicos, por um outro ângulo, também não pouparam as esquerdas. Contestando as opiniões dos revisionistas, a historiadora Marly Vianna observou que, por ocasião de um recente debate acadêmico, um estudioso, ao “predizer o passado”, levantou a hipótese de que “a repressão seria grande”, caso a esquerda fosse vitoriosa em 1964… M. Vianna, “40 anos depois”, in: Folha de S. Paulo, 22/04/2004, p. 3. Na mesma direção de críticas às esquerdas, o sociólogo Leôncio Martins Rodrigues sustentou: “(…) venceu a direita e o golpe representou um terrível retrocesso; se vencesse a esquerda, haveria outro retrocesso, talvez pior, aprofundando o modelo populista”. O Estado de S. Paulo, caderno especial “40 anos esta noite”, 31 de março de 2004, p. 1. Estas formulações sobre os “perigos” representados pelos setores de esquerda, caso alcançassem o poder, nada mais fazem do que retomar, 40 anos depois, os “argumentos” da direita golpista.
[xx] Em outubro de 1963, pressionado pela alta hierarquia militar, Goulart solicitou ao Congresso a aprovação de um decreto que impunha ao país estado de sítio. A grave “comoção interna” – que justificava o pedido – se referia a uma insultuosa e agressiva entrevista de Carlos Lacerda a um jornal norte-americano onde pregou abertamente o golpe de Estado e atacou os ministros militares. Referia-se também às freqüentes greves operárias e atos de insubordinação dos subalternos das Forças Armadas. Direita e esquerda, desconfiando das intenções de Goulart, negaram apoio à proposta. Duas observações: Goulart, valendo-se de dispositivo constitucional, que previa a decretação da medida de força, enviou a proposta à aprovação do Congresso. Não tendo sido bem-sucedido, voltou atrás, retirando o pedido. Um chefe de Estado, determinado a dar um golpe – e apoiado pelos comandantes militares –, aceitaria passivamente a negativa do Congresso sem reagir de forma enérgica? Devo estas observações a Duarte Pereira.
[xxi] O historiador M. Villa teve o livro Jango. Um perfil (1945-1964) publicado nos dias em que o golpe completava 40 anos. Na obra, em nenhum momento é examinada, com rigor e critério, a tese do “golpismo de Goulart” ou das esquerdas, anunciada na entrevista ao jornal. Apenas vagas alusões sobre os propósitos continuistas de Goulart são feitas no livro.Na p. 190, como também no artigo do cel. Passarinho supracitado, somos informados de que os brizolistas temiam um golpe vindo de Jango…Na p. 191, afirma-se que o atuante embaixador norte-americano (Lincoln Gordon), num memorando a Washington, relatou que Goulart estava “envolvido numa campanha para conseguir poderes ditatoriais”. Duas “provas”, pois, nada convincentes. Fora isto, nada mais é oferecido ao leitor acerca do golpismo de Jango – nas palavras do autor, um “homem de sorte” ou, ainda, político “vazio de realizações e de idéias”. Assim, nas 270 páginas do livro, nenhuma prova consistente sobre golpismo é apresentada; no entanto, na breve entrevista ao jornal, o historiador preferiu polemizar ao dar asas à sua imaginação. Também o cel. Passarinho, no artigo em O Globo, comparece com sua versão sobre o golpismo de Goulart; para ele, os Grupos dos Onze, às vésperas do dia 31 de março, teriam concluído que “o golpe não vem da direita, mas de Jango”. O militar, não se digna também a nos informar qual a sua fonte documental. Em seu livro, Villa confirma a versão do Coronel (Jango, p. 191).
[xxii] Em Jango, Villa, na p. 191, especula também sobre o golpismo do cunhado de Goulart, Leonel Brizola: “Esperavam (os brizolistas, CNT) formar 100 mil ‘Grupo dos Onze’ no prazo de seis meses e, aí, sim, poder ter condições de também articular um golpe com apoio dos sargentos e marinheiros”. Em que arquivo público ou privado teria sido recolhida a privilegiada informação do historiador?
[xxiii] É desmesurada a interpretação do autor sobre a liderança de Brizola no interior das esquerdas; são bem conhecidas as fundas divergências que ele – figura proeminente no movimento nacionalista – mantinha com a linha de atuação da principal organização de esquerda (PCB) no período. Se Prestes não falava por toda a esquerda, tampouco Brizola a representaria. Na compreensão de Ferreira, as “pregações revolucionárias” de Brizola parecem ser resumir às suas estridentes palavras no Congresso, nos palanques e nos microfones da Mayrink Veiga (cujas ondas radiofônicas tinham alcance apenas regional). Por ocasião da recente morte de Brizola, lembrou o jornalista Jânio de Freitas que poucos políticos, na história recente do país, tiveram sua vida tão investigada. Nos arquivos militares existiriam documentos, ainda não revelados, que comprovariam o golpismo de Brizola?
[xxiv] São lembrados alguns eloqüentes discursos de Julião. Na mesma direção de outros, proferidos em praças públicas, no dia 31 de março de 1964, em pleno Congresso ameaçou: “ (…) resolvi freqüentar mais esta Casa, porque a minha no Nordeste já está arrumada. Se amanhã alguém tentar levantar os gorilas contra a Nação, já podemos dispor (…) de 500 mil camponeses para responder aos gorilas”. Apud M. de Nazareth Wanderley et alii. Reflexões sobre a agricultura brasileira.
[xxv] No comício do dia 13 de março, uma faixa se distinguia das demais pela sua radicalidade: “Forca para os gorilas!”
[xxvi] Cf. Moniz Bandeira, no prefácio à 7a edição de seu livro O governo João Goulart (Revan), observa que em 1962, “(…) militantes de Ligas Camponesas haviam sido presos, porque, aparentemente, faziam treinamento de guerrilha em uma fazenda no interior de Pernambuco”. Além de frágil e inconsistente, este experimento de preparação para a luta armada, não teve apoio nem qualquer seqüência na estratégia das esquerdas no pré-64. No juízo de Moniz Bandeira, “uma política aventureira e irresponsável, à qual os dirigentes do PCB se opuseram, por considerar que ela, objetivamente, adquiria o caráter de provocação”.
[xxvii] Como ponderou J. Gorender: “A ambição continuísta do chefe da Nação era particularmente incentivada pelos comunistas. Embora desprovidos de registro legal partidário no Tribunal Eleitoral, os comunistas constituíam, então, uma corrente de esquerda influente. Em repetidas manifestações, Luis Carlos Prestes defendeu o segundo mandato para Jango e propôs publicamente a iniciativa de emenda constitucional que o permitisse. Semelhante proposta esquentava ainda mais a temperatura já bastante acalorada do clima político”. “A sociedade dividida”, in: Revista Teoria & Debate, no 57, março/abril, Fundação Perseu Abramo, 2004.
[xxviii] Em tempos recentes, o Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional que favoreceu o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, no pleno exercício de seu mandato. As circunstâncias agora eram outras, mas o casuísmo não foi menor. Muitas foram as denúncias da oposição e da mídia sobre a corrupção envolvendo a votação da emenda constitucional; no entanto, alguém denominaria a aprovação da reeleição pelo Congresso nacional de “golpe contra a democracia”?
[xxix] As “Teses para discussão” foram publicadas no Suplemento especial de Novos Rumos, de 27/03 a 02/04/1964. Obviamente, o jornal não pode circular amplamente, pois foi apreendido pela repressão. Nas “Teses”, são propostas várias reformas constitucionais: p. ex., art. 217 (viabilizar a realização das reformas de base), art. 58 (reforma eleitoral) etc. No documento do PCB, as reformas constitucionais eram defendidas a fim de se “conquistar a ampliação da democracia e uma efetiva defesa da economia nacional e dos direitos dos trabalhadores”.
[xxx] Os fatos são bem conhecidos; citemos alguns deles: em 1950, conservadores e liberais questionam a posse de Vargas, eleito pelas regras da democracia liberal; em 1954, pressões de setores militares provocam a renúncia e o suicídio de Vargas; em 1955, nova tentativa de veto à posse de Juscelino Kubitschek; em 1961, o veto da Junta militar à posse de Goulart é seguido de um autêntico “golpe branco” (reforma da Constituição em contexto insurrecional) que impõe a toque de caixa o regime parlamentarista. Poderes são retirados daquele que – segundo as regras democráticas vigentes – deveria ser empossado como Presidente. Rigorosamente, o governo presidencialista de Goulart começa em janeiro de 1963, após a fragorosa derrota eleitoral do parlamentarismo.
[xxxi] Um desenvolvimento mais extenso desta tese se encontra em C.N Toledo, O governo Goulart e o golpe de 64, 19a impressão, São Paulo, Editora Brasiliense, 2004 e no artigo de livro organizado pelo autor (cf. nota 1).
[xxxii] Nos últimos dias de março, gestos e atitudes de Goulart – confrontando-se abertamente com a alta hierarquia militar e a direita – pareciam revelar, como interpretou Paulo Schilling, que o Presidente optava pelo suicídio político. De outro lado, como assinalou o prof. Antonio Carlos Peixoto, por ocasião de um debate recente na Unicamp, Goulart, após o Comício do dia 13, poderia ter atenuado as suspeitas sobre suas intenções continuistas caso declarasse publicamente que rejeitava a idéia da reeleição. Seu silêncio em nada o favoreceu naquela conjuntura onde os boatos fervilhavam e a contrapropaganda prosperava.
[xxxiii] No artigo citado, o cel. Passarinho afirma: “Nada mais havia a aguardar, senão o golpe preventivo ou contragolpe”. Por ocasião da morte de Brizola, o jornalista Clóvis Rossi, que jamais poderia ser taxado de “esquerdista”, não se deixou levar pelas teses difundidas pela imprensa liberal e conservadora. Questionando abertamente a falácia do contragolpe, ponderou: “O fato é que, nos tempos de Brizola, como hoje em dia, quem tem de provar que é democrática, na América Latina, é muito, muitíssimo, mais a direita do que a esquerda”.“Brizola e a democracia”, in: Folha de S. Paulo, 23/06/2004.
[xxxiv] Dos intelectuais de esquerda, não se pode senão exigir rigor e nenhuma complacência para com as “verdades” consagradas, inclusive no próprio campo da esquerda. Na luta teórica e ideológica, também não devem temer o confronto com as correntes que lhe são adversárias ou antagônicas. Não é aceitável, contudo, que deixem de questionar – como o debate sobre os 40 anos do Golpe revelou – os pressupostos ideológicos dos adversários. Admitir a tese de que as esquerdas, por princípio, não eram “democráticas” é certamente uma grave concessão ao pensamento da direita.
[xxxv] O que pensar do fato de que, passados 40 anos, a questão agrária não ter sido ainda resolvida no Brasil? Propostas de reformas agrárias não-radicais são, desde 1964, indefinidamente proteladas pelo Congresso Nacional. A esses autores caberia indagar: por que, então, uma reforma agrária – moderada que fosse – seria aprovada por um Congresso cujos setores majoritários, no pré-64, apoiavam o bloco econômico e político que lutava pela inviabilização do governo “reformista”?
[xxxvi] Os textos citados acima de Ferreira e Aggio ilustram este ponto. Neste sentido, estes acadêmicos coincidem com a autocrítica conservadora feita pelo PCB em 1966. Nas Teses para Discussão no VI Congresso, comenta Gorender: “As Teses rejeitaram o que houve de altamente positivo e relevante na atuação dos comunistas no pré-64: a luta pelas reformas de base e contra a política de conciliação de Jango (…) as Teses condenaram a reforma da Constituição e advogaram o congelamento das relações sociais e da situação política como remédio para evitar o golpe militar de direita”. J. Gorender. Combate nas trevas. 2a ed. São Paulo: Ática, 1987, p. 90. No juízo do autor, as Teses se constituíram numa autêntica capitulação reacionária.
[xxxvii] A expressão é de Roberto Schwarz, O pai de família e outros estudos. Num livro posterior, o autor retoma o ponto: “Não será exagero dizer que de lá para cá boa parte da melhor produção em cinema, teatro, música popular e ensaísmo social deveu o impulso à quebra meio prática e meio imaginária das barreiras de classe, esboçada naqueles anos, a qual demonstrou um incrível potencial de estímulo (…) hoje não é fácil explicar aos alunos a beleza e o sopro de renovação e justiça que na época se haviam associada à palavra democracia (e socialismo)”. Seqüências brasileiras. São Paulo: Cia. das Letras, 1999, p. 174.
[xxxviii] Além das reformas econômicas e sociais, as forças políticas progressistas defendiam uma ampliação da democracia liberal excludente: a extensão dos votos aos analfabetos e aos subalternos das Forças Armadas, a ampla liberdade partidária, a ampliação da liberdade de organização sindical (Direito de greve), a revogação da lei de Segurança Nacional, a eliminação de dispositivos jurídicos que afetavam as atividades das mulheres, o fim das discriminações religiosas e raciais etc. Sobre essas propostas, silenciam os revisionistas, que apenas enxergam posições “antidemocráticas” na cultura política de esquerda.
[xxxix] Para uma crítica da noção de democracia que orienta a chamada “esquerda democrática”, remeto o leitor a, entre outros, dois artigos publicados nesta revista. C. N. de Toledo,“A modernidade democrática das esquerdas. Adeus à revolução?”, in: Crítica Marxista, no 1, São Paulo, Brasiliense, 1994 e J. Quartim de Moraes, “Contra a canonização da democracia”, in: Crítica Marxista, no 12, São Paulo, Boitempo, 2002.