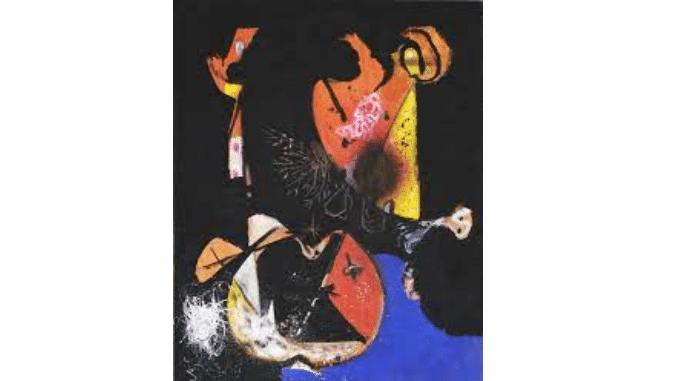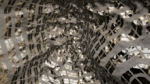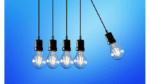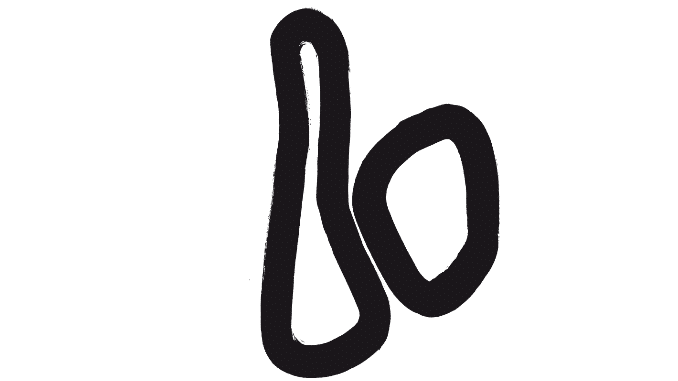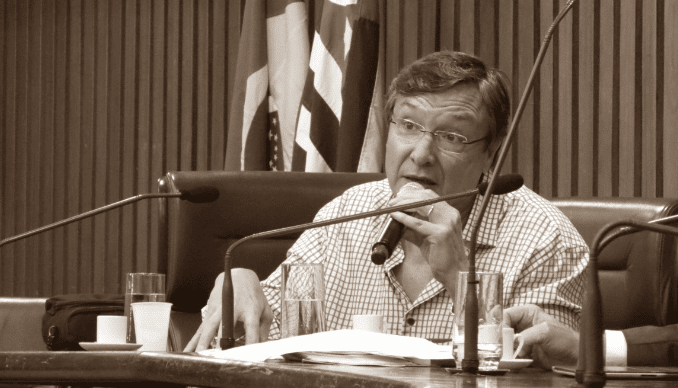Por EMERSON FREIRE*
Uma reflexão a partir do documentário dirigido por Jean-Marc Sroussi
Introdução
Seis prisioneiros sobreviventes do campo de detenção de Khiam, no sul do Líbano e à época ocupado por tropas israelenses, relatam para as câmeras de Joana Hadjithomas e Khalil Joreige o período de reclusão e torturas sofridas em minúsculas celas sem a mínima infraestrutura.
Na primeira parte do documentário Khiam (2000-2007), os recém ex-prisioneiros contam em detalhes o cotidiano do campo e suas estratégias de sobrevivência. Na segunda parte, oito anos após a retirada das tropas israelenses em maio de 2000 e consequente desmantelamento do campo, que se transformaria posteriormente em uma espécie de museu com fins turísticos, os autores do documentário reencontram os mesmos seis ex-prisioneiros que se sentem chocados ao perceber a divergência entre as imagens advindas de suas narrações e aquelas construídas em torno do campo a posteriori, com sua destruição total em 2006 durante o conflito Israel-Líbano.
No entanto, pequenos artefatos utilitários e/ou artísticos por eles fabricados, nas condições mais precárias, testemunham uma interessante relação que desaparece nos relatos oficiais, qual seja, a relação entre invenção, imagem, vida e política.
Esse ensaio pretende, a partir desse documentário apresentado junto aos objetos numa retrospectiva das obras dos artistas exibida no museu Jeu de Paume (Paris) em 2016 e à luz da concepção de tecnoestética em Simondon, refletir sobre essa relação entre invenção, imagem, vida e política na contemporaneidade, em que a percepção imagético-narrativa dos fatos parece cada vez mais construída e induzida, tornando-se um campo para resistência.
Uma janela-espelho: imagens da resistência
Da série de textos reunidos em Contemplação, de Franz Kafka, um deles intitulado A Janela da Rua, inicia-se da seguinte maneira:
Quem vive isolado e gostaria de vez em quando de estabelecer contato em algum lugar, quem quer ver, sem mais, um braço qualquer no qual possa se apoiar, levando em consideração as mudanças das horas do dia, das condições climáticas, das relações profissionais e coisas dessa natureza – esse não vai levar isso adiante por muito tempo sem uma janela de rua (Kafka, 1999, p. 34).
A condição de isolamento, um dos temas recorrentes nos escritos do autor, pede, mesmo nesse curto texto, o reconhecimento da hesitação constante entre um dentro e um fora da experiência humana, nem que seja por meio de uma janela para a rua.
No extremo isolamento de um campo de detenção, como o de Khiam, no sul do Líbano, tristemente conhecido pelas atrocidades ali cometidas, duas ex-prisioneiras também recorrem a uma janela, peculiar[1]: [Kifah Afifi] – “Quando se adentrava na célula, havia uma pequena janela, não de vidro, mas de plástico. Colocávamos sobre ela um lenço preto, era como um espelho, você podia fazer o que quisesse”. [Sonya Beydoun] – “As garotas faziam as sobrancelhas com um fio diante desse espelho. Aprendemos a depilar as sobrancelhas, as pernas, com um fio. Era ainda melhor do que qualquer outra coisa”.
Uma janela-espelho que se forma em uma situação limite e funciona como interface, como conexão entre o dentro e o fora, um estar dentro da célula e outro fora dela, como contato com um braço do fora no qual se possa apoiar por um instante, do contato com um mínimo de uma vida ainda possível, que resta, que é atacada no mais íntimo, que resiste à ausência, à suspensão total de qualquer direito.
Era a necessidade de ver a própria imagem, relatam, fosse por meio de uma janela-espelho inventada por um desvio de função, nesse caso, ou do simples reflexo em uma xícara de chá para observar os dentes, em outro. Era preciso ver se a própria imagem subsistia após anos de reclusão e torturas. Nada de narcísico nessa ação, mas de saber se havia vida possível na imagem, se a própria imagem ainda não morrera, se sobrevivera, se havia correspondência com a memória que possuíam, entre a matéria corporal, memória e espírito.
É o entendimento do corpo como passagem, como considerava Bergson (1999), do corpo como “parte invariavelmente renascente de nossa representação”, presente a todo momento, ou melhor ainda, aquela parte que “acaba a todo momento de passar” (p. 177). Um corpo que sendo ele próprio imagem, não pode armazenar as imagens, uma vez que faz parte das imagens. Porém, é uma imagem muito particular essa, considerava o filósofo francês, “que persiste em meio às outras e que chamo meu corpo, constitui a cada instante, como dizíamos, um corte transversal do universal devir” (p. 177). É nesse sentido que o corpo se torna “lugar de passagem dos movimentos recebidos e desenvolvidos, o traço de união entre as coisas que agem sobre mim e as coisas sobre as quais eu ajo, a sede, enfim, de fenômenos sensório-motores” (p. 177).
Compreende-se porquê preferencialmente o flagelo ao corpo é imposto, por dentro e por fora em todos os sentidos, psíquica e fisiologicamente, simultaneamente, quando da suspensão dos direitos em um campo de detenção, como o de Khiam e tantos outros. A imagem virtual de um corpo capaz de escolhas, de ações indeterminadas a partir de um feixe de tendências que se apresentam politicamente, necessita ser humilhada, retorcida, deformada, até ser apagada completamente. Daí a configuração do estado de exceção como regra geral, como definira Walter Benjamin (1994), ter o campo como espaço de excelência para impor esse flagelo, como “novo nómos biopolítico do planeta”, conforme conclusão de Giorgio Agamben (2002, p. 183). Deteriorar a imagem do corpo é uma violência política em última instância, ou ainda, de exercício de um biopoder, como sinalizara Foucault (1999), de uma gestão sobre a vida.
Mas, a fórmula desenhada por Foucault (1994) estabelecia que lá onde há poder, relações de poder, sempre existe a possibilidade de resistência. Não se trata, dizia ele, de resistência enquanto uma substância oposta a outra, de um exército de Estado contra uma guerrilha revolucionária, por exemplo. É a resistência como constituinte, como coexistente às relações de poder, nem a priori nem a posteriori, mas contemporânea, mesmo que aconteça a partir do detalhe menor, de uma política menor, da criação de uma literatura menor, por exemplo, como intitularam Deleuze e Guattari (1975) seu livro sobre Kafka. É entender o exercício do poder por dentro e constituir linhas de fuga, procurar desvios, criar técnicas para escapar, para reverter a lógica, fugir do esquadrinhamento programado, encontrar pequenas brechas e explorá-las como política de sobrevivência, no limite como forma de manutenção da vida ela mesma. Há como uma estética da resistência.
Para resistir, é preciso que a resistência se porte de certa forma como o poder, isto é, “tão inventiva, tão móvel, tão produtiva quanto ele. Que, como ele, ela se organize, se coagule, se consolide. Que, como ele, ela venha de baixo e seja distribuída de forma estratégica” (Foucault, 1994, p. 267).
Inventar, não se manter estático, mover-se e produzir, são inseparáveis como política de resistência, como estratégia que vem de baixo, do que pode ser menor (não quantitativamente).
Mas, como fazer se o movimento desse poder absoluto em um campo de extermínio, ou de detenção, é tornar o corpo um corpo criminoso, em que a exceção é a regra sempre? O que significa tornar esse corpo criminoso e encerrá-lo até apagar sua imagem por completo? E mais, seria ainda necessário trancafiá-lo como em Khiam? A mesma lógica prevalece? Se não, como resistir?
Nas “Notas e Esboços” da Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer (1985) dão a pista quando do fragmento de uma teoria do criminoso: “A absoluta solidão, o retorno forçado ao próprio eu, cujo ser se reduz à elaboração de um material no ritmo monótono do trabalho, delineiam como um espectro horrível a existência do homem no mundo moderno. O isolamento radical e a redução radical ao mesmo nada sem esperança são idênticos. O homem na penitenciária é a imagem virtual do tipo burguês em que ele deve se transformar na realidade. […] Elas [as penitenciárias] são a imagem do mundo do trabalho burguês levado às últimas consequências, imagem essa que o ódio dos homens coloca no mundo como um símbolo contra a realidade em que são forçados a se transformar”.
Tornar o corpo criminoso é ânsia por apagar a imagem do homem moderno em seu exercício de poder extremado, seu próprio retrato refletido em um fascismo recorrente, imagem de um certo mundo do trabalho hegemônico criado, de uma imagem espectral onipresente, que ressurge insistente no espelho civilizatório como símbolo a ser eliminado, descartado. É a tentativa de expurgar qualquer sinal de resistência política, da invenção de outras imagens que escapem a essa lógica, imagens moventes que produzem e se reproduzem em outra direção, se deslocam, imagens que provoquem e reflitam a vida e o trabalho em outra dimensão possível que não apenas a da produtividade mercantil.
Portanto, o corpo tornado criminoso, “imagem virtual do tipo burguês” que precisa ser expurgada, tanto pelo espectro de horror que acoberta quanto pela possibilidade de resistência imanente ao poder que contém, não é o corpo de um sujeito isolado, de um indivíduo apenas, embora seja nele que se impõe a dor de toda sorte de técnicas de violência, como lugar de passagem, como vetor dessa relação entre o dentro e o fora, ponto de conexão dos fenômenos sensório-motores, do agir e do sofrer a ação em si mesmo.
Imagens de uma exposição: Khiam 2000-2007
Logo à entrada, na sala 1 da exposição Joana Hadjithomas & Khalil Joreige: se souvenir de la lumière, apresentada entre 07/06 e 25/09/2016 na Galeria Nacional Jeu de Paume, em Paris (Hadjithomas e Joreige, 2016), os conflitos e as guerras civis libanesas se apresentavam ao público em toda sua problemática e violência por meio das mais diversas composições imagéticas.
Em uma divisória, afixados, dois monitores paralelos traziam trechos do documentário Khiam 2000-2007 (2008). Os vídeos, em loop, apresentavam depoimentos de ex-prisioneiras e prisioneiros que passaram pelo campo de detenção de Khiam, no sul do Líbano, sob domínio de tropas israelenses e inacessível até maio de 2000. O campo de Khiam se tornaria um local de visitas, uma espécie de museu que visava mostrar as condições sob as quais os detentos estavam encarcerados, como pode ser visto no documentário de Jean-Marc Sroussi, de 2006. O campo de Khiam fora bombardeado e destruído completamente durante o confronto Israel-Líbano, justamente em 2006 (Figura 1).
Por volta de 2008, havia um projeto do Hezbollah de reconstruir o campo como era antes dos bombardeamentos, como um sítio memorial. Painéis foram colocados pelo Hezbollah, com fotografias das celas, corredores e salas de tortura, conformando uma espécie de exposição ao ar livre no espaço das ruínas (Chouteau, 2008), uma instalação artística sem artista. Uma primeira pergunta que os artistas se colocaram ao visitarem o local era: “Como fazer história, memória, se, face ao passado, nós encobrimos as ruínas de uma imagem por outra imagem, uma temporalidade por outra, uma realidade por outra?” (Hadjithomas e Joreige, 2013, s.p.).
Figura 1 – Campo de Khiam destruído

Restavam, por outro lado, os testemunhos dos antigos detentos em contraposição à ausência do campo efetivamente. Todavia, os próprios ex-prisioneiros se espantavam com a divergência entre suas memórias e aquelas que começavam a serem construídas em torno do memorial e das histórias paralelas sobre o campo. Observando os painéis colocados ao ar livre, a pergunta era: “o que se via realmente: uma exposição da memória do local, o campo, o museu, as ruínas?” (Chouteau, 2008, p. 66).
Esse espanto e questionamentos dão o tom de parte do vídeo apresentado na exposição retrospectiva dos artistas no Jeu de Paume. Os ex-detentos de Khiam, sentados em uma cadeira, olhar direto para as lentes, parede limpa atrás, como se somente suas palavras-imagens-lembranças restassem, começam por se apresentar e dizer quanto tempo ficaram encarcerados (Figura 2).
Figura 2 – Ex-prisioneiros de Khiam e os respectivos tempos de detenção
 De 05/01/1988 a 26/06/1998 De 05/01/1988 a 26/06/1998 |
 De 24/10/1988 a 03/08/1994 De 24/10/1988 a 03/08/1994 |
 De 07/11/1988 a 01/09/1998 De 07/11/1988 a 01/09/1998 |
 De 13/09/1990 a 26/06/1998 De 13/09/1990 a 26/06/1998 |
 De 25/02/1991 a 03/08/1994 De 25/02/1991 a 03/08/1994 |
 De 19/09/1988 a 26/06/1998 De 19/09/1988 a 26/06/1998 |
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Hadjithomas e Joreige (2008; 2013; 2016)
Afif, Kifah, Soha, Rajaé, Sonia e Neeman, contam em detalhes suas vidas e sobrevivência nas celas de 1,80m x 80 cm ou em pequenas salas compartilhadas por 6 pessoas, medindo 2,25m x 2,25m, onde comiam, bebiam, dormiam, se lavavam, sem qualquer infraestrutura, apenas a roupa de detento, um colchão e um cobertor. As torturas nos interrogatórios diários, que duravam de cerca de mês e meio a quatro meses, incluíam desde os flagelos físicos como os “tradicionais” choques elétricos, chicotes, arames farpados mesclados a água salgada, até os psíquicos, como humilhações e chantagens com familiares que eram trazidos ao campo. Era todo o processo de transformação do corpo em corpo-criminoso, de apagamento da imagem do corpo, o aniquilar de uma vida possível. Não se pretende aqui estender as descrições das atrocidades relatadas, mas apenas chamar atenção para uma peculiaridade de Khiam, o uso de uma técnica que demonstrava a situação limite a que eram submetidos os detentos, símbolo de suspensão total de qualquer traço de direito ao que se poderia chamar humanidade: o “calabouço”, um caixote de aproximadamente 80x80cm e 80 cm de altura (Figura 3).
Figura 3 – Ex-detento de Khiam mostra um “calabouço”
 |
 |
 |
Fonte: sequência do filme de Jean-Marc Sroussi (2006)
Lembrava uma tumba, a solidão de uma tumba, a morte. Eram os termos utilizados por Soha para descrever o “calabouço”. “É uma das piores coisas que um ser humano pode suportar”, concluía Afif. É a condição de isolamento total, extrema. Havia ainda “calabouços” um pouco maiores, destinados a períodos longos de isolamento. Neeman, após perder o pai e o irmão devido às torturas nos interrogatórios, já considerando que qualquer coisa poderia ser feita com ele, desiludido que estava com a perda dos entes queridos, curiosamente preferia os períodos de isolamento, pois o tomava como “um tribunal da pessoa, um tribunal da personalidade”, tribunal e julgamento a que não se tinha direito no campo. Para Afif era a oportunidade de “fazer um inventário geral do período que acabávamos de viver, isso apaziguava o espírito”.
Nessas condições, parece haver uma relação diferente com o tempo que passa, talvez mais intensa, uma vez que não havia nem mesmo uma sentença e o detento poderia ficar no campo por um, dois, cinco, dez, vinte anos, não sabia. “Fiquei no isolamento durante seis anos. Todo meu trabalho estava em minha mente. As horas passavam, eu tinha 24 horas, dizia para mim mesma”, relata Soha.
Com o decorrer do vídeo apresentado nos dois monitores, começa a haver certo desvio nas narrativas, que na instalação coincide com a alternância do monitor da esquerda para o da direita, como se houvesse uma espécie de mudança de estágio, uma transição. Das descrições das torturas, das condições abjetas e extremas, para as formas de sobrevivência, para as formas de resistir, que têm como um dos pontos de inflexão no vídeo o momento do relato do espelho-janela e quando alguns sorrisos começam a surgir.
Comentários sobre a comida, sobre os raros e rápidos passeios pela luz do sol e encontros furtuitos que aconteciam com outros detentos, sobre como se exercitar na cela, praticar esportes: “Eu considerava que o corpo era como um motor de um carro”, diz Neeman. Soha, por sua vez, obrigava-se a “andar” regularmente poucos passos pela cela, calculadamente para atingir 4,5 km por dia.
Das questões físicas passava-se às emocionais, aos sonhos e à percepção do fora. Rajaé amava uma garota com quem passara três anos antes de entrar no campo; às vezes a imaginava em sua frente; “eles” conversaram, brincaram, discutiram, durante 8 anos. Nesse momento, há um corte para Afif:
O que havia de novo entre nós eram os sonhos. A noite em que cada um sonhava. Contar nossos sonhos era a novidade. Descobríamos palavras que não conhecíamos, inspiradas pelo sonho, e contávamos aos companheiros […] E, uma vez que começávamos a falar, o assunto se tornava vasto.
Outro corte para Rajaé, que continuava seu caso: “Nos falávamos. Nos sonhos, ela vinha nos sonhos. Eu deixava me levar. Era como se vivêssemos juntos”. Nova interrupção e Kifah lembra que as informações de fora das células chegavam, quando muito, com atraso de dois a três meses, geralmente na chegada de alguém. Todavia, aguçavam o quanto podiam os ouvidos, para escutar ao menos “uma palavra, apenas uma palavra de todo o noticiário” do rádio dos vigilantes. Depois de uma breve intervenção de Soha, dizendo que assim se podia passar as horas, os dias, os anos, a fazer deduções, Sonia, sorrindo, lembra que “às vezes, nos inventávamos histórias: eu estava no mercado, cozinhava esse prato, fiz isso e aquilo, levei as crianças para casa, matriculei as crianças na escola; esquecíamos o campo”. Finalmente, Rajaé termina sua história, com a decepção do reencontro com a pessoa amada, já comprometida: “era como se eu tivesse vivido todo esse tempo sobre uma nuvem, … sobre uma nuvem”.
Nessa sequência, as interrupções, as idas e vindas nas narrativas são, evidentemente, propositais. Na montagem do documentário, os artistas buscam conexões, pontos de encontros e desencontros diversos, mediados pela percepção, pela sensação, pela imaginação, pela memória, pelos sonhos, pelas invenções. As lentes tentam captar os traços que restam de humanidade, como potencialidades, buscam relações entre as expressões nos rostos e as palavras pronunciadas.
No entanto, minutos antes, quando os detentos ainda falavam das torturas e da falta de estrutura para um mínimo de vida, Kifah destoa e lembra de quando chegaram três garotas e, depois de um tempo de convívio, se perguntaram: “e se nós interpretássemos o modo como eles nos torturam?”. Começaram em dois grupos, imitando como eles, torturadores, as inqueriam, como as interrogavam, como lhes batiam. “Nós ríamos, criávamos um bom ambiente”, dizia. Trocavam os papéis, entre inquisidor e detenta, tentavam adivinhar o modo como seriam torturadas, os métodos que utilizariam. Certa vez, nesse mesmo momento, conta Kifah, os guardas abriram a porta e disseram: “Venham, precisamos de você. Vedaram meus olhos e eu sofri exatamente o que acabara de interpretar”. Se há um sentido para o trágico na relação entre teatro e vida, só pode ser esse um dos mais diretos e radicais.
Essa passagem traz os primeiros indícios do que mais instigava Joana Hadjithomas e Khalil Joreige ao desenvolver seus trabalhos sobre Khiam: a aproximação entre invenção, sobrevivência, arte e política.
Invenção tecnoestética como política de sobrevivência: Objets de Khiam (1999)
Na primeira série de entrevistas com os ex-prisioneiros de Khiam, o que chamava mais a atenção eram os relatos sobre os objetos que os artistas haviam recuperado no campo. Onde tudo era interditado, de falar à janela aos trabalhos manuais, passando pelos meios de se divertir, artefatos os mais diversos, utilitários, decorativos, artísticos, são fabricados com materiais conseguidos clandestinamente. Agulhas, pentes de madeira adornados, um pequeno jogo de xadrez, uma mini-jarra, colares de caroços de azeitona recobertos e decorados com fios de linhas coloridas, pequenas cestas, uma delicada flor em croché, amuletos, entre muitos outros objetos (ver algumas imagens dos objetos na Figura 4).
A mesma sala da exposição no Jeu de Paume, onde se encontravam os vídeos em loop, as fotografias desses objetos eram expostas na parede e num compartimento de vidro que tomava meia sala em formato de L, compondo outra obra em diálogo, intitulada Objets de Khiam (1999). Se o visitante começara pelos vídeos ou pelas fotos, na transição de um suporte para o outro a conexão era imediata, quase forçando um retorno a um dos dois. De um lado as memórias narradas gravadas no corpo, do outro, memórias que subsistem nos objetos gravadas pelo corpo, impressas posteriormente em estático close-up no papel pelos artistas.
Figura 4 – Alguns dos Objetos de Khiam (1999)
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Fonte: Hadjithomas e Joreige (2017)
Os objetos impressionam por si, dadas as condições sob as quais foram feitos, mas tornam-se mais interessantes à medida que se ouve a motivação e mesmo o modo como foram concebidos. Soha tinha plena consciência da problemática que se compunha desde o início: [Soha]: “Como o homem pode trabalhar para si mesmo, para evoluir entre quatro muros? Desde o segundo dia eu disse: Tudo aquilo que entrar na cela, devemos fazer alguma coisa”.
Era uma forma de combate a partir do nada, literalmente: [Afif]: “Nem agulha, nem pente, nem lápis, nem papel, nada. As coisas elementares que permitem ao homem segurar, de se virar, de não esquecer, como o lápis, não havia. Mas, como se diz, a necessidade é a mãe da invenção…”. [Neeman]: “As coisas que tínhamos necessidade, fazíamos o quê? Tentávamos cria-las”. [Afif]: “Começa a luta contra si mesmo: temos que criar uma agulha, precisamos dela…”.
Observando esses objetos e a maneira como foram realizados, impossível não lembrar do clássico de Robert Bresson, Un condamné à mort s’est échappé (Um condenado à morte escapou) de 1956. Ali, o corpo-criminoso de Fontaine capturado pela Gestapo decide escapar da prisão antes que seja morto pelos nazistas. No filme de Bresson não há espetacularização da fuga, até porquê o final já está explícito no título. A ênfase está na luta meticulosa, quase silenciosa, por meio da construção de pequenos artefatos técnicos que contribuirão com o objetivo do prisioneiro. Há uma tensão o tempo todo no filme, dado o ambiente de controle prisional. É fascinante ver a arte da sabotagem sendo colocada em prática no detalhe menor, a pequena pirataria na prisão e as formas que Fontaine usa para burlar o espaço regrado, de resistir à iminente morte. Há todo um processo técnico no pensar, de intuição técnica em andamento, para usar os termos de Simondon (1969, 2014), como defesa e estratégia de sobrevivência. Não há um clímax ou um grand finale, simplesmente ele escapa, uma afirmação, uma positividade política que merece atenção.
Ora, os corpos-criminosos de Khiam não tentam a fuga, suas realidades materiais para tal empreitada são outras. No entanto, não deixam de escapar o tempo todo, de encontrar meios outros de sobreviver ao aniquilamento, articulando intuição técnica e estética, ou melhor ainda, tecno-estética como estratégia limite de manutenção da vida. Essa é uma observação central para os artistas: “Nessa situação de desumanização, o ato artístico emerge, reemerge como uma necessidade entre aqueles que não se dizem artistas, que não qualificam suas produções como obras, mas que falam desse impulso artístico sentido como a única maneira de se manter, de sobreviver e não se perder. Assim, os detentos desenvolveram e trocaram técnicas de fabricação surpreendentes, para se comunicar com o outro, criar, desobedecer, preservar uma humanidade que esse tipo de campo tenta aniquilar” (Hadjithomas e Joreige, 2013, p.3).
Compreende-se o interesse dos artistas por esse aspecto, a contar da declaração-chave de Soha: “Como continuar? Como durar? Eu não tenho um ou dois dias. Eu tenho um inimigo, como combate-lo nesse campo?”. Encontrar modos de não sucumbir, inventar imagens outras que permitam não se perder, que ajudem a continuar, a durar, é combater politicamente, é promover escolhas que não as programadas, que não a morte, mas sustentação da vida.
É nesse sentido que Simondon (2008) dirá que em situações de urgência e de inquietude, ou mais genericamente de emoção intensa, as imagens adquirem um caráter vital, um “relevo vital” e que conduzem a decisão para as escolhas entre as tendências que se apresentam. Essas imagens, continua o filósofo, “não são percepções, elas não correspondem ao concreto puro, pois, para escolher, é preciso estar a certa distância do real” (p. 10). No entanto, elas são como uma amostra vital e, o que é mais fundamental, comportam “aspectos de antecipação (projetos, visões do futuro), de conteúdos cognitivos (representação do real, de certos detalhes vistos e ouvidos), enfim, conteúdos afetivos e emotivos”. Assim, a imagem enquanto amostra de vida, que figura entre o concreto e o abstrato, resiste e ganha caráter político, uma vez que é na síntese entre os aspectos cognitivos e afetivos em que as escolhas são feitas.
Entende-se porque a imagem ganha outro estatuto em um estado de tensão permanente e de resolução de problemas, entre feixes de tendências que exigem escolhas. É um combate político que, de um lado, tenta estabelecer um corpo-criminoso para no instante seguinte eliminá-lo, apagando sua imagem mais vil, o reflexo no espelho da exploração do trabalho, aquilo que não se quer ver e, do outro, a insistência, como no exemplo de Khiam, em ver a própria imagem, o que restou para além daquele espectro hediondo refletido, aquilo que se quer ver enquanto potencialidade de vida, nem que seja espelhado em objetos técnico e estéticos ao mesmo tempo.
Quando Hadjithomas e Joreige estão atentos para o fato de que esses objetos servem como técnicas de comunicação, de criação, de desobediência, de preservação, de resistência, que no fundo vão se compondo, como Foucault dissera, imanentes às relações de poder, de forma nômade, inventiva, produtiva, sólida, vindo de baixo, estrategicamente, significa que o caráter coletivo das escolhas se estabelece, como na literatura menor de Kafka. Se a escolha está entre se entregar ou combater o inimigo dentro de seu campo, ou seja, em situação de minoridade (sendo judeu, Kafka escrevia no alemão oficial em Praga), ela não se dará de maneira individual, mas de maneira coletiva na articulação das forças do dentro e do fora. Encontra-se aí um dos sentidos políticos do transindividual em Simondon: “A escolha é operação coletiva, fundação de grupo, atividade transindividual” (Simondon, 1989, p. 204).
Fundar um grupo é prover a gênese de outra imagem possível, da articulação entre imaginação e invenção. Não se trata de uma simples relação social, de uma comunidade. Os ex-prisioneiros de Khiam, percebe-se a essas alturas, não se configuram apenas como uma comunidade de ex-detentos, eles participam de um processo de individuação coletiva que transcende os muros daquela prisão, principalmente pelas ações e objetos tecno-estéticos que fizeram vir à tona ali como resistência, mesmo que em nenhum momento se vissem como artistas por fabricarem tais objetos.
É porque a intenção estética, segundo Simondon, estabelece uma relação horizontal entre diferentes modos do pensamento (técnico, religioso, p.ex.), que tende à totalidade, entendida como fundo, à qual deseja expressar, e detém “o poder transdutivo que leva de um domínio a outro” (1969, p. 199). Por isso, o sentido da arte para Simondon não está em se fechar em uma determinada realidade, mas torná-la transdutiva no espaço e no tempo, isto é, “dando a uma realidade localizada e efetuada o poder de passar a outros lugares e épocas. Ela dá ao ser particular realizado hic et nunc o poder de haver sido ele mesmo e, ainda, de ser ele mesmo outra vez e uma multidão de outros. A arte afrouxa os laços da hecceidade; ela multiplica a hecceidade” (p. 200).
Ou seja, a arte por esse prisma atravessa os limites ontológicos, se liberando do ser ou não ser, como diz Simondon, conformando uma realidade em rede, reticular, em individuação coletiva. Interessante que Simondon chega a dizer, quando está escrevendo sobre a técnica em sua amplitude maior, enquanto processo de individuação, que a comunidade aceita o pintor ou o poeta, mas recusa a invenção. É preciso entender que Simondon, ao falar do poeta e do pintor, não está se referindo apenas aos desejos egoístas que muitas vezes os movem, não muito diferente de um inventor técnico, nem mesmo da arte estabelecida, que se torna estetismo.
O que é recusado, refutado, que precisa estar sob controle de alguma maneira, é o que o filósofo classifica como a quarta fase do devir das imagens, a invenção: “Em seu nascimento, a imagem é um feixe de tendências motrizes, antecipação a longo prazo da experiência do objeto; no curso da interação entre o organismo e o meio, ela se transforma em sistema de recepção de sinais incidentes e permite à atividade perceptivo-motora se apresentar de um modo progressivo. Enfim, enquanto o sujeito é novamente separado do objeto, a imagem enriquece os aportes cognitivos e, integrando a ressonância afetivo-emotiva da experiência, devém símbolo”. (Simondon, 2008, p. 3).
A invenção, para Simondon, surge a partir daí, enquanto quarta fase do devir da imagem, que após acontecer, recomeça seu ciclo. Transportado para a exposição de Joana Hadjithomas e Khalil Joreige, no que concerne à Khiam (vídeo e reproduções fotográficas dos objetos) visto no detalhe menor de uma agulha que seja, como relatado pelos ex-detentos, também não deixaria escapar uma palavra do excerto de Simondon acima.
Quando uma ex-prisioneira ou prisioneiro está elaborando suas imagens mentais, imaginando seus objetos, não se trata de uma “consciência imaginante” sozinha, a vontade de um sujeito isolado segundo suas forças isoladas, mas há algo que o desestabiliza, “uma imagem que resiste ao livre arbítrio, que rejeita a se dirigir pela vontade de um sujeito, que se apresenta segundo suas próprias forças, habitando o consciente como um intruso que vem bagunçar a ordem da casa, na qual ele não é convidado” (Simondon, 2008, p.7).
Imaginação e invenção não se opõem e a palavra chave que aparece nessa relação é “antecipação”, como centralidade política na relação entre indivíduo e objeto tecno-estético, que conserva o esforço humano de alguma forma, na expectativa de se criar um domínio transindividual, distinto da ideia de comunidade, de um modo que a “noção de liberdade adquire um sentido e que transforma a noção de destino individual, embora não o aniquila” (Simondon, 1989, p. 268). Essa é uma grande diferença que traz o pensamento de um filósofo como Simondon: a atividade técnica não está separada da individuação, ou da autocriação do indivíduo, que é permanente. A característica do ser técnico é a integralização temporal concreta, em que o corpo pode funcionar como passagem para esse processo, como imagem que atualiza “um corte transversal do universal devir”, para repetir Bergson.
Em se tratando de tecno-estética, nos termos simondonianos (Simondon, 1998), é preciso fugir de todo estetismo quanto de todo tecnicismo. É a relação intercategórica que importa na gênese dos objetos-imagens. Há uma transição contínua entre objeto técnico e objeto estético que permite essa concepção de tecno-estética: “o objeto estético poderia então ser concebido como não inserido em um universo, e destacado como objeto técnico, enquanto um objeto técnico poderia ser considerado como objeto estético” (Simondon, 1969, p. 184).
Se há beleza em objetos técnicos é em função de sua inserção em um mundo, “seja geográfico, seja humano”. Considerar os objetos de Khiam como tecno-estéticos significa levar em conta essa observação de Simondon, pois a impressão estética é “relativa à inserção; ela é como um gesto” (1969, p. 185). O exemplo que o filósofo usa é que é graças ao jardim que a estátua pode ser bela, não o contrário. É no encontro entre os dois, um sentido que se configura “entre um aspecto real do mundo e um gesto humano” (p. 191).
O mesmo vale para os objetos produzidos em Khiam. Interessante antes lembrar que não são os objetos efetivamente, mas as imagens que são expostas, uma vez que, como argumenta Omar Berrada (2016) no catálogo da exposição, os objetos de Khiam não são reproduzíveis materialmente, re-confeccionados, pois essa “reprodução não teria sentido fora da prisão”, uma vez que os rituais cotidianos, a fabricação arriscada dos objetos são “práticas de liberdade” (p. 353) que permitiram a eles sobreviver inseridos naquele contexto. Esses objetos, como capta bem Schneider (2016, p. 426), são “testemunhos comoventes do desejo de viver, mas também potente afirmação do ‘fazer imagem’”.
Existe, assim, uma conexão entre imagem, invenção e antecipação, que se tornam fundamentais para a compreensão da tecno-estética enquanto política, de sobrevivência, no caso dos ex-prisioneiros: “A análise estética e a análise técnica vão no sentido da invenção, porque elas operam uma redescoberta do sentido desses objetos-imagens, percebendo-os como organismos, e suscitando novamente sua plenitude imaginal da realidade inventada e produzida” (Simondon, 2008, p. 14).
A imagem, assim, aparece como base da antecipação, permitindo uma pré-figuração de um futuro próximo ou distante. Ou seja, a antecipação é sempre em direção ao futuro, sem deixar de retomar “os velhos sonhos”, ela evoca o passado, contém “o eco das aspirações antigas, já materializadas nos objetos-imagens” (Simondon, 2008, p. 16).
Desse modo, artistas e escritores, por exemplo, podem pré-formar um estado social diferente, antecipar outra forma de vida: “Para a vida coletiva, e precisamente na medida em que a imagem mental se materializa não somente por processos de causalidade cumulativa, mas também segundo os caminhos da invenção criando objetos-imagens estéticos, protéticos, técnicos, a imagem incorpora o passado e pode disponibilizá-lo pelo trabalho prospectivo” (Simondon, 2008, p.16).
E um pouco mais adiante, o filósofo completa, dizendo que pre(ver) não é apenas uma questão de visão, mas de inventar e de viver, ou seja, em certa medida faz parte de uma práxis, em que a imagem, “reserva de emoção orientada ligada a um saber” (p. 17), assegura a continuidade do ato prospectivo. É a relação dos seres vivos e seu meio na resolução de problemas, antecipação que é coletiva e modifica as ações individuais, constituindo um sistema sinérgico, não hierárquico. Eis uma potência política da invenção. O capital, por exemplo, percebeu há tempos que o embate político está na antecipação, no controle do processo de invenção.
E fomentar a invenção em seu sentido estrito pode ser perigoso, sem um controle rigoroso. Para isso instaurou uma parafernália de artifícios, principalmente no mundo do trabalho, da produção, tais como: inovação, empreendedorismo, capital humano, motivação, etc., para citar os mais recentes, e quando se foge a essas imagens, quando elas são insuficientes, o campo de detenção surge como um dispositivo viável de poder hierárquico, como um dos modelos para se expurgar as possibilidades de um sistema de acoplamento positivo entre viventes e seu meio, em que o mundo objetivo e subjetivo se comuniquem livremente, sem necessariamente passar apenas pelo crivo da produtividade mercadológica. Há sempre o risco de no espelho surgir o “espectro horrível” da existência do homem no mundo moderno, à imagem e semelhança do “mundo do trabalho burguês levado às últimas consequências”, para relembrar o trecho citado de Adorno e Horkheimer.
O olhar de Joana Hadjithomas e Khalil Joreige sobre o que ocorrera em Khiam, para além das atrocidades que modelam esse espectro horrível, dirige-se para a peculiaridade da análise técnica e estética que se voltam para a invenção dos objetos-imagens que ali foram produzidos enquanto forma de resistência, como organismos que trazem outras perspectivas porque, como sintetiza Simondon, “a imaginação não é somente a atividade de produção ou evocação de imagens, mas também o modo de acolhimento das imagens concretizadas em objetos, isto é, da perspectiva para elas de uma nova existência” (2008, p. 14).
A obra de Joana Hadjithomas e Khalil Joreige sobre o campo de Khiam tem essa virtude. Registrar as atrocidades, mas também procurar perceber e valorizar as linhas de fuga que ali se estabeleceram, as perspectivas outras que se criaram, as individuações que se conformaram dentro de um espaço inteiramente totalitário, em que a exceção como regra não deixou que se produzisse uma história por meio da tecno-estética, a partir de baixo, da tradição dos oprimidos, como dizia Benjamin (1994) em sua famosa e tão atual oitava tese sobre o conceito de história. Ou, como afirmava Simondon (2008, p. 8), toda imagem forte é dotada de certo poder fantasmagórico. Diante de uma situação dada se impõe. Como um fantasma, atravessa muralhas.
*Emerson Freire é professor e pesquisador no Mestrado em Educação Profissional do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS) e na Fatec Jundiaí, onde coordena o Núcleo de Estudos de Tecnologia e Sociedade (NETS).
Referências
ADORNO, Theodor W. e HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento: fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.
AGAMBEM, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994.
BERRADA, Omar. “L’image entre en crise”. In HADJITHOMAS, Joana; JOREIGE, Khalil. Se souvenir de la lumière. Paris: Jeu de Paume, 2016.
BERGSON, Henri. Matéria e Memória. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
CHOUTEAU, Hélène. «Nous avons besoin d’histoire», histoires de mémoires de l’oubli: Khalil Joreige et Joana Hadjilhomas, images du liban, 1997-2007. In. Les derniers tableaux. Lyon: Éditions des archives contemporaines, École normale supérieure, 2008.
DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. Kafka : pour une littérature mineure. Paris: Les Éditions de Minuit, 1975.
FOUCAULT, Michel. Dits et Écrits 1954 – 1988 – III (1976 – 1979). Paris: Éditions Gallimard, 1994.
_____. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976). São Paulo: Martins Fontes, 1999.
HADJITHOMAS, Joana; JOREIGE, Khalil. Se souvenir de la lumière. Paris: Jeu de Paume, 2016.
_____. Khiam. In Semaine hors-série Ulysses. Arles: Analogues, 2013, n° 23.
_____. Joana Hadjithomas & Khalil Joreige. Homepage disponível em: http://hadjithomasjoreige.com/ . Acesso em: 30/04/2017.
KAFKA, Franz. Contemplação e O foguista. Tradução e posfácio Modesto Carone. São Paulo: Cia das Letras, 1999.
SCHNEIDER, Anna. “Anatomie d’ensembles”. HADJITHOMAS, Joana; JOREIGE, Khalil. Se souvenir de la lumière. Paris: Jeu de Paume, 2016.
SIMONDON, Gilbert. Imagination et Invention (1965-1966). Chatou: Les éditions de la Transparence. 2008.
______. L’individuation Psychique et Collective: à la lumière des notions de forme, information, potentiel et métastabilité. Paris: Éditions Aubier, 1989.
———. Du mode d’existence des objets techniques. Paris: Aubier-Montaigne, 1969.
______. Sur la Technique (1953-1983). Paris: Presses Universitaires de France, 2014.
———. “Sobre a Tecno-Estética: Carta a Jacques Derrida.” In: ARAÚJO, H. R., Tecnociência e Cultura. São Paulo: Estação Liberdade, 1998.
Filmografia
BRESSON, Robert. Un condamné à mort s’est échappé (Um condenado à morte escapou). França, 1956.
HADJITHOMAS, Joana; JOREIGE, Khalil. Khiam 2000 – 2007. Líbano, 103 min., 2008.
SROUSSI, Jean-Marc. Khiam ou Le temps égrené au Sud-Liban. 2006.
Nota
[1] Todas das falas citadas foram retiradas, com tradução livre das legendas em francês, do filme Khiam 2000-2007 (Hadjithomas e Joreige, 2008), exibido na exposição “Joana Hadjithomas & Khalil Joreige: se souvenir de la lumière”, apresentada entre 07/06 e 25/09/2016 no Museu Jeu de Paume, em Paris, França.