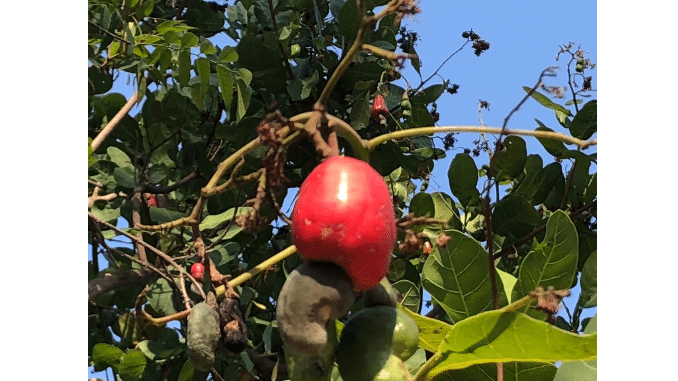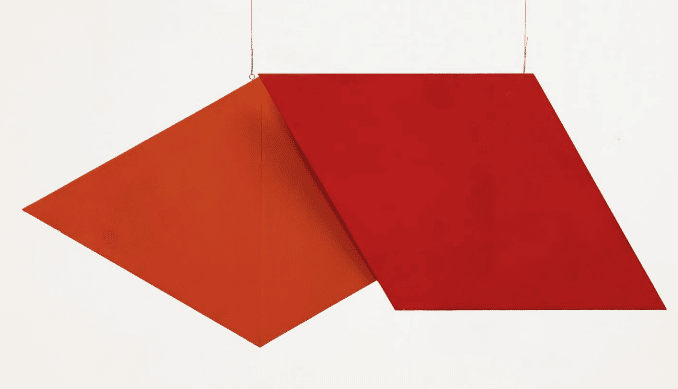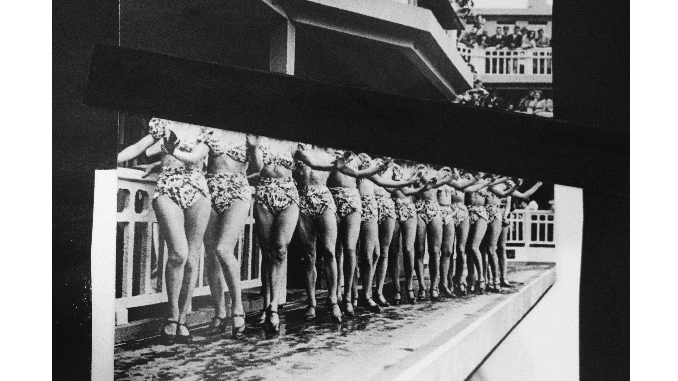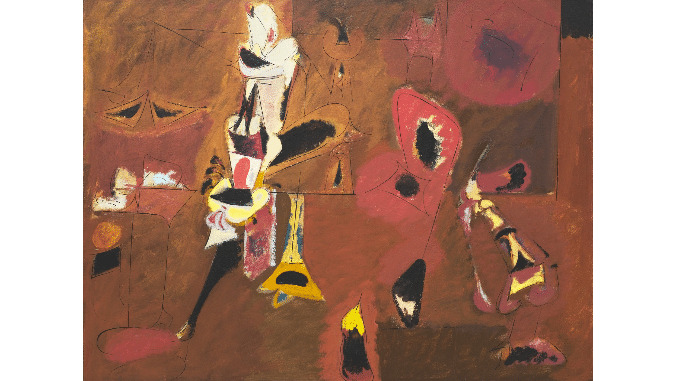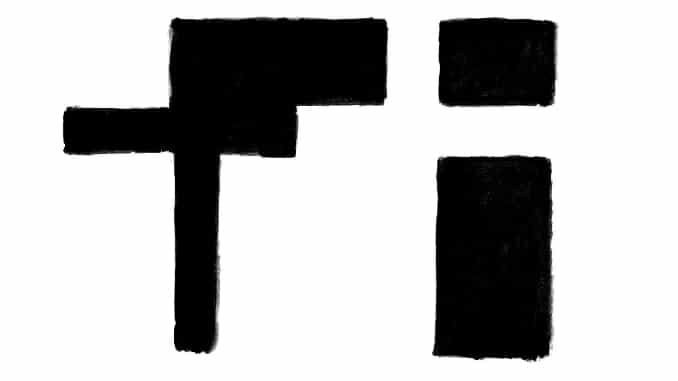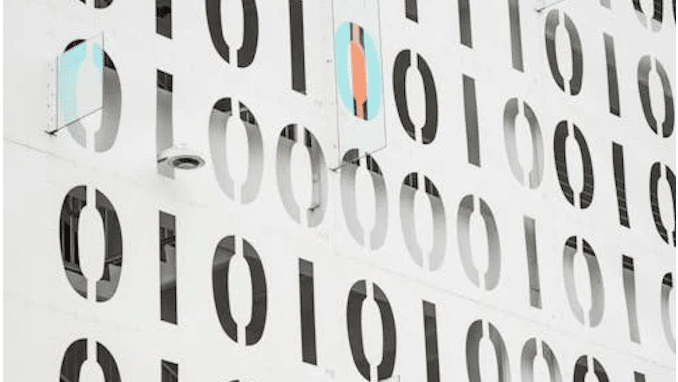Por SAMO TOMŠIČ*
Lacan entende o modo de produção capitalista sobretudo como uma ordem moral e, mais especificamente, como um modo de produção compulsivo
No XVI Seminário, Jacques Lacan afirmou: “O que o senhor vive é uma vida, mas não a sua própria, mas a vida do escravo. É por isso que, sempre que uma aposta na vida está em jogo, o mestre fala. Pascal é um mestre e, como todos sabem, um pioneiro do capitalismo”.[i]
Sabe-se mesmo que Blaise Pascal foi um pioneiro do capitalismo? A conexão não é evidente, embora Lacan apoie sua afirmação com a lembrança de que Blaise Pascal inventou o ônibus e a primeira calculadora mecânica (machine arythmétique). Essas invenções de natureza técnica podem sugerir certa compatibilidade do espírito científico de Blaise Pascal com a proverbial capacidade de inovação do sistema capitalista; no entanto, elas não justificam uma tese tão forte quanto aquela formulada por Jacques Lacan.
Como a citação inicial faz referência não apenas às invenções de Blaise Pascal, mas também à notória aposta – o argumento probabilístico de Pascal para a existência de Deus –, uma questão se impõe.
Poderia Blaise Pascal ser um pioneiro do capitalismo, não apenas como um inovador e, portanto, no sentido epistemológico, mas igualmente num sentido espiritual “mais profundo”? Qual seria ele senão aquele sentido pelo qual, desde Max Weber, tende-se a vislumbrar na emergência histórica, sincrônica, do protestantismo e da organização capitalista da produção social, como mais do que mero acaso?
A ética protestante do trabalho lança luz sobre um aspecto essencial da atividade “trabalho”, entendido este como um processo ascético que ocorre nas condições socioeconômicas capitalistas. Algo que permite reconhecer no capitalismo não apenas um modo social de produção, mas, sobretudo, uma atitude espiritual.[ii]
Portanto, é mais relevante que Blaise Pascal, além de ser um engenhoso matemático e inventor, fosse igualmente um cristão apaixonado, que defendia a controversa doutrina do jansenismo, uma visão herética segundo a qual apenas uma pequena fração da humanidade estava predestinada à salvação, por meio de um ato incalculável e radicalmente contingente da graça divina.[iii]
Em oposição à máquina de calcular, encontra-se a incalculável graça divina, a vontade misteriosa e imprevisível de Deus, na verdade, de um Deus caprichoso. Essa visão de mundo pessimista e sua limitação da salvação a alguns poucos (nem todos os crentes devotos serão salvos automaticamente) dificilmente poderiam estar mais longe da felicidade universal, pelo menos na teoria, se não na prática – essa felicidade universal prometida há séculos pelos defensores do capitalismo.[iv]
Como, então, Blaise Pascal, esse ardoroso apologista de uma doutrina religiosa radicalmente pessimista, na qual, na melhor das hipóteses, afirma-se um universalismo negativo (isto é, a universalidade da queda), se encaixa na conhecida autopromoção ideológica do capitalismo como ordem econômica e como visão de mundo definida por um tipo hipócrita de universalismo, que sustenta a promessa de felicidade para todos?
Primeiro, algum contexto. A citação inicial aqui posta aparece na conferência final do XVI Seminário de Lacan, D’un Autre à l’autre. Neste seminário crucial, que em muitos aspectos respondeu aos acontecimentos políticos de 1968 – em primeiro lugar e acima de tudo à greve geral, na verdade universal na França – Blaise Pascal desempenha um papel tão proeminente quanto Karl Marx.
Na primeira lição do seminário, Lacan junta Pascal, um apaixonado defensor da religião que prega a derrocada universal da humanidade, com Marx, um apaixonado pensador da revolução que pressiona pela emancipação universal da humanidade. Apesar disso, são eles apresentados como parceiros que não se comunicam: como pensadores cujas obras, reconhecidamente formadas por pontos de vista opostos, tematizam uma característica essencial do que Jacques Lacan chama um tanto enigmaticamente de “moral moderna”.
Ao fazê-lo, Jacques Lacan indica inequivocamente que ele também entende o modo de produção capitalista sobretudo como uma ordem moral (portanto, também, como uma ordem simbólica) e, mais especificamente, como um modo de produção compulsivo. É esse caráter compulsivo que o capitalismo e a religião têm em comum que vem permitir a junção inicial de “Pascal avec Marx”. Ambos entenderam que a principal característica da moral moderna se resume à “renúncia ao gozo”, o que novamente parece contradizer a exibição sensacionalista do hedonismo consumista que domina as sociedades capitalistas tardias.
Ora, por trás dessa aparência de “gozo” contínuo, há uma renúncia imposta, a qual está estruturalmente ligada à função social do trabalho: “Assim como o trabalho não é uma novidade da produção de mercadorias, o mesmo ocorre com a renúncia ao gozo, cuja relação com o trabalho não posso especificar aqui. Desde o início […] é precisamente essa renúncia que constitui o mestre, aquele que bem sabe fazer dela o princípio do seu poder”.[v]
A ligação entre o trabalho e a renúncia ao gozo não é nova na história; de fato, ela define todas as formas históricas (e concretas) de trabalho, bem como todas as relações de dominação e sujeição. Nesse sentido, o mestre capitalista – Marx, como se sabe, o chama de “monsieur le capital” – permanece em perfeita continuidade com as formas pré-modernas de domínio. Eis que o capitalismo, no entanto, transforma o mestre numa abstração descentralizada e dispersa que a burguesia chama de “mercado”. Contudo, algo muda na modernidade quando o trabalho é transformado em abstração.[vi]
Só agora a renúncia ao gozo, que sempre sustentou as relações de domínio, universalizou-se e, vestida de trabalho abstrato, engoliu a vida individual e social em sua totalidade. O trabalho, agora, se constitui como o processo central, necessário para a reprodução social e para a justificação moral da vida sob o capitalismo. Nesta vida de trabalho, o sujeito moderno não é simplesmente privado do gozo, mas deve, por assim dizer, renunciar ativamente a ele.
Note-se que, na citação inicial aqui apresentada, Jacques Lacan sugere que essa renúncia ao gozo pode, inclusive, ser entendida como sinônimo de renúncia à própria vida. Se o senhor vive da vida dos outros, isso significa que ele lhes impõe a renúncia à vida, sujeitando-os a um processo econômico compulsivo que consiste em trabalho. O mestre capitalista coloca os trabalhadores numa situação, na qual eles devem renunciar voluntariamente à vida para viver uma vida dedicada a ele, ou seja, destinada a produzir um gozo que Lacan, no seminário mencionado, equipara ao mais-valor. Note-se que o mestre deve ser novamente entendido como uma abstração, usualmente personificada como “o mercado”, mas que, em última instância, vem a ser o capital. O mais-valor é a “substância” vital que sustenta o mestre do capitalismo; trata-se do nome marxiano para o gozo sistêmico capitalista.
Ao mesmo tempo, o processo de trabalho e a renúncia que o acompanha impõem a incompatibilidade entre vida e gozo, a proibição do gozo na vida, uma vez que este último supostamente sempre implica em desperdício. Isso se repetiu mais uma vez durante a crise da dívida europeia, mas vem se repetindo também ao longo das décadas com o desmantelamento neoliberal do Estado social, da educação pública, os sistemas de saúde, universitário etc. A privatização e, de modo mais geral, a intrusão do capital privado na esfera pública – na vida da sociedade ou da sociabilidade – surge como necessária para garantir que a vida não “vá para o lixo” e continue a ser organizada de tal forma que a maior quantidade possível de mais-valor possa ser extraída.
Se se deixa a vida seguir o seu curso, ela ficará supostamente marcada pelo excesso, um “viver além das possibilidades”. Pelo menos essa é a suspeita que os defensores do capitalismo repetidamente dirigem à sociedade e, em particular, ao governo visto sempre como “dissipador”. Foi essa suspeita que motivou a afirmação de Margaret Thatcher de que a “sociedade não existe”; reformulando um pouco essa polêmica afirmação para que fique mais justa, tem-se, na verdade, que a “sociedade não deve existir” para ela.
Margaret Thatcher formula uma afirmação ontológica – ela afirma a tese fundamental da ontologia política neoliberal de que inexiste uma entidade chamada sociedade. Thatcher não diz que a sociedade não existe; na verdade, ela usa uma negação mais forte: “não há isto, a sociedade”. Ao negar à sociedade todo status ontológico positivo e, portanto, toda participação na ordem do ser, Margaret Thatcher demonstra de forma incisiva a insistência de Lacan no caráter fundante e dominante da ontologia.
Entendida como concretização do “discurso do mestre”, a ontologia assume o direito de decidir, não simplesmente o que é e o que não é, mas, sobretudo, o que deve ser e o que não deve ser. Embora insista no contrário, a ontologia nunca fala de um ser neutro; ela comanda e, assim, produz discursivamente o ser. Isso vale para o não-ser (político): o que o mestre metafísico (ou seja, Margareth Thatcher) diz que não existe, na verdade, não deve existir.
O enunciado ontológico negativo consiste, em última instância, numa proibição, na produção performativa do não-ser, do que não deve ser. A sociedade não deve vir a existir, pois tal ser social, essa imposição ontológica da sociedade e da socialidade comum significaria, aos olhos do neoliberalismo, institucionalizar a preguiça e o desperdício, consistiria em buscar uma forma de vida social e de fruição social, que não mais se organizaria em torno do imperativo econômico do crescimento constante.
Como a própria expressão sugere, o “estado de bem-estar social” põe (os neoliberais provavelmente diriam “força” ou “impõe”) existência à sociedade e, ao fazê-lo, restringe – ou mesmo ativamente prejudica – o desdobramento dos “potenciais criativos” da competição econômica. Dito de outro modo, ele restringe a “espontaneidade” do mercado por meio de regulações.[vii] Margaret Thatcher, portanto, não se preocupou em esconder ou mistificar que o neoliberalismo consiste fundamentalmente na construção de um estado antissocial; ele vem reforçar um sistema de anti-socialidade organizada (o que, aliás, o capitalismo em última instância sempre foi; e, nesse sentido, uma “economia social de mercado” é uma contradictio in adjecto).
Quando Jacques Lacan argumenta que o que constitui o mestre é a renúncia ao gozo, isso claramente não significa que vem a ser o mestre que renuncia ao gozo e, por meio desse ato de renúncia, torna-se um mestre antes de tudo. Ao contrário, o mestre é constituído por um ato em que a renúncia é violentamente imposta ao outro. A renúncia vem como um imperativo, ao qual todo ser humano deve se submeter. Este último é então colocado na posição de sujeito assujeitado. Conforme a etimologia, “subiectum” denota aquele que põe, que está na base da ocorrência de algo, mas significa também aquele que está sujeitado (unterworfen em alemão).
Seguindo essa linha de raciocínio, esse “sujeito” é uma pessoa cuja vida está nas garras do mestre; trata-se de uma pessoa que é despossuída de sua condição de pessoa porque não possui seu corpo (e, portanto, não possui a “sua” vida). Jacques Lacan fala em escravo como o exemplo paradigmático da espoliação absoluta do corpo e da vida. À condição de escravo estão associados também a mulher e o trabalhador em geral; ambos são constituídos por renúncias impostas por um poder dominante.
Exemplificam, outrossim, o modo como o “sujeito”, no capitalismo e fora dele, é negado, está despossuído de seu corpo no e por meio do processo de trabalho; tem-se, assim, as formas do trabalho forçado (escravo), do trabalho assalariado (trabalhador) e do trabalho reprodutivo (mulher). Eis que a trindade raça, classe e gênero está no cerne da renúncia ao gozo da vida que é inerente à “moral moderna”, mas ela já estava presente também nas relações de dominação pré-modernas; estas não desapareceram, mas, ao contrário, persistiram ao longo da modernidade e da pós-modernidade.[viii]
Quando Jacques Lacan fala da renúncia ao gozo que ocorre sob a forma do trabalho social, ele está pensando particularmente no trabalho assalariado, ou seja, na redução econômica da vida que consiste em tornar o ser humano uma força de trabalho valorizada e quantificada, uma mercadoria que o trabalhador, supostamente livre, dispõe e vende em um ato de troca mercantil.
Marx expôs cabalmente a assimetria radical que reside nesse quid pro quo aparentemente simétrico da troca de mercadorias (venda da força de trabalho por um salário). Em última instância, ao vendê-la, o trabalhador está comprando o direito de viver. Como se sabe, tal troca econômica ocorre em um universo simbólico hostil em que se aplica a regra moral “quem não trabalha não come”. Em outras palavras, aqueles que não se submetem à valorização sistêmica de seu próprio ser se torna um nada, passa a ser um não-ser (o qual precisa ser entendido novamente como uma falta imperativa e que foi imposta, ou seja, como um não dever ser).
É claro que o trabalho que aparece aqui como trabalho comandado não é uma atividade qualquer, mas apenas aquele que produz mais-valor. Daí a verdade implícita da regra moral “quem não trabalha não come”: “quem não produz mais-valor não trabalha afinal”. Dada a desvalorização do trabalho no capitalismo e a tendência sistêmica de degradar a vida profissional,[ix] todo trabalho tende agora a aparecer como improdutivo e redundante, como trabalho que nunca cumpre sua tarefa econômica e cuja produtividade nunca é convincente.
Passando para o outro lado da assimetria na relação de troca mercantil, vê-se então Lacan sugerindo que o ato de compra deve ser entendido como repetição, algo que não é isento de consequências:
Os ricos têm propriedades. Eles compram, compram tudo, enfim, compram muito. Mas eu gostaria que se meditasse sobre um fato, qual seja o de que eles não pagam por isso. […] Por que é que, tratando-se de um homem rico, ele pode comprar tudo sem pagar nada? Porque ele não tem nada a ver com a perda de gozo. Não é essa perda que ele repete. Ele repete a compra. Ele compra tudo de novo, ou melhor, o que aparece, ele compra.[x]
Jacques Lacan está falando, é claro, da classe afluente moderna (capitalista), já que a classe afluente pré-moderna não podia ainda comprar tudo. Por trás da aparência que consiste em investir recursos financeiros, há a apropriação contínua da vida de outras pessoas; há o cálculo, a manipulação, o jogo com o valor de outras pessoas.[xi] A repetição do ato de comprar, a compra sem pensar ou a valorização absoluta, em suma, constitui o comprador como o senhor da vida estrangeira; forma, por outro lado, o vendedor como sujeito de uma renúncia presumivelmente livre e voluntária da vida.
Como escreve Karl Marx: “O capitalista comprou a força de trabalho pelo seu valor diário; assim, o valor de uso da força de trabalho pertence a ele durante todo um dia de trabalho”.[xii] O valor de uso da força de trabalho está, em última análise, no corpo do trabalhador; ora, o capitalista adquiriu assim o direito de possuir o corpo do outro por um certo período. De modo mais preciso, como o senhor é uma abstração desencarnada, o seu corpo é, a rigor, o corpo do outro: do escravo, do servo, do trabalhador etc. Investir na produção, repetir o ato de compra sem pagamento (ou seja, sem que um quid pro quo real tenha de fato ocorrido) também compreende a acumulação de corpos de trabalho, uma forma pela qual o capital intensifica a sua própria corporeidade.
O corpo do capital não é redutível apenas à base material do “trabalho morto” (os meios de produção), mas compreende também a força de trabalho (ou seja, a fonte de “trabalho vivo”). Marx prossegue então com as famosas linhas que reduzem o capitalista à personificação (e não à corporeidade) do capital. Este consiste “numa força motriz única, o impulso de se valorizar, de criar mais-valor, de fazer com que seu passado constante, os meios de produção, absorvam a maior quantidade possível de trabalho variável excedente. O capital é o trabalho morto que, como vampiro, vive apenas sugando o trabalho vivo e vive quanto mais, mais trabalho ele suga.”[xiii]
De fato, o mestre vive da vida dos outros, mas essa característica não é específica do capital e de suas personificações sociais. Os senhores pré-capitalistas – o senhor feudal, o antigo senhor de escravos – já eram figuras caracterizadas pelo domínio parasitário. O capitalismo introduziu outro tipo de mestre, para o qual o vampiro é de fato uma metáfora bem escolhida: o mestre extrativista que transforma o trabalho vivo, por meio da exploração, em trabalho excedente não remunerado, a mais-valia de Karl Marx.
O extrativismo aqui obviamente significa mais do que a simples extração material de matérias-primas do ambiente natural; denota extração abstrata ou, mais precisamente, a extração de uma abstração específica (mais-valor) mediante o uso de materiais, corpos, da sociedade e do meio ambiente. O objetivo dessa extração contínua é sustentar a forma moderna de existência. Como Marx claramente escreve: o capital vive tanto mais, quanto mais trabalho ele suga.
É uma vida que não simplesmente se reproduz e, assim, se mantém em equilíbrio ou segundo determinado status quo, mas uma que cresce – uma vida em excesso que contém uma tendência ao crescimento. É de fato uma brilhante coincidência que Marx descreva essa tendência como “pulsão de vida” (Lebenstrieb). Pois, dado esse termo comum, é quase impossível não pensar na teoria freudiana das pulsões e, assim, no dualismo entre Eros e Tânatos, ou seja, aquele da pulsão da vida e a pulsão de morte.
Além disso, a metáfora do vampiro que Marx emprega não deixa dúvidas de que a condição inerente ao “Eros” capitalista é justamente a produção contínua da morte. A pulsão de vida do capital é, em suma, uma vida que se situa para além da oposição entre vida e morte – e que vive à custa de outra vida – uma vida “eterna” que semeia a morte e a devastação (da violência colonial à guerra perpétua ao colapso climático).[xiv]
Tal vida era desconhecida do senhor pré-moderno, pré-capitalista, mesmo que ele claramente baseasse seu poder na exploração do trabalho e na expropriação de corpos (pois se tratava de um sistema que não conhecia o mais-valor e que, portanto, não se pautava pelo “crescimento”). Mesmo que a ligação entre o trabalho e a renúncia ao gozo não seja nova, as consequências dessa ligação foram fundamentalmente alteradas pela introdução do tempo de trabalho como medida universal de valor.
Se o capitalismo impõe a renúncia ao gozo, as suas prioridades econômicas são sustentadas por uma demanda ascética que o torna uma ordem moral absoluta. É questionável, no entanto, se essa moral moderna e capitalista possa realmente ser comparada com a ética protestante do trabalho.
A referência de Lacan a Pascal certamente aponta em outra direção, sugerindo que o espírito do capitalismo vem a ser jansenista. Isso implica, entre outras coisas, que o trabalho em um contexto jansenista não pode ser entendido como um caminho para a salvação; distintamente, aparece como um processo sem sentido, compulsivo e redundante. No modo de produção capitalista, o trabalho é precisamente o oposto de uma garantia de salvação: torna-se um “caminho universal para o inferno” na medida em que sustenta um sistema geralmente hostil à organização, preservação e reprodução da vida (natural e cultural).
O jansenismo de Pascal mostra-se, assim, mais útil para melhor contextualizar o engajamento de Marx com o destino da vida sob a “absolutização capitalista do mercado”.[xv] Eis que se trata de uma ordem simbólica que impõe a renúncia a qualquer forma de vida que se isenta da tarefa de produzir mais-valor (direta ou indiretamente). Nas três primeiras palestras do XVI Seminário, Jacques Lacan apresenta a sua conhecida, mas igualmente controversa[xvi], homologia entre o mais-valor e o que ele doravante chama de mais-gozar.
Se se aceita essa homologia, também se deve aceitar que o gozo excedente, ou gozo entendido como excedente, é um modo de gozo especificamente capitalista e que não existe fora da modernidade. Essa tese tem uma surpreendente antecipação em Freud, já que ele, em algum momento. escreveu: “a distinção mais marcante entre a vida amorosa do velho mundo e a nossa, sem dúvida, reside no fato de que a antiguidade colocava o acento na própria pulsão, enquanto nós a deslocamos para o seu objeto. Os antigos celebravam a pulsão e estavam preparados para honrar por meio dela até mesmo um objeto inferior (minderwertig), enquanto nós degradamos (geringschätzen) a atividade pulsional em si mesma e encontramos desculpas para ela apenas no mérito (Vorzüge) do objeto”.[xvii]
As palavras alemãs minderwertig, geringschätzen e Vorzüge se referem diretamente à questão do valor. Quando um objeto é minderwertig (ou seja, de menor valor), isso significa, entre outras coisas, que o valor não é considerado uma característica chave desse objeto que liga a pulsão com esse objeto; em outras palavras, significa que a pulsão não se encontra fixada pelo/no valor do objeto. Nos termos de Marx, esse objeto não é um fetiche capitalista, o valor não constitui a sua qualidade essencial.
Já cenário capitalista, quando se vê um objeto, não se vê simplesmente nele algo que é mais do que ele mesmo e que transcende sua materialidade sensível. Não se vê uma mera corporificação do valor, mas, mais precisamente, percebe-se o movimento do valor, o valor como um excesso sobre si mesmo: eis que assim se observa o “mais” da mais-valia. Na modernidade capitalista, o objeto atrai a pulsão apenas porque possibilita o crescimento ou, mais precisamente, porque ele mesmo cresce. O objeto é um excedente, um mehr (mais) em Mehrwert (mais-valia).
Vale ressaltar que Freud fala da antiga “celebração da pulsão”, sugerindo que a pulsão deve ter atuado aí como uma força vinculante da comunidade ou da socialidade. Na modernidade, argumenta Freud, isso não é mais o caso. A atividade da pulsão é degradada, enquanto o status do objeto é elevado.
Ora, são os “méritos” do objeto e, particularmente, o seu valor, que legitimam a atividade da pulsão. Não é, portanto, tão peculiar, que Marx use o termo “pulsão” (Trieb) quando fala da dinâmica do capital, assim como de outras abstrações capitalistas. Como objeto da pulsão, o mais-valor torna a pulsão capitalista aceitável. A visão apologética do capitalismo admite abertamente isso, mas no mesmo ato de admissão obscurece – Marx diria, mistifica – a origem “impura” do mais-valor na violência sistêmica, da qual a exploração do trabalho é apenas o momento exemplar.
A pulsão se fixa no objeto, mas esse objeto é inerentemente instável. Quando o acento está na pulsão, os seus objetos podem ser trocados, enquanto na degradação moderna da pulsão, o objeto permanece o mesmo, mas contém movimento e mudança. Na antiguidade, a pulsão alcançava a satisfação independentemente do valor, enquanto na modernidade ela só pode ser satisfeita por meio do valor; consiste essencialmente numa pulsão por valor.
Há um deslocamento e ele vai da qualidade à quantidade. Daí que a diferença entre a economia libidinal pré-moderna e a moderna esteja na objetivação e valorização desse “mais” (crescimento); sabe-se que o crescimento constante também implica em insatisfação contínua e esta é uma característica essencial da organização capitalista da vida econômica, social e subjetiva.
Aos olhos dos defensores do capitalismo, a economia nunca cresce o suficiente, não existe crescimento “suficiente”. Portanto, repetindo, a sociedade deve ser abolida da esfera do ser, pois, ficando aí, denuncia a fratura inerente à organização da vida social. Expõe a contradição intransponível entre a socialidade que define o ser humano e a anti-socialidade capitalista, que obtém sua expressão na busca fanática do crescimento econômico em prol do crescimento.
A fixação no valor significa que a pulsão do capital não opera como uma força vinculante da sociedade, mas como uma força que desintegra, dissolve e desmantela a socialidade. Se os mestres pré-modernos já eram antissociais em sua violência, exploração e obscenidade, a pulsão moderna do capital funda-se na liberação do “potencial criativo” da anti-socialidade, na produção de mais-valor a partir da organização da anti-socialidade. Nesse sentido, a globalização representa, portanto, uma expansão contínua e violenta da anti-socialidade.
Nessa perspectiva, Triebverzicht, ou seja, a renúncia à pulsão, que, segundo Freud, é característica da condição cultural em geral, obtém uma torção adicional. No contexto da moral moderna (capitalista), Triebverzicht marca, antes de tudo, uma mudança na relação da pulsão com o objeto e, consequentemente, com sua própria satisfação. A renúncia não significa que a pulsão seja simplesmente cortada de alguma satisfação presumivelmente autêntica e imediata, mas que sua satisfação se torne indistinguível da insatisfação; que sua demanda por “mais” (excedente), por um lado, torna a satisfação impossível e, por outro, constante.[xviii] O que importa é a continuação do gozo – e é essa característica que une o modo moderno de gozo com a produção de mais-valia.
Ambos (valor e gozo) são abstrações objetivas caracterizadas pelo movimento e, como tal, fortalecem a identidade da satisfação e da insatisfação. Isso não significa, é claro, que a pulsão não se relacione com outros objetos; antes, extrai continuamente deles o “valor do gozo” (para lembrar a fórmula bem apontada de Jacques Lacan). Assim, poder-se-ia dizer que a fixação moderna da pulsão no objeto-excedente fundamenta um modo extrativista de gozo, assim como fundamenta uma economia extrativista no contexto social. Ambos implicam que o objeto sensível do qual o excedente deve ser extraído deve ser destruído. E a extração é em si uma atividade marcada pela violência e agressividade.
A renúncia à pulsão implica também que a cultura capitalista e científica moderna é uma cultura de repressão; essa foi a tese principal da persistente crítica freudiana à “moralidade cultural” predominante e à sua ligação com a “doença nervosa moderna”.[xix] É claro que isso não significa que as culturas pré-capitalistas conheciam apenas a satisfação não repressiva da pulsão e, consequentemente, não conheciam a repressão. Ainda assim, Freud parece sugerir que a ênfase na pulsão e não no objeto permitia nas sociedades mais antigas um modo de satisfação que não implicava completa indistinção da insatisfação. No vocabulário freudiano, o termo sublimação marca tal diferença entre o modo repressivo e o não repressivo de gozo.
Nessa linha, a noção de “dessublimação repressiva” de Herbert Marcuse visa apreender a mesma transformação da pulsão pré-moderna para a moderna, um deslocamento da sublimação para a repressão e, consequentemente, para a opressão (sublimação significaria a socialidade da pulsão e do gozo). O ponto-chave é que Herbert Marcuse usa o termo dessublimação para identificar tanto uma certa “vulgarização” do gozo quanto um aumento social da agressividade; eis que o fundamento dos laços sociais se encontra agora na agressividade ilimitada.[xx]
*Samo Tomšič é professor de filosofia na University of Fine Arts Hamburg. Autor, entre outros livros, de The Labour of Enjoyment: Toward a Critique of Libidinal Economy (August Verlag).
Tradução: Eleutério F. S. Prado.
Notas
[i] Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XVI, D’un Autre à l’autre (Paris: Seuil, 2006), p. 396
[ii] Não se pode evitar de mencionar aqui o fragmento muito comentado de Walter Benjamin sobre o capitalismo como um culto, uma dívida que não encontra redenção ou ato de graça (sans merci, como escreve). Weber e Benjamin, obviamente, cada um a seu modo, desenvolveram o espiritualismo do capitalismo (ou seja, o que aparece como fetichismo da mercadoria, capital fictício, valor que engendra valor, sujeito automático etc.). Ver Walter Benjamin, Kapitalismus als Religion, in Gesammelte Schriften, Vol. VI (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1991), p. 100.
[iii] N. T.: Para o jansenismo, o pecado é inevitável na vida humana. Daí advém um grande pessimismo em relação à natureza e ao destino do ser humano. Despreza, por isso, a vida e todas as obras, ainda que aparentemente meritórias, produzidas por aqueles que são, afinal, pecadores e infiéis. Essa corrente cristã se caracteriza também por um extremo rigorismo diante da fraqueza humana pecadora. Assim, aceita o sacrifício e o sofrimento como algo inevitável na vida do ser humano.
[iv] Em nossos tempos de colapso climático acelerado e de implosão da história, há pouco a dizer sobre a felicidade. Até os neoliberais entenderam que falar de felicidade equivalia a cair numa obscenidade. Por sua vez, os defensores do neoliberalismo não escondem mais sua face autoritária e pressionam por uma transição sistêmica para um neofeudalismo, no qual corporações e plataformas internacionais são os novos senhores feudais, os novos mestres abstratos e digitais que vivem da vida dos outros.
[v] Op. cit, p. 17.
[vi] O capitalismo é caracterizado pela invenção do que Marx chamou de “trabalho abstrato”, portanto, pela quantificação bem-sucedida de todas as formas concretas de trabalho, pois essa quantificação também subsome atividades e processos intelectuais. Freud também falou do “trabalho dos sonhos” e de outros tipos de trabalho inconsciente abstrato e impessoal.
[vii] A competição é entendida aqui como um laço social e como a determinação lógica fundamental de nosso ser social ou de nosso “ser-com-outros” no universo capitalista.
[viii] É claro que essas renúncias impostas não podem ser comparadas; ademais, a questão não vem a ser compará-las, pois isso reproduziria as relações competitivas que são, em si mesmas, um componente igualmente importante da moral capitalista. O capitalismo consegue desarmar os movimentos emancipatórios que, apesar de suas diferentes experiências históricas quanto a violência sistêmica, estão juntos numa perspectiva política. Ele os desarma, entre outros motivos, por reconhecê-los como identidades separadas que têm de competir por direitos e reconhecimento no mercado político.
[ix] O processo remonta às condições estruturais do modo de produção capitalista e só é exacerbado pelo capitalismo contemporâneo; Marx alude a isso de forma muito explícita em sua discussão sobre a chamada acumulação primitiva, mas essa linha abriria um capítulo longo demais para o presente texto.
[x] Jacques Lacan, Seminar, Book XVII, ” e Other Side of Psychoanalysis (New York: Norton, 2006), p. 82.
[xi] Quando Jeff Bezos, essa personificação da antissocialidade capitalista, voltou de sua excursão ao espaço, dirigindo-se aos trabalhadores mal pagos da Amazon e aos usuários dos serviços e consumidores da Amazon, disse que deveria agradecê-los – “vocês pagaram por tudo isso!”. Ao fazê-lo, ele demonstrou sem saber o ponto crítico de Marx: não só esse pagamento, feito pelos trabalhadores, das aventuras antissociais da viagem dos capitalistas ao espaço é antissocial (um “gozo”, como diria Lacan), mas, ainda mais fundamentalmente, constituem a base material sobre a qual se dão as especulações capitalistas com dinheiro e papelada (valor). Os órgãos de trabalho são reféns do sistema. O comentário cínico de Bezos admite isso de bom grado.
[xii] Karl Marx, The capital, Vol.1 (Londres: Penguin Books, 1990), p. 342. A sequência não é desimportante: Marx faz a pergunta altamente filosófica de qual ou quanto tempo deve ser a jornada de trabalho; responde que o capitalista tem suas próprias ideias sobre a duração da jornada de trabalho, sobre seu limite, ideias que não são naturalmente compatíveis nem com as do trabalhador nem com a capacidade do corpo de trabalho. O limite da jornada de trabalho é, em última instância, a morte, ou na melhor das hipóteses o “burnout”.
[xiii] Op. cit., p. 343
[xiv] É claro que a condição dessa eternidade é a produção da morte – e assim como um vampiro vive “eternamente” apenas com a condição de beber o sangue de suas vítimas, literalmente sugando a vida delas, assim a pulsão do capital vive apenas destruindo as condições planetárias de vida. A pulsão de vida do capital é, portanto, uma figura da pulsão de morte (em um sentido muito literal: a morte como pulsão).
[xv] Lacan, op. cit., p. 37.
[xvi] N. T. Uma crítica dessa “homologia” e de sua absurda consequência – fundar o capital numa subjetividade supostamente insaciável – foi feita em A infinitude do desejo e da riqueza (II), artigo publicado no site A Terra é Redonda.
[xvii] Sigmund Freud, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, in Studienausgabe, Vol. 3 (Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 2000), p. 149.
[xviii] Portanto, Freud chama a pulsão de “força constante”, mas essa constância tem consequências completamente diferentes quando se inventa um objeto que presumivelmente cresce continuamente e no qual “mais” e “não mais”, excedente e falta, estão se intercambiando.
[xix] Atualmente, dir-se-ia que a depressão é o sintoma social mais difundido; trata-se, como bem se sabe, de uma patologia gerada pelo sistema econômico capitalista.
[xx] Deve-se, portanto, defender a “hipótese repressiva” de Freud contra a crítica de Foucault, que confunde repressão e opressão. Ainda que a primeira fundamente a segunda (a repressão condiciona a agressividade), ela também representa o fundamento de um modo de gozo enraizado na demanda por mais e mais. Repetindo, a repressão não corta a pulsão de alguma satisfação direta presumível, mas sim da possibilidade de satisfação temporária; libera o potencial problemático do “mais” (encore), fazendo com que a insatisfação determine a satisfação. No mecanismo da repressão, a falta de gozo e o gozo excedente, a insatisfação e a satisfação condicionam-se mutuamente, inserindo o sujeito num círculo vicioso. Além disso, ao incitar a agressividade na perpetuação da insatisfação, o regime de repressão reforça o caráter antissocial da pulsão; daí a crescente preocupação de Freud com o problema da agressividade em sua obra posterior. Há um destino específico dessa virada agressiva da pulsão: ela se volta contra sua própria pessoa (Wendung gegen die eigene Person), seu portador psicológico, o sujeito e seu corpo. A agressão, voltada para dentro e para fora, torna-se então a principal característica do modo moderno de gozo. Pode-se relacionar isso com a problemática do ressentimento, sendo este último o efeito central da extensão capitalista da competição a todas as esferas da práxis humana.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA