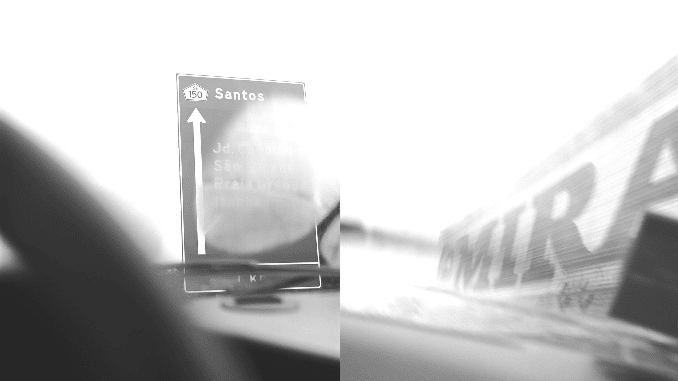Por AIRTON PASCHOA*
Considerações sobre os dois curtas-metragens
Os curtas-metragens de estreia de Joaquim Pedro já dizem algo da trajetória desse cineasta central do Cinema Novo, e por extensão do cinema moderno no Brasil.[1] O Mestre de Apipucos e O Poeta do Castelo, ambos de 1959, se apresentam como documentos da cultura brasileira, um projeto que contava em sua intenção original filmar o dia a dia de grandes escritores brasileiros então vivos, caso de Guimarães Rosa e de Carlos Drummond de Andrade, que gentilmente declinaram do convite, por horror à exposição.[2]
Reconstituindo respectivamente o cotidiano de Gilberto Freyre e de Manuel Bandeira, representam, cada qual a sua maneira, dois documentos preciosos, — o segundo, verdadeira obra-prima, e o primeiro, mais datado, mais congelado no tempo, mas capaz igualmente de surpreender certa face do retratado, e até, malgrado a sobreinterpretação, certa constância histórica de nossa vida moral e intelectual; do mesmo modo como documentam, retratista e retratado, cada qual a sua maneira, certa experiência da desagregação do patriarcado brasileiro.
Os retratados, e o teor de seu primeiro projeto, mesmo não realizado integralmente, atestam sua ligação umbilical com o Modernismo brasileiro. Nascido em boa família mineira, filho de Rodrigo Mello Franco de Andrade, afilhado de crisma do próprio Manuel Bandeira, o cineasta mencionou diversas vezes sua criação em meio aos expoentes do movimento modernista, Mário de Andrade, Drummond, Pedro Nava, além do próprio Bandeira, que então frequentavam a casa do pai, amigo de todos eles e por todos querido, aquinhoado que fora, como diz o poeta em seu Itinerário de Pasárgada, com o “gênio da amizade”. Não custa lembrar, por exemplo, para rematar as vastas ligações paternas, o final do prefácio à primeira edição de Casa-grande & Senzala, datada de Lisboa, 1931, e Pernambuco, 1933: “Um nome me falta associar a este ensaio: o do meu amigo Rodrigo M. F. de Andrade. Foi quem me animou a escrevê-lo e a publicá-lo”.
Não se encontra, no entanto, na tão decantada ligação com o Modernismo de 20 o traço diferencial do diretor. Seus filmes não se resumem, no fim das contas, a Macunaíma e O Homem do Pau Brasil. O Joaquim canibal, concretamente “antropofágico”, por mais positivo que sejam seus últimos filmes, por deliciosa que fosse a melancia tropical,[3] não nos deve fazer esquecer, muito menos calar o travo amargo de sua trilogia nuclear.[4] Noutras palavras, devoração ocorrendo, advertiria um crítico exigente,[5] entramos como banquete, não como conviva. Antropofagia? Se quiserem, por que não? mas negativa.
Nem a ligação com a literatura brasileira em geral dá conta da peculiaridade do diretor, de resto traço comum a quase todos os nossos cineastas modernos, cinemanovistas ou não, cujo número e cuja qualidade de adaptações testemunham o empenho da nova arte em consagrar-se, à maneira do romance nacional, como “instrumento de descoberta e interpretação”, nas palavras de Antonio Candido em subcapítulo famoso.[6]
É por demais conhecida a estima, para ficar no mais visível, de Glauber Rocha por Euclides da Cunha e Guimarães Rosa, de Nelson Pereira dos Santos e Leon Hirszman por Graciliano Ramos e Lima Barreto, de Paulo César Saraceni por Lúcio Cardoso, de Roberto Santos por Guimarães Rosa, e por aí vai – dispensando-me de arrolar o nome de tantos filmes inspirados, notórios e notáveis por variados títulos. Certa formação literária, certo cultivo das letras, certas obsessões literárias pessoais, confessas ou não, certa centralidade da literatura, em suma, era francamente a norma no Brasil até mais ou menos meados do século XX, quando a cultura audiovisual e midiática estava ainda obviamente longe de se autonomizar, não havendo que estranhar, portanto, serem as letras recurso sempre à mão.
Se disséssemos que Joaquim Pedro problematiza suas fontes literárias, atualizando-as criticamente, ainda assim não daríamos com sua marca registrada. Todos os cinemanovistas, em maior ou menor grau, com maior ou menor talento, partilhavam o mesmo programa, preocupados que estavam em transpor para tela a realidade brasileira. Não é em outro sentido que se acusam analogias entre o Modernismo e o Cinema Novo, uma espécie este de politização do “nacionalismo cultural e da experimentação estética” do primeiro.[7] Os cinemanovistas todos, fácil de prever em cinema eminentemente político, não podiam prescindir da abordagem reflexiva e investigativa; do contrário… não passariam de acadêmicos.
Se não é exclusivamente a ligação com a literatura o que distingue Joaquim Pedro, nem com certa literatura, o Modernismo de 20, como muitas vezes se aponta parcialmente, nem a problematização dos textos literários, com sua atualização crítica e a renovação do seu poder de fogo, apanágio quase obrigatório de um movimento estético politizado como o Cinema Novo, haveria realmente alguma marca anterior, de nascença?
Literatura, Modernismo de 20, problematização das fontes, atualização crítica, politização dos textos, são todos traços evidentemente que ajudam a desenhar o perfil de diretor, mas não o singularizam em meio ao movimento cinemanovista. O que o particulariza, sem que isso adquira necessariamente foros de superioridade, é sua atração pelo quase infilmável, sua fascinação pelo quase inadaptável.
Dito de outro modo, Joaquim problematiza textos em si já altamente problemáticos a qualquer empresa cinematográfica. Suas escolhas são, deste ponto de vista, mais perturbadoras. Não são apenas romances por assim dizer mais refratários à adaptação literária que ganham a tela, como a rapsódia macunaímica, senão poemas, autos de processo, minicontos, até manifestos e prefácios… Não se tratando de adaptar apenas ficção, o ensaísmo modernista, moderno, que sei eu? também não o deixaria indiferente. Basta pensar em seu último projeto, devidamente roteirizado: filmar Casa-grande & Senzala.[8]
(Para mal avaliar o que perdemos com a morte precoce do cineasta em 1988, aos 56 anos, pr’além d’O imponderável Bento contra o Crioulo Voador, d’O
Defunto, projeto fundado na volumosa memorialística do Pedro Nava,[9] é suficiente ver, produzido para o GNT em 2001 em quatro episódios de quase uma hora cada, o Casa-grande & Senzala do Nelson Pereira dos Santos… turístico, incensório, demagogo, enjoativo.)
Gilda de Mello e Souza observa, apelando para a psicologia do criador, um “método peculiar” do cineasta, sempre pronto a contrariar expectativas, a tomar as veredas mais tortuosas da transposição do texto, em oposição a caminhos obviamente mais naturais.[10] Calculemos os efeitos desse método do contra, portanto, aplicados a matéria mais ou menos insubordinável. Será o avesso do avesso do avesso… que pode dar certo, sem dúvida, e deu muitas vezes, como pode também dar em malversação de recursos cinematográficos.[11]
A ousadia sabidamente paga seu preço, e cobrá-lo faz parte do bom comércio intelectual. Estamos convencidos que se sentem todos, seus espectadores e admiradores, mais que bem pagos, gratificados. É precioso o espólio. A responsabilidade estética, contudo, também cobra sua dívida, estimular as novas gerações a ampliar o capital simbólico acumulado.
É sua audácia, pessoal e coletiva a um tempo, individual e nacional em certa medida, — a aventura estética de Joaquim Pedro de Andrade, enfim, artística e política, com seus altos e baixos, assumida, porém, com o rigor e a honestidade da grande arte, que deve ocupar a tarefa reflexiva. Um desafio que modestamente aceitamos, na medida de nossas forças, sem omitir, por fidelidade de princípios e respeito à integridade moral e intelectual de nosso autor, as eventuais escoriações de lado a lado, doídas decerto, mas naturais num corpo a corpo com obras arredias de um temperamento igualmente arredio.
Não haverá maior elogio que a crítica.
Gigante adormecido
No plano que abre O Mestre, lá o vemos descendo do imponente solar de Santo Antônio de Apipucos em Recife (hoje Fundação Gilberto Freyre); passeando de manhãzinha pelo jardim “rústico”, entre “mangueiras e jaqueiras”; escrevendo em “tábua de pinho-de-riga”, espichado na poltrona, em sua vasta biblioteca, a tomar vários cômodos; tomando “café com leite frugal”, servido por sua mulher Madalena, enquanto lê a correspondência trazida numa bandeja por Manuel, “há muitos anos com nossa família”, um criado negro trajado a caráter; descansando na praia de Boa Viagem, cuja “cor do mar” o Mestre nunca se cansa de admirar desde menino; pondo paternal a mão no ombro de Bia, a cozinheira, a fritar “o melhor peixe de Pernambuco, a cavala-perna-de-moça”, sempre “sob a direção de Madalena, minha mulher”; preparando, “quando há convidados”, uma batida de pitanga, maracujá e hortelã, “tudo do sítio de Apipucos”; deitado de tardinha na “rede do Ceará”, com o gato aos pés e a mulher ao lado, tricotando, enquanto cachimba gostosamente, “lendo ou relendo algum livro fora dos de minha especialidade”.
Se não soubéssemos de quem se trata, continuaríamos provavelmente na mesma situação de ignorância. Vemos ali um senhor, pela casa dos sessenta, a desfiar suas propriedades e a desfilar por elas, uma casa grande, com antigos azulejos portugueses, um jardim tropical, uma biblioteca respeitabilíssima, a servi-lo uma boa mulher e um criado fiel (ou vice-versa), saído sabe Deus de que catacumba da história com aquela libré, uma praia praticamente privada, uma cozinheira dedicada, a preparar-lhe o melhor peixe da região, ingredientes nativos para uma boa batida, no caso de visitas, a frisar a importância social do distinto, uma boa rede onde descansar os ossos do ofício, cercado da mulher e do gato de estimação (ou vice-versa), com um bom cachimbo e um bom livro de poesias, a distraí-lo de sua ingaia ciência.
À obra do célebre sociólogo, porém, nada, nenhuma referência direta. É verdade que aqui e ali despontam alusões, que, logo na abertura do filme, damos de cara com aquele casarão todo… uma casa-grande! a tomar conta da tela inteira quase, que o personagem é estudioso metódico, pela biblioteca monumental, pelo trabalho diário nela, pela menção a sua “especialidade”… Acerca do que fez ou faz, de seu trabalho passado ou presente ou por vir — nada.
Silêncio justificável, sem dúvida. Não era um documentário comum, buscava-se flagrar o homem no seu dia a dia, reproduzir em imagens o que ele mesmo escrevera de sua atividade diária. Ademais, o sociólogo e sua obra dispensavam apresentações. Justificável, sem dúvida. Apenas a reparar que não era ele um “autor” comum, que sua conversão em “homem” estaria a um passo de convertê-lo em “personagem” seu…
Eis como, por obra de operação quase singela, comparece diante de nossos olhos o Brasil patriarcal em pessoa, espécie de presença viva, mas fantasmagórica de um passado que ainda assombra. Para além ou aquém do autor, vemos assomar certa personagem histórica familiar, o filho ilustre da casa-grande, o fidalgo letrado e amante de genealogias e honrarias, sempre pronto a proclamar a distinção, sejam os “mais de 20 mil volumes espalhados por várias salas”, sejam os azulejos do século XVIII, vindos de Portugal, de sua “velha casa de engenho”.
Antes do célebre estudioso do patriarcalismo brasileiro, deparamos seu cultor devotado; mais do que o pensador, do que o senhor de engenho outrora poderoso na mobilização feliz das várias ciências humanas, “cujo grande livro [Casa-grande & Senzala] sacudiu uma geração inteira, provocando nela um deslumbramento como deve ter havido poucos na história mental do Brasil”,[12] deparamos o oligarca, o aristocrata rural, o proprietário, enfim, cioso dos galardões e troféus acumulados ao longo da carreira de glórias.
Como se percebe, estamos longe aqui do Freyre revolucionário, que, com sua investigação da família patriarcal, lhe revolvendo a intimidade, ajudou a compreender a ausência de alteridade na sociedade brasileira, graças ao devassamento do outro, de cuja posse podia o senhorio se regalar a gosto.[13] Aqui não podemos nem imaginar “aquele Gilberto” que recorda Antonio Candido por ocasião de sua morte em 1987, “aquele Gilberto” de 1933 a 1945, “um dos maiores exemplos de resistência e de consciência radical no Brasil”, por sua luta contra a ditadura do Estado Novo, aquele “mestre da radicalidade” que subverteu “a concepção de história social, falando com saboroso desafogo de sexo, relações de família, alimentação, roupa”, além do “discernimento iluminado com que sugeria a importância dos traços menores, dos fatos humildes: o cumprimento, a receita de doce, a festa de padroeiro, o bigode, o anúncio de jornal, a anedota”, a ponto de rasgar, sem nenhum exagero, “um horizonte novo, obrigando todos a encarar de frente a herança africana, deslocando o eixo interpretativo da raça para a cultura, dosando com extraordinária inventividade o papel simultâneo da paisagem física, da casa, do regime alimentar, das relações domésticas, do sistema econômico, das formas de mando, do sadismo social”.[14]
Também não estamos, todavia, no caldeirão dos anos 1960, ante o Gilberto excomungado pela esquerda com assumir posições cada vez mais reacionárias, combatendo as Ligas Camponesas, verberando o comunismo internacional, apoiando o regime militar, fazendo programa para a Arena, e por aí afora.[15]
No final dos anos 50, estamos diante daqueloutro Gilberto, pacificado pelos anos, cujos livros então recentes vinham constituindo a “filosofia oficial do colonialismo português” na África;[16] aqueloutro Gilberto lusotropicalista, para exportação e usufruto do império luso,[17] cuja faceta de ideólogo, contudo — cabe advertir — andava como que meio clandestina à época.[18]
Será o Gilberto dos anos 50, o patriarca confortado e reconfortado, que fixará o primeiro curta de Joaquim Pedro. Nem o revolucionário da primeira hora nem o reacionário dos anos 60, tampouco o ideólogo semiclandestino do imperialismo luso. O curta fixa o Gilberto conservador, reproduzindo mais ou menos a visão que se foi assentando em torno dos descaminhos do Mestre de Apipucos.
Nesse sentido o que faz o filme matreiramente é permutá-lo, como vimos, de sujeito em objeto, de autor em personagem do próprio livro. Tirando partido de um trecho de prosa dos menos felizes do prosador admirável que foi o Freyre das primeiras obras, de Casa-grande & Senzala, de 1933, dos Sobrados e Mocambos, de 1936, e aparentando apenas reproduzir em imagens a narração do próprio Mestre, em sua reconstituição prosaica do cotidiano, o curta, malicioso, parece se deliciar em acentuar as fraquezas, o provincianismo do grande senhor, em convertê-lo numa espécie de sobrevivente, de remanescente vivo de seu objeto de pesquisa.
Não nos iludamos, no entanto. Fixado o foco, nem tudo se vê clara e distintamente. O retrato, severo, parece por vezes abrandar. Às palavras de Freyre, escritas de próprio punho e narradas de própria voz, se sobrepõem imagens do diretor que criam certo jogo, certa duplicidade entre retrato, irônico, e autorretrato, comemorativo, podendo às vezes confundir, levando-nos a suspender o juízo, a indagar até que ponto se trata mesmo de ironia ou zombaria da parte do jovem filho do velho amigo. Mais enfaticamente, podemos nos indagar até que ponto mesmo se desconjugam imagem e voz.
Há atenuantes, não há duvidar. O ator, convenhamos, não ajudava, tamanha a falta de naturalidade, a canastrice da autoencarnação — a leitura da correspondência à mesa do café, o beijo na testa da mulher, a mão na barriga de fome… beirando o mazzarópico. Depois, quem sabe tudo poderia não passar de um mal-entendido, um desajeito de ambas as partes, de um velho intelectual intimidado ante a exposição e um jovem diretor ainda canhestro, aprendiz do novo mister e seus mistérios. Mas, quando nos detemos em algumas cenas, sem falar na fala impostada, sobrevém a suspeita. Botar a mão patriarcalmente familiar no ombro da cozinheira? Reduzi-lo a gatinho lambendo os beiços de satisfação? (Lapso de continuidade?) Ler à rede, cachimbando, enquanto a mulher costura? E o toque de classe final: fazê-lo servir-se pelo criado negro de libré?
(Aliás, diga-se entre parênteses, a molecagem do jovem filho do velho amigo bem podia entrar, conforme anotava em folha sobre “tábua de pinho-de-riga”, na obra que pensava Freyre: “Um livro que alguém precisa escrever é este: a história da vida de estudante no Brasil”.)
Se às vezes pode persistir a ambiguidade entre retrato e autorretrato, se o jovem diretor não soube, por inexperiência, dosar a mão, passando da brincadeira leve, ao enquadrar com humor a “ordem particular” de sua mesa de trabalho, bagunçada de livros e notas, à quase molecagem, aproximando-o de um bichano satisfeito, — se não houvesse enfim deliberada intenção zombeteira, a sequência de abertura, de qualquer modo, pode ressumar ironia por quase todos os poros da película. A casa-grande, tornada enorme na tomada meio lateral, e envolta pelo canto marista dos vizinhos, evoca uma igreja, um verdadeiro templo, desencadeando ressonâncias quase incontroláveis. Saindo de um templo…!? passeando pelo paraíso…!? semideus? Adão do Novo Mundo? desbravador? descobridor…? mas de bengala!?
Interpretada nessa clave a abertura, e até onde podemos falar dele em tão curto curta, de nove minutos, o desenvolvimento prossegue em tom menor. De Adão do Novo Mundo, embora velho, senhor do paraíso tropical, embora trôpego, desce a fidalgo letrado, enredado numa floresta de livros; chega a proprietário, cultuando comunitariamente a própria personalidade à frente de um altar de azulejos; passa por patriarca nostálgico, saudoso dos seus oito anos; assume a condição de distinto aristocrata nacional, cultivando as tradições populares, como convém à nobreza da terra, com uma boa batidinha; domestica-se num gatinho inofensivo, até terminar patriarcalmente enredado em boa rede.
Em tais subidas e descidas, para bem ou para mal, com mais ou menos cambalhotas, com maior ou menor intenção galhofeira, a distância que se vai ao fim cavando é tal, que nos perguntamos se estamos diante mesmo de um descobridor do país… Mas estamos. Não bastasse a casa-grande de abertura, a música de Villa-Lobos Descobrimento do Brasil,[19] suíte orquestral originalmente composta para o filme homônimo de Humberto Mauro, de 1937, não deixa dúvida.[20] Alude ao tema da descoberta do País pelo sociólogo na década de 30.
A menção à obra, porém, à moda de “fundo musical” de abertura, continua a confirmar a distância entre o passado e o presente, a figura e o fundo, entre o conservador de então e o revolucionário dos primeiros tempos. O passo escolhido, de “evocação da calma do mar”,[21] sublinha os tempos de calmaria, pós-épicos, por assim dizer, que curtia então o marujo reformado, esquecido dos mares nunca dantes navegados. Do mesmo modo, na biblioteca, em lugar do “largo apaixonado”, como se podia esperar, “sugerindo a determinação” do conquistador, como diz o crítico musical, ouvimos melancolicamente… Bach![22] Ao sair da cozinha[23] depois do café, abrir uma porta e como que a divisar o infinito horizonte, ou então na praia, andando em direção do épico mar, se perde nova oportunidade. Em vez do “largo apaixonado”, como se podia esperar, “sugerindo a determinação” do conquistador, volta outro Bach… lento grave, melancólico. De volta à cozinha, entra com Villa-Lobos e seu Prelúdio n.º 2 para violão, tido tradicionalmente como homenagem ao malandro carioca, brejeiro…[24]
Brejeiro, Freyre?! Capadócio?[25]
Talvez a palavra “capadócio”, em sua evolução semântica, manifeste mais que a ambivalência do jovem diretor de esquerda, misto de reverência (pouca) e (muita) irreverência, em face do amigo conservador do pai. De “seresteiro”, modernista, a “cabotino”, passadista, — haveria retrato mais fidedigno?
Descobrimento do Brasil, para terminar, abrindo o curta, vem a acentuar, em sua passagem serena, o processo de acomodação do intelectual. De pensador original, verdadeiramente inaugural, com direito, num vislumbre positivo, a baixar de templo, tocado de música sacra e senhor de um paraíso tropical, por onde deambula com seu feraz cajado, o reencontramos ao fim, repassado o cotidiano de proprietário ilustrado, qual senhor de engenho (nos dois sentidos, sempre) aposentado… enredado na rede.[26]
A rede não é nova e apanha muita gente.
Não é, entretanto, na conversão de sujeito em objeto, do Freyre estudioso no Freyre patriarca, do autor de Casa-grande em personagem da casa-grande, que reside — hoje, a nosso ver, o interesse maior do curta. Desde o início nunca ocultou o Mestre de Apipucos suas origens sociais, ostentando, aliás, com orgulho, sua condição de membro egrégio de ilustre linhagem da oligarquia nordestina. A reflexão, a interrogação que pode nos inspirar o filme, mais aguda e contemporânea, passa por tal caracterização, mais ou menos cediça de todos e sempre assumida pelo próprio personagem, sem se resumir apenas a ela.
Que trajetória comum é essa que parece não poupar a quase ninguém? De Freyre a Fernando Henrique, a história se repete, como tragédia, sempre. Que país é este que adormece as melhores cabeças? Que sono profundo é este que nos faz esquecer os melhores sonhos?
Não queremos com isso generalizar indevidamente uma trajetória pessoal, remontando os autos contra os intelectuais brasileiros, incapazes de romper radicalmente com suas amarras de classe. Trata-se talvez de apurar o olho e o ouvido para perceber quanto ainda pode subsistir de alheamento em nossa condição intelectual, cuja atividade, mesmo quando transformadora, corre risco, sempre iminente, de se embalar no sono profundo do gigante adormecido.
A desconfiança joaquiniana ressurgirá uma década e pouco depois, em outras circunstâncias históricas, com Os Inconfidentes, de 1972. De qualquer modo, não se pode negar, razoavelmente fundada, queremos crer, já certa prevenção do jovem cineasta com os intelectuais de seu círculo, e classe.
Bandeira popular
O alheamento, o confinamento, o “encastelamento” intelectual, poderia comprová-lo também, não fosse explorado em direção diametralmente oposta, o outro curta-metragem, O Poeta do Castelo, pequena obra-prima que data do mesmo ano d’O Mestre de Apipucos, 1959, e com o qual compunha um tipo de díptico.
Embora brutalmente truncada,[27] a abertura do filme sobre Manuel Bandeira deixa escapar um plano relâmpago da capelinha da Glória e o início do “Poema do beco”, na voz do poeta: “Que importa a paisagem”.[28] O dístico decapitado, dito quando a câmera fechava sobre o livro que lia o Mestre na rede, Poesias, encimado pelo nome do primo, anunciava a primeira encarnação do Poeta do Castelo.
Imediatamente em seguida à vida razoavelmente confortável de Freyre, causa impressão funda a figura frágil do poeta, percorrendo o “beco”, uma rua suja, entre prédios feios, chegando à vendinha para comprar leite, tossindo a velha tosse de sempre. Nessa situação, de descida da “casa-grande” aos “mocambos” do centro do Rio de Janeiro, que importa a paisagem do Brasil antigo, a glória do Brasil patriarcal, se o que se vê é o “beco” do Brasil? — parece sugerir a abertura do curta.
E o poeta caminha, por detrás de engradados de bebida, até chegar à porta da mercearia, parar à entrada, passar o litro de leite vazio ao dono, abaixar a cabeça e tossir com a mão na boca, mansamente. Enquanto espera o leite, a câmera aproveita e dá um passeio pelo local, acentuando-lhe a feiura e a sujeira. De posse do litro cheio, o poeta vem caminhando vagarosamente, se detém, olhar sofrido, e solta, como que pensando, os três primeiros versos de “Belo Belo”: “Belo belo minha bela/ Tenho tudo que não quero/ Não tenho nada que quero”. Voltando a caminhar, o poeta é olhado em mergulho, de cima, por entre o lixo da rua, pequenino, “menor”, órfão quase, de leite na mão, até chegar ao prédio, quando um plano em contramergulho faz crescer assustadoramente o edifício, tornando-o uma espécie de sentinela intransponível e indiciando a sensação de opressão e aprisionamento do poeta.
A primeira sequência do filme, regida pelo segundo movimento (Prelúdio/Modinha) das Bachianas n.º 1, tristonho, tristonho, traz naturalmente à memória o poeta que viveu, numa “rua em cotovelo, no coração da Lapa”, o seu beco, de 1933 a 1942, e que contemplava da janela de seu quarto, como narra no Itinerário de Pasárgada, de 1954, “o becozinho sujo, embaixo, onde vivia tanta gente pobre — lavadeiras e costureiras, fotógrafos do Passeio Público, garçons de cafés”, desviando-lhe os olhos da paisagem mais turística e amena, “as copas das árvores do Passeio Público, os pátios do Convento do Carmo, a baía, a capelinha da Glória do Outeiro”. E completa o poeta: “Esse sentimento de solidariedade com a miséria é que tentei pôr no ‘Poema do Beco’ (…)”.
Continuando o registro poético da pobreza, é também o cotidiano humilde,[29] iniciado com a compra do leite na esquina, que dará o tom da segunda sequência, quando o edifício-sentinela se converte, via corte analógico, no paneleiro, um “prédio” de panelas, visto de baixo pra cima, em contramergulho, do qual o poeta tira uma panelinha pra esquentar o café e o leite.
Dentro da cozinha do apartamento, deparamos então o poeta de roupão, preparando devagarinho seu café da manhã, abrindo prateleiras, esquentando o leite na panelinha, fazendo duas torradas na torradeira, apanhando a xícara sob a campânula, arrumando a bandeja, indo até a mesa à janela, abrindo-a, sentando-se, passando a manteiga no pão, e começando a tomar o café. Em meio a gestos prosaicos e vagarosos, a voz do poeta vai desenrolando seu famoso “Testamento”.[30]
Ao vê-lo assim, de roupão, preparando o próprio café, assoprando, para pegar fogo, a boca do velho fogão, pobre e solitário, não podemos deixar de recuar ainda mais no tempo, a 1920, quando o poeta, perdido o pai e mudando-se para rua do Curvelo, se dá conta da extensão de sua orfandade: “era só que teria de enfrentar a pobreza e a morte”. Como declara no Itinerário, a par da “pobreza mais dura e mais valente”, que via de sua janela, e dos “caminhos da infância”, que reaprendia com a “garotada sem lei nem rei”, restituindo-lhe a meninice em Pernambuco, o poeta credita ao “ambiente do morro do Curvelo”,[31] onde viveu até 1933, “o elemento de humilde cotidiano que começou desde então a se fazer sentir em minha poesia”.
Prosseguindo a reconstituição de seu “humilde cotidiano”, vamos encontrá-lo a seguir na sala da biblioteca, depois de abrir a janela, iniciando seu trabalho diário, e pensamos discernir alguma coisa de sua mitologia pessoal e literária, em meio aos livros, recordações e retratos (do pai jovem? de Jaime Ovalle?), como a “estatuazinha de gesso” companheira.[32] O poeta abaixa pra pegar um livro, folheia-o, devolve-o, procurando outro, pegando-o… Num corte, já o surpreendemos sem roupão, deitando-se na cama, puxando a máquina de escrever, pondo o papel, começando a trabalhar. Nessa sequência a câmera dedica-lhe culto fervoroso, mas delicado, tomando-o de frente, de perfil, como que a girar-lhe ao redor, incensando-o de leve, focando-lhe as mãos à máquina batendo, consultando o dicionário… É somente neste instante que nos damos conta que o poeta que vemos não é exatamente o poeta da Lapa, ou o poeta do Curvelo; que este poeta não é exatamente o poeta do beco.
Em 1959, com 73, 74 anos, relativamente célebre, o Poeta do Castelo gozava o justo privilégio do reconhecimento em vida. Recordamos até, de passagem, seu busto esculpido, na biblioteca… (e que uma tomada procura pôr em destaque, lado a lado quase, ambos os bustos, o de bronze e o do poeta, agachado, procurando um livro e voltando a cabeça para trás, como que a pedido do diretor). Com quase vinte anos de Academia, em que entrou em 1940, estamos diante, em verdade, do poeta consagrado, e quase que literalmente, pois no ano anterior, em 1958, saíra em papel-bíblia a edição de suas obras pela Editora Aguilar. Não bastassem as luzes consagradoras do cinema (cuja aura andava então mais luminosa), o poeta podia agora dar-se ao luxo de “desmentir-se” publicamente, parando e indo averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo.[33] Em suma, estava naquela posição de quem cansara de ser moderno para ser eterno…
Somente aqui nos damos conta que o curta operou um largo recuo temporal, como que voltando ao poeta da Lapa e ao poeta do Curvelo, a sua vida nas décadas de 20 e 30, recriando, desde os primeiros planos, o poeta do beco, anunciado na abertura truncada.
O afunilamento, na passagem do “beco” à cozinha, não significa, como vimos, nenhuma ruptura. Pobre e doente, carente, “lânguido e lamentoso”, aprisionado e barrado pelo edifício-sentinela, eis o poeta que chega para o café da manhã. Na mesma atmosfera humilde, preparando o desjejum modesto, o poeta como que atesta, pelas perdas sucessivas que enumera seu “Testamento”, — o afunilamento de sua vida… também ela transformada num beco sem saída. (Por onde saiu ele e por que caminho veio a encontrar os homens, dá testemunho sua obra “humilde”.)
Na cama,[34] interrompida a consulta ao dicionário pelo telefone a tocar, o poeta o atende, e ri tão gostosamente que quase o ouvimos em seu riso franco. Depois de o desligar, após breve hesitação, ameaçando voltar ao trabalho, salta da cama decidido, em ritmo de fuga ou fugato, e começa a se arrumar, desabotoando o pijama.[35] É quando principia a sequência final, rumo a Pasárgada, sob a égide do popular poema.[36]
De calça e camisa, sentado na cama, em completa intimidade, “o amigo do rei” põe as meias furadas, bota a gravata no terraço, com o Santos Dumont ao fundo, finalmente aprendida a lição de partir que lhe dava o aeroporto “todas as manhãs”.[37] Na sala, de paletó, pronto, abre um móvel para pegar dinheiro, documentos, — não sem antes um plano demorar-se um pouco em seu sofrido “gessozinho comercial”, à maneira de despedida do velho companheiro, — e enfiá-los no bolso. Já na rua, em mais um corte contínuo, o vemos tirando a mão do bolso e pagando o jornal na banca, caminhando pela calçada, lendo-lhe um pouco as manchetes, interessado, encontrando um transeunte (amigo? admirador?), abraçando-o brasileiramente, atravessando a rua, até o canteiro central da avenida, passando em frente da Academia Brasileira de Letras, continuando a caminhar pela alameda, sob a copa das árvores, em passos firmes e resolutos. A câmera que o acompanha, procede no final a fulminante movimento de elevação, transcendente, do chão ao céu, como a seguir-lhe a sombra (alma?), até seu destino final, Pasárgada… O outro mundo?[38]
Terminado o curta, não podemos deixar de notar que o poeta-torpedo, firme, resoluto, livre, está longe daquele velhinho frágil, desolado e melancólico da primeira parte do filme. Resolutamente caminhando em nossa direção, frontalmente, quase marchando, salta aos olhos o contraste. Como isso ocorreu, e tão naturalmente que quase deixamos escapar?
Recompondo em linhas gerais o curta, não observamos propriamente rupturas. As transições, suaves, são conduzidas de ordinário pelas músicas, que marcam o andamento espiritual do poeta. Lamentoso no beco, sob a “modinha” do Villa-Lobos, intimista e melancólica na biblioteca, a toque da Pavana para orquestra e flauta (op. 50), de Fauré, e… gazeteira no fim, acompanhando os passos de Pasárgada.[39] Mesmo na sequência da biblioteca ou da cama, incensado pelo afilhado, mal se percebe a mudança, a passagem do tempo. É como se sua atividade literária, longamente mirada e admirada (um minuto e meio!), convocasse de repente nossa atenção, escancarando a “elipse temporal”,[40] o salto do passado ao presente, do poeta do beco ao Poeta do Castelo. O único instante em que poderia vacilar a harmonia interior do filme, suspensa em versos e acordes, assinala justamente o início da última sequência. Único ruído ambiente do filme, a campainha do telefone, insistente,[41] reproduz o chamado do mundo, Pasárgada e sua promessa de felicidade terrestre.
A naturalidade alcançada é já obra de certo virtuosismo da parte do diretor, pois Joaquim Pedro parece fazer questão de caprichar nos enquadramentos e nos encadeamentos.[42] Mas a evidência da descontinuidade temporal nos obriga a rever a unidade do filme, recompondo, mais detidamente, sua feição ficcional.
Muito dessa naturalidade se deve ao andamento musical, como dissemos, que sinaliza os estados de espírito do poeta, mas muito de seu êxito se deve igualmente à integração de perspectivas de um e outro, a certa fusão de pontos de vista, propiciada pelo jogo, difícil muita vez de deslindar, entre a câmera subjetiva, o “olhar” do poeta, e a objetiva, do diretor. Nessa direção os planos do beco não só descrevem a feiura e a sujeira do local, mas traduzem o olhar do poeta, quando não seu sentimento.
Assim a câmera, depois de uns “retratos” do beco fechado, se movimenta, sobe lentamente (escalando?) os andares e, após girar em torno, exprimindo talvez a impossibilidade da aventura, o paredão intransponível dos prédios, desliza (desacorçoadamente?), emendando com uma porta de comércio gradeada. A indicar a “prisão” do poeta, a câmera, que vinha escorregando do paredão, “continua” (em novo corte contínuo) deslizando pela porta gradeada, exibindo-a quase toda cerrada, entreaberta apenas embaixo, e por cuja brecha, antecipando o último movimento do filme, podemos imaginar a futura fuga de Bandeira, rumo a Pasárgada.
Duplicidade do olhar, a resvalar na identidade; transições suaves, espaciais e temporais; antecipações calculadas… A naturalidade evidentemente não foi conquistada senão mediante o sábio uso dos procedimentos ficcionais. Recursos à parte, porém, isto ainda não é tudo. O curta, o documentário é, em certa medida, todo ele ficcionado, se pensarmos que esboça uma fábula de libertação, praticamente em três tempos, passado, presente e futuro (ou a caminho dele). Do poeta do beco ao Poeta do Castelo, e deste ao poeta de Pasárgada, a narrativa constrói articulações diversas, favorecendo aquele jogo de ecos e espelhos, de simetrias e coincidências, que produz toda obra acabada. Repassemos, a título de recordação, o jogo especular entre imagem e poesia, com a “menoridade” e a “orfandade” do poeta a antecipar os versos do “Testamento”, visíveis na tomada de cima, em mergulho, do poeta, pequeno e de leite na mão no beco solitário; entre imagem e estado de espírito, com a aparição abrupta do prédio-sentinela; entre andamento musical e andamento espiritual, presente no filme todo, ou entre música e poesia, sensível na sequência de Pasárgada, com a melodia “imitando” as travessuras do poema, e por aí vamos.
A articulação narrativa atinge o requinte, deliberado ou não, pouco importa, de propor até homologias inusitadas, uma delas aliás de fazer babar qualquer construtivista. Assim, na cozinha, por exemplo, fazendo café, o poeta desdobra seu “Testamento”. Se atentarmos bem, notaremos que o poema se desenrola exatamente à semelhança da porta de comércio gradeada, a “prisão”, — deixando também uma brecha para a evasão. Com efeito, depois de desdobrar ao longo dos versos sua “menoridade” absoluta, o afunilamento de seu destino em direção da poesia, e por cujo meio, em compensação, veio irrigando e enriquecendo a vida subtraída, — a última estrofe contempla uma saída, uma disposição de luta, a possibilidade mesma de alistamento, digamos, para nos manter em igual campo retórico:
Não faço poemas de guerra.
Não faço porque não sei.
Mas num torpedo-suicida
Darei de bom grado a vida
Na luta em que não lutei!
Seu “Testamento”, escrito em plena guerra, não deixaria de ser a sua maneira, discretíssima, um libelo de luta.
Não reside, no entanto, no requinte estético, no jogo especular entre poema e prisão figurada, o decisivo. O mais importante é que a articulação abre também a brecha por onde salta um poeta do outro… naturalmente, sempre. O poeta do beco, dito de outro modo, já traz em si o “torpedo-suicida” que o conduzirá à liberdade. O poeta da prisão já traz em si o poeta da libertação.
Não houvesse, no coração mesmo do documentário, uma fábula, a historinha da emancipação, não precisa dizer que o poema servido no café da manhã poderia ser outro, dentre tantos na obra do poeta, e que quadrariam perfeitamente bem no quadro humilde da cozinha.[43] Não que o “Testamento” não seja “tipicamente” bandeiriano, no tom serenado, resolvido, cada-coisa-em-seu-lugar. Possui, porém, uma peculiaridade o poema eleito; pertence àqueles que, pessoalíssimos embora, transpiram “emoção social”, como esclarece o poeta no Itinerário.[44] Um poema escolhido a dedo,[45] em que, a par da síntese biográfica, vazada em tom confessional, sempre aliciante, e no metro mais popular da língua (a redondilha maior, o verso de sete sílabas), o consolo e a reconciliação, marcas bandeirianas, não suprimem a disposição de sacrifício, o brado de guerra final. De tal modo que a resignação pessoal não importa em apatia ou conformismo.
Assim, se o “Testamento” é escolhido por sua dupla face (pessoal e social), acompanhando o “Poema do beco” e sua solidariedade com a miséria; se o “poeta do beco” declina apenas os três primeiros versos de “Belo belo” e abole o resto do poema (por sua mitologia excessivamente pessoal?[46]), a fim de marcar a fundo a carência solidária do poeta, não é de estranhar que “Vou-me embora pra Pasárgada” sofre também deslocamento no tempo e no espaço.
Sabemos pelo Itinerário que o poema golpeou duas vezes o poeta, no morro do Curvelo, em estados de “fundo desânimo”. Fracassada a primeira tentativa, que não ultrapassou o “grito estapafúrdio”, saiu da segunda “sem esforço”, anos depois, “em idênticas circunstâncias de tédio e desalento”. No filme, por sua vez, em momento de recolhimento sereno, de trabalho concentrado, é o chamado telefônico (a voz do rei? de Pasárgada?) que parece despertá-lo. O mundo o convidava (convocava?). O poeta não se fazia de rogado e caía nele.[47] Nesta narrativa, portanto, diferentemente da literária, o brado não nasce de nenhum movimento interior, interno, profundo; não nasce de nenhum beco da existência. Em outras palavras, atenuada a carga lírica que envolve a gênese do poema, tem mais ar de decisão o grito de independência que de imperativo do “subconsciente”.
Em resumo, o poeta do beco não é o Poeta do Castelo que não é o poeta de Pasárgada… Não é, mas poderia ser — eis o que afirma o filme em sua integridade artística. E, uma vez sendo, podemos nos indagar, de olho agora na continuidade: que pode significar fazer sair naturalmente um do outro, —naturalmente, claro, nos termos construtivos que vimos analisando, — o poeta do Castelo do poeta do beco, o poeta de Pasárgada do poeta do Castelo? que pode significar fazer sair o poeta-torpedo do poeta consagrado, entorpecido no trabalho? que pode significar fazer sair naturalmente o poeta “social” do poeta “humilde”? Não estaria o filme insinuando um novo itinerário de Pasárgada?
Não quero dizer com isso que o filme tira magicamente, de dentro do poeta do beco, um poeta público, popular, participante, militante, camicase, de farda quase… Bandeira pode ser tudo, e já vejo me torcerem o nariz, com indisfarçável desdém, grande poeta, poeta menor, poeta maior, grande poeta menor, mas — poeta popular!? Bandeira popular?! no sentido ideológico, político? E como popular — sem povo? E não se pedem nem grandes concentrações! Mas, nem um ajuntamentozinho? nada? no máximo uns gatos-pingados, tomados de relance, provavelmente assistindo dos terraços às filmagens? e depois ainda vem o pior… Porque se acreditamos num Bandeira popular… pronto! Pasárgada vira logo utopia coletiva. Já que ele é “amigo do rei” e lá tem toda a liberdade do mundo, de Pasárgada ao “reino da liberdade” é um tirico… E Joaquim Pedro, esquerdizando o poeta, teria produzido um novo itinerário de Pasárgada!!!
Eis que adentramos o puro reino da ambiguidade, e, no limite da interpretação, mal distinguimos entre o poeta e o diretor, o diretor e este autor… Mas puro reino da ambiguidade não quer dizer reino da liberdade interpretativa — absoluta. Há ambiguidades e ambiguidades, e, ajustados os graus, podemos salvar alguns andares.
O caráter ficcionado do documentário, reconstituindo o itinerário do poeta, do beco a Pasárgada, da prisão à liberdade, cria uma abertura que legitima a especulação. Não se trata de discutir o estatuto genérico do curta, se ficção, se documentário, se… discussão bizantina hoje. De resto, não se trata de novidade nenhuma. O tratamento, o jogo ficcional, tanto o diretor já o assumira[48] como já o apontara a crítica especializada. Trata-se de pensar, ou especular, em bom sentido, a coerência interna que impõem os procedimentos ficcionais à sucessão de sons e imagens, a ponto de fazer vacilar a fachada documentária, em sentido estrito. Em uma palavra, trata-se de apurar o olho e o ouvido e ver e ouvir sobre que base se constrói o roteiro da emancipação.
O poeta do beco e seu “humilde cotidiano”, com seu largo recuo temporal, é uma construção primorosa, esmerada, demorando coisa de quase cinco minutos, — tempo bastante razoável, convenhamos, para um curta de dez. Não se trata de falseamento, claro, senão de fixar uma imagem do poeta antiga e popular, apelando para a memória coletiva. Na construção da figura frágil e aprisionada, não é possível decidir às vezes, graças ao negaceio do movimento subjetiva/ objetiva, onde termina o do poeta e começa o olhar do diretor. Assim, se a câmera, na sequência do beco, traduz, de um lado, o sentimento de Bandeira, de encarceramento, e da dificuldade de escapulir, saltando edifícios; de outro, descritiva, objetiva, não se lhe pode negar certo poder de generalização. Seria muito diferente da condição “humilde” do poeta (em parte, construída,) a condição de seus semelhantes, apartamento abaixo ou acima? O próprio poeta do beco não evocava a pobreza a seu redor? os becos, os morros, a “pobreza valente” e miúda do dia a dia? Seu estilo humilde, para dizer com Davi Arrigucci, não supunha uma comunidade de vida e sentimentos? não representa ele, o estilo humilde, o próprio “povoamento” de Bandeira, quem sabe dando-lhe até maior força representativa? Por que exigir presença popular, se a ausência, estilizada, pode ser mais poderosa? A própria dramaticidade de sua caracterização, reconhecida pelo poeta, não busca despertar nossa “emoção social”?[49]
Um Bandeira popular neste sentido, considerada a afinidade de vida e a estilização poética da humildade, não é exatamente uma excrescência, nem aberração. Se poeta pobre, se “poeta do beco”, por que não poeta do povo? O curta parece nos ensinar que de “homem do povo” a “poeta do povo” talvez não bastasse mais que um passo, e curto. Uma ponte que podia autorizar sua obra “humilde”.
Se tal poeta popular, nessa medida humana, trai, sibilinamente quase, na derradeira estrofe de seu “Testamento”, “intenso desejo de participação”, o itinerário de Pasárgada que vem recontando o filme sofre inflexão generalizadora, ainda que leve.
Utopia social… Pasárgada? Pasárgada… um outro mundo? sonho coletivo?
Valorizando a humildade e a humanidade do poeta, seu itinerário do beco a Pasárgada, da prisão à libertação, não temos dúvida que Joaquim Pedro recria um Bandeira popular. Rasgado um horizonte maior, até onde vai esse popular ou até onde o poeta, com sua solidariedade essencial com os pobres e sua “emoção social”, encarna seu “povo humilde”, o curta em si não resolve, dentro de suas limitadas fronteiras. Joaquim Pedro apenas começava seu itinerário…
Este novo itinerário, se novo for, pode ter sido inspirado pelo “vou-me-emborismo popular e nacional” achado por Mário de Andrade no poeta de Pasárgada.[50] A insinuação de um Bandeira popular, senão a suspeita, para os mais melindrosos, — sobretudo no sentido político-ideológico que veio a assumir nos anos 60 o nacional-popular, — convém decerto modular. O poeta do beco, porém, carregado de “emoção social”, e munido de um testamento com fecho guerreiro, não deixa de fertilizar a imaginação histórica, em sua viagem de libertação a Pasárgada, em sua “evasão para o mundo”, ainda mais em época de efervescência, de princípio de luta mais franca, a ponto de adquirir visos de roteiro social mais abrangente, sempre humilde e humilhado.
Se pensamos, enfim, no que vem a seguir de Joaquim Pedro, num Couro de Gato,[51] de 61, em que se consolida a lírica popular, ou num Garrincha, Alegria do Povo,[52] de 63, em que o “alegria do povo” se ergue também como bandeira, com sua vida humilde e “poética”, pode ser que não precisemos modular tanto o sentido do “popular”.
*Airton Paschoa é escritor, autor, entre outros livros, de Ver Navios (e-galáxia, 2021, 2.ª edição, revista).
Salvo ajustes pontuais e certa atualização da banda sonora, publicado sob o título “A estreia de Joaquim Pedro: gigante adormecido e Bandeira popular” na Revista USP n.º 63, set/out/nov/2004.
Notas
[1] Nelson Pereira dos Santos, com Rio, Quarenta Graus (1955) e Rio, Zona Norte (1957), como que inaugura o cinema moderno no país, “um movimento plural de estilos e ideias que, a exemplo de outras cinematografias, produziu aqui a convergência entre a ‘política dos autores’, os filmes de baixo orçamento e a renovação da linguagem, traços que marcam o cinema moderno, por oposição ao clássico e ao mais plenamente industrial” (Ismail Xavier, “O cinema moderno brasileiro”, Cinemais n.º 4, Rio de Janeiro, março/abril de 1997, p. 43).
[2] Pra acompanhar pesquisa exaustiva acerca da dita primeira fase de Joaquim Pedro de Andrade, envolvendo produção e recepção dos filmes, além naturalmente das discussões estéticas, ver o excelente trabalho de Luciana [Sá Leitão Corrêa de] Araújo, “Joaquim Pedro de Andrade: Primeiros Tempos”, Tese de Doutoramento, 1999, mímeo.
[3] “Vereda tropical” (1976), quarto episódio de Contos Eróticos.
[4] Macunaíma (1968), Os Inconfidentes (1972) e Guerra Conjugal (1974).
[5] Ismail Xavier.
[6] Do cap. 3 (“Aparecimento da ficção”) do segundo volume da Formação da literatura brasileira.
[7] Ismail Xavier, op. cit., p. 49.
[8] Ver o belo livro organizado por Ana Maria Galano Joaquim Pedro de Andrade — Casa-grande, Senzala & Cia. — Roteiro e diário (RJ, Aeroplano, 2001).
[9][9] Joaquim Pedro de Andrade, O imponderável Bento contra o Crioulo Voador (SP, Marco Zero/Cinemateca Brasileira, 1990).
[10] “Os Inconfidentes”, Exercícios de leitura (São Paulo, Duas Cidades, 1980, p. 197).
[11] Roberto Schwarz, a propósito das crônicas baba-ditadura de Nélson Rodrigues, fala algures, divertidamente, em “malversação de recursos literários”.
[12] Antonio Candido, Recortes (São Paulo, Cia. das Letras, 1993, p. 82).
[13] Francisco de Oliveira, “Formação da sociedade brasileira”, ciclo de seminários do programa de pós-graduação da área de literatura brasileira (FFLCH/USP), primeiro semestre de 1999.
[14] Candido, op. cit., p. 82-83.
[15] “(…) Tome-se como ponto de partida sua prisão política em 1934, quando estava associado à Esquerda Democrática, em virtude de ter organizado o I Congresso Afro-brasileiro. Nessa fase ascendente, polêmica e criativa, Gilberto chega a ser aclamado em 1943 no Congresso Nacional como líder do Nordeste, no movimento que visava à libertação do fascismo.// Deputado eleito pela UDN à Câmara Federal, atuou de 1946 a 1950, e na Câmara era considerado a grande esperança da ‘esquerda aristocrática’ do Nordeste. (…) Em 1952 firma algumas posições que, segundo alguns críticos, representavam uma reaproximação de Getúlio Vargas, seu antigo algoz (…). Um dos jornais populares da época, Última Hora, fez uma denúncia nesse mesmo ano, afirmando que Freyre queria se aproximar de Getúlio para ser nomeado embaixador ou ministro, esquecido de que fora deputado pela UDN…// Uma década mais tarde, em 1962, suas posições conservadoras se definem com maior nitidez, na radicalização do processo político e social: em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo acusa Francisco Julião de ser agitador remunerado do Exterior e… afirma suas convicções na Aliança para o Progresso, programa de ajuda norte-americano.// Em 1963 analisa o significado da palavra ‘esquerda’, para o mesmo periódico, afirmando que o comunismo no Brasil atrai as massas, de vez que corresponde às aspirações messiânicas da população. No ano seguinte, 1964, escreve para Time, indicando que o comunismo na sua forma mais arcaica estava tomando conta do Brasil.// Após o golpe militar de 1964, recebeu convite do presidente Castelo Branco para ser ministro da Educação. Como colocou, para que aceitasse, a condição de que todos os reitores e conselhos universitários deveriam ser demitidos, não chegou a ocupar o posto. Foi igualmente convidado para embaixador do Brasil junto à França, mas recusou o convite para não sair de Apipucos.// Em 1969, na radicalização do processo, e pouco após as manifestações estudantis, declarou que a glória do Brasil não são os jovens. (…)// Periodicamente o autor de Casa-grande & Senzala faz alguns pronunciamentos: em 1969 convidou os ociosos de todo o mundo a reunirem-se em associações para evitar que o ócio seja canalizado em vícios, sexo e drogas. Mais recentemente, solicitado pela Arena para desenvolver um programa político, realizou-o, dando conta de sua tarefa à imprensa periódica do País(…)” (Carlos Guilherme Mota, Ideologia da cultura brasileira (1933-1974), São Paulo, Ática, 1977, 3.ª ed., p. 70-72). Data de 1975 a tese que dá origem ao livro.
[16] João Medina, “Gilberto Freyre contestado: o lusotropicalismo criticado nas colônias portuguesas como álibi colonial do salazarismo”, Revista USP n.º 45, mar/abr/mai de 2000, p. 50.
[17] O Estado salazarista “explorou a fundo a complacente cumplicidade de Gilberto Freyre, sobretudo a partir de 1951-52 — altura em que o pernambucano aceitou o convite do ministro das Colônias de Portugal, Sarmento Rodrigues (1899-1979), para visitar as colónias portuguesas da Guiné, Cabo Verde, Angola, Moçambique e Índia (Freyre não visitaria Timor) — inclusive editando em várias línguas os textos escritos ad hoc pelo pensador recifense, como sucedeu com a obra O luso e o trópico (Lisboa, 1961) ou Aventura e rotina (ed. no Brasil: 1953; ed. portuguesa: Lisboa, 1954), sendo o primeiro estampado já depois de começado, em 1961, o ciclo de guerras de libertação das colónias lusas, obras que, curiosamente, nem sempre tiveram edição no Brasil — lembremos ainda outro título editado em Portugal: Integração portuguesa nos trópicos (Lisboa, 1954)” (id., p. 50).
[18] A esquerda brasileira, por vício talvez de nacionalismo, parece não ter acusado sua atividade de ideólogo “oficial” do colonialismo português. Basta ver o verdadeiro buraco que se abre, entre 52 e 62, na biografia sumária que dele faz Carlos Guilherme Mota, comentador que, de posse dessas especiarias apimentadas, certamente não o haveria poupado, tapando com gosto o enorme vão (op. cit., p. 71-72).
[19] A descoberta das músicas, escolhidas por Zito Batista e Carlos Sussekind, devo-a a um jovem e talentoso musicista, Guilherme de Camargo, mestre precoce de cordas dedilhadas de instrumentos antigos, como vihuela, tiorba, alaúde, arquialaúde, guitarra barroca, guitarra romântica, e sabe-se lá quantos mais ancestrais! O jovem mestre e amigo, mister esclarecer, não se responsabiliza, no entanto, por nossas ânsias e dissonâncias.
[20] “Todo o material realmente destinado ao filme foi retrabalhado por ele como ampla partitura de concerto dividida em quatro suítes para grande orquestra [cuja primeira audição integral, dirigida pelo próprio compositor, ocorreu em 28 de fevereiro de 1952 no Teatro do Champs Elysées]. O resultado alcançado seria, segundo suas próprias palavras, a tradução do texto de Pero Vaz de Caminha ‘em imagens musicais próprias para evocar a atmosfera da época e a alma das personagens’ (…) As quatro suítes [Primeira Suíte: 1. Introdução (largo); 2. Alegria; Segunda Suíte: 3. Impressão moura; 4. Adágio sentimental; 5. A cascavel; Terceira Suíte: 6. Impressão ibérica; 7. Festa nas selvas; 8. Ualalocê (visão dos navegantes); Quarta Suíte: 9. Procissão da Cruz; 10. Primeira Missa no Brasil] se dividem em dez partes: as seis primeiras referem-se à navegação, as quatro últimas à terra descoberta e seus habitantes. Civilizada a princípio, a música ganha em selvageria à medida que nos aproximamos do Novo Mundo. Coros intervêm nas duas últimas partes” (Pierre Vidal, encarte do CD Heitor Villa-Lobos, Descobrimento do Brasil, Suítes n.º 1-4, Slovak Philharmonic Choir (Choirmaster: Jan Rozehnal); Slovak Radio Symphony Orchestra (Brastislava); Roberto Duarte, Regente: gravado no Concert Hall da Rádio Eslovaca em Bratislava, de 10 a 16 de maio de 1993).
[21] “Primeira Suíte – Introdução – A partitura é aberta sobre um largo apaixonado de dezesseis compassos, sugerindo a determinação dos conquistadores, cujo tema será desenvolvido na ‘Impressão Ibérica’ da Terceira Suíte. Este episódio contém danças portuguesas, uma evocação da calma do mar, chamadas de fanfarras pelos quatro cantos do horizonte, parecendo figurar diálogos de caravelas na noite” (Pierre Vidal, op. cit.).
[22] Desgraçadamente não pude explorar à época o magistral artigo de Luíza Beatriz [A. M.] Alvim: “Música e som em três documentários brasileiros curta-metragem de 1959: nacionalismos, tradição, modernismos e identidade brasileira”, DOC on-line — Revista digital de cinema documentário, n.º 22, “Sonoridades do documentário”, set/2017, p. 163-184. Anota a autora, em tabela à p. 169, que, “na biblioteca”, se ouve de Bach o Adagio do Concerto para oboé e violino (BWV 1060).
[23] Na cozinha, durante o café da manhã frugal, recinto de natureza pouco afeito obviamente a epopeias, a música, meio gaiata, a lembrar danças lusas, em consonância com os azulejos portugueses do século XVIII. Menos diletante, observa Luíza Beatriz Alvim: “No momento em que Freyre, à porta da cozinha, olha para fora, começa a Siciliana da Sonata para violino n.º 1 de Bach em transcrição para violão de Andrès Segóvia, havendo uma elipse, pois, no plano seguinte, vemos o mar e o escritor na praia da Boa Viagem. (…)” (op. cit., p. 170).
[24] E prossegue a lição da estudiosa: “Embora a tonalidade principal da sonata de Bach seja sol menor, seu terceiro movimento, a Siciliana, está na tonalidade relativa maior, Si bemol maior (…) a tonalidade maior é um dos motivos de sua leveza, além de enfatizar o seu caráter de dança (…) alguns importantes violinistas a interpretam destacando a mesma seriedade presente nos outros movimentos da peça. Tal é a nossa impressão quanto ao arranjo para violão de Segóvia e à interpretação que ouvimos no filme: certa lentidão e gravidade, e, talvez por isso, uma melancolia (…) nas imagens de Gilberto Freyre na praia, sozinho” (id., ibid.).
[25] “O Prelúdio para violão n.º 2 de Villa-Lobos tem como título ‘Homenagem ao homem capadócio’ e contém justamente uma série de elementos que remetem ao choro, como o caráter brejeiro (…) No filme, a sua primeira parte, em que esses elementos estão mais presentes, é ouvida duas vezes: primeiramente, sobre as imagens de Gilberto Freyre observando a cozinheira no preparo do peixe; depois, quando ele mesmo prepara ‘uma batida de pitanga, maracujá e hortelã’, culinária e bebida típicas locais (…)” (Luíza Beatriz Alvim, op. cit., p. 171).
[26] A música é de Alberto Nepomuceno, Sesta na rede, terceira parte da Suíte Brasileira (1887-1897), detecta Luíza Beatriz Alvim (id., ibid.).
[27] Para o “desmembramento” da unidade original do díptico, Luciana Araújo elenca alguns motivos: “(…) talvez por uma simples questão de duração (o complemento [do filme nacional, quando o curta estreou comercialmente, em fevereiro de 1960] não podendo exceder os dez minutos), mas também não deixaria de fora a diferença na acolhida entre os dois filmes e a preferência pessoal de Joaquim Pedro pelo curta sobre Bandeira” (op. cit., p. 73). Entre a recepção negativa, e talvez determinante, sobressai a reação de Gilberto Freyre, que não gostou de ser retratado, segundo ele, como “esnobe da riqueza” (p. 58-60).
[28] O poema, de 1933, integra a Estrela da Manhã (1936): “Que importa a paisagem, a Glória, a baía, a linha do horizonte?/ — O que eu vejo é o beco”.
[29] Minha interpretação, no que tiver eventualmente de correta, é tributária das análises de Davi Arrigucci Jr., mais do que o poderiam indiciar as notas de rodapé. Ver do autor, pra uma compreensão abrangente do poeta, Humildade, Paixão e Morte — A Poesia de Manuel Bandeira (São Paulo, Cia. das Letras, 1990) e O cacto e as ruínas — a poesia entre outras artes (São Paulo, Duas Cidades, 1997), especialmente o primeiro ensaio, dedicado a Bandeira, “A beleza humilde e áspera”.
[30] O poema, datado de 28/1/1943, segundo o autógrafo da edição Aguilar, consta da Lira dos Cinquent’Anos, nas Poesias Completas (1948): “O que não tenho e desejo/ É que melhor me enriquece./ Tive uns dinheiros — perdi-os…/ Tive amores — esqueci-os./ Mas no maior desespero/ Rezei: ganhei essa prece.// Vi terras da minha terra./ Por outras terras andei./ Mas o que ficou marcado/ No meu olhar fatigado,/ Foram terras que inventei.// Gosto muito de crianças:/ Não tive um filho de meu./ Um filho!… Não foi de jeito…/ Mas trago dentro do peito/ Meu filho que não nasceu.// Criou-me, desde eu menino,/ Para arquiteto meu pai./ Foi-se-me um dia a saúde…/ Fiz-me arquiteto? Não pude!/ Sou poeta menor, perdoai!// Não faço versos de guerra./ Não faço porque não sei./ Mas num torpedo-suicida/ Darei de bom grado a vida/ Na luta em que não lutei!”
[31] “Na verdade o morro era o de Santa Teresa, mas assim se referia Bandeira à sua moradia naquela época” (Davi Arrigucci, O cacto e as ruínas, op. cit., p. 71, nota 4).
[32] O poema se chama “Gesso” e se encontra n’O Ritmo Dissoluto, integrante do volume Poesias (1924): “Esta minha estatuazinha de gesso, quando nova/ — O gesso muito branco, as linhas muito puras, —/ Mal sugeria imagem de vida/ (Embora a figura chorasse)./ Há muitos anos tenho-a comigo./ O tempo envelheceu-a, carcomeu-a, manchou-a de pátina amarelo-suja./ Os meus olhos, de tanto a olharem,/ Impregnaram-na da minha humanidade irônica de tísico.// Um dia mão estúpida/ Inadvertidamente a derrubou e partiu./ Então ajoelhei com raiva, recolhi aqueles tristes fragmentos, recompus a figurinha que chorava./ E o tempo sobre as feridas escureceu ainda mais o sujo mordente da pátina…// Hoje este gessozinho comercial/ É tocante e vive, e me fez agora refletir/ Que só é verdadeiramente vivo o que já sofreu”.
[33] Refiro-me ao verso-estrofe da “Poética”, pertencente a Libertinagem (1930): “Estou farto do lirismo comedido/ do lirismo bem comportado/ Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente protocolo e manifestações de apreço ao Sr. diretor// Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo// (…)”.
[34] Depois da biblioteca, “a sequência seguinte se passa no quarto de Bandeira (com um rápido plano de sua varanda) e tem como trilha musical dois movimentos, Affettuoso (II) e Allegro (III), do famoso Quinto Concerto de Brandenburgo BWV 1050 de Bach (…)” (Luíza Beatriz Alvim, op. cit., p. 175).
[35] “Pouco depois que Bandeira desliga o telefone, assim que desiste de continuar trabalhando (ele afasta a tábua com máquina de datilografar) e se levanta para trocar de roupa, começa o Allegro de Bach. O andamento mais rápido da música combina com a série de ações de Bandeira arrumando-se para sair de casa” (Luíza Beatriz Alvim, op. cit., p. 176).
[36] O poema pertence a Libertinagem, de 1930: “Vou-me embora pra Pasárgada/ Lá sou amigo do rei/ Lá tenho a mulher que eu quero/ Na cama que escolherei/ Vou-me embora pra Pasárgada// Vou-me embora pra Pasárgada/ Aqui eu não sou feliz/ Lá a existência é uma aventura/ De tal modo inconsequente/ Que Joana a Louca de Espanha/ Rainha e falsa demente/ Vem a ser contraparente/ Da nora que nunca tive// E como farei ginástica/ Andarei de bicicleta/ Montarei em burro brabo/ Subirei no pau-de-sebo/ Tomarei banhos de mar!/ E quando estiver cansado/ Deito na beira do rio/ Mando chamar a mãe-d’água/ Pra me contar as histórias/ Que no tempo de eu menino/ Rosa vinha me contar/ Vou-me embora pra Pasárgada// Em Pasárgada tem tudo/ É outra civilização/ Tem um processo seguro/ De impedir a concepção/ Tem telefone automático/ Tem alcaloide à vontade/ Tem prostitutas bonitas/ Para a gente namorar// E quando eu estiver mais triste/ Mas triste de não ter jeito/ Quando de noite me der/ Vontade de me matar/ — Lá sou amigo do rei/ Terei a mulher que eu quero/ Na cama que escolherei/ Vou-me embora pra Pasárgada”.
[37] “Lua nova”, datada de agosto de 1953 (acrescentada depois a Opus 10, cuja primeira edição é de 1952), saudava a nova morada do poeta, que mudara pra outro apartamento, voltado pra frente, do mesmo edifício à Avenida Beira-mar, este que vemos no curta, no Castelo, velho bairro colado ao centro do Rio: “Meu novo quarto/ Virado para o nascente:/ Meu quarto, de novo a cavaleiro da entrada da barra.// Depois de dez anos de pátio/ Volto a tomar conhecimento da aurora./ Volto a banhar meus olhos no mênstruo incruento das madrugadas.// Todas as manhãs o aeroporto em frente me dá lições de partir.// (…)”.
[38] Nosso trabalho espera modestamente ajudar a desencorajar tentações míticas, religiosas, ou afins, capazes de macular tão terrena Pasárgada. O fim herético, nos termos do filme, admitiu-o o diretor, que ignorou a solução proposta por Bandeira: “Por querer bem ao poeta, fiquei gostando do filme. Acho que o personagem resistiu bem às inabilidades do diretor, que, hoje, reconsiderando o que fez, deixaria que o poeta se afastasse pela avenida Presidente Wilson, no fim do filme, lendo o seu jornal” (Joaquim Pedro de Andrade, “O poeta filmado”, Diário de Notícias de 17/4/1966).
[39] A música que acompanha os passos de Pasárgada, escolhida, como as outras, por Zito Batista e Carlos Sussekind, não pudemos infelizmente reconhecê-la. Em todo o caso, à base de piano e sopro, muito sopro (assobios?), traz qualquer coisa de moleca e travessa, que lembra o paraíso infantil de Bandeira. Ensina Luíza Beatriz Alvim no esclarecedor artigo: “A peça musical que acompanha tudo isso desde a primeira imagem da sequência (os jornais e revistas da banca) é o quarto movimento, Allegro, de Music for a Farce, peça de 1938 de Paul Bowles para clarineta, trompete, piano e percussão. O andamento rápido, o caráter brejeiro dado em parte pelo ritmo e pelos timbres da clarineta e do trompete e os traços jazzísticos são características comuns e costumeiramente associadas, no uso de música no cinema, a um ambiente urbano. // Paul Bowles foi um escritor e compositor americano que estudou com Aaron Copland, fez parte do círculo de Gertrud Stein em Paris e passou a viver definitivamente no Marrocos a partir de 1947, tendo sido sua casa um ponto de encontro da geração beat. Bowles fez parte, portanto, dos modernismos literários e musicais do século XX, que, de certa maneira, infiltram-se na última sequência do filme de Joaquim Pedro”. A pesquisadora inda lembra em nota que “foi no Marrocos que [Bowles] ambientou seu livro mais conhecido, O céu que nos protege, adaptado para o cinema por Bernardo Bertollucci”.
[40] Luciana Araújo (op. cit., p. 68) flagra, com razão, a nosso ver, a “elipse temporal” no movimento de câmera da janela da cozinha à janela da sala, ainda fechada, uns poucos segundos em que desaparece de cena nosso personagem, e como se a abri-la na biblioteca estivesse já o poeta vinte anos depois.
[41] A dessincronização som/imagem no episódio do telefone, que continua a tocar mesmo depois de atendido, atribui Joaquim Pedro a vingança de um dos montadores, Giuseppe Baldacconi, que “resolveu me hostilizar dessa maneira insólita”, — de saco-cheio, presume-se, do conhecido perfeccionismo do diretor (“O poeta filmado”, op. cit.).
[42] Reconhecendo também certo exibicionismo do jovem diretor, sequioso de “se mostrar habilidoso artesão”, Luciana Araújo chama a atenção pra seu “impecável exercício de decupagem clássica”, com seus cortes em movimento, evitando saltos, amenizando os cortes, as mudanças de ângulo, e “criando um fluxo mais contínuo de planos” (op. cit., p. 68).
[43] Penso, por exemplo, no “Poema só para Jaime Ovalle”, tão bem revelado nas profundezas de seu mistério poético por Davi Arrigucci Jr. (Humildade, paixão e morte, op. cit., esp. “Paixão recolhida”, p. 45-87): “Quando hoje acordei, ainda fazia escuro/ (Embora a manhã já estivesse avançada)./ Chovia./ Chovia uma triste chuva de resignação/ Como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite./ Então me levantei,/ Bebi o café que eu mesmo preparei,/ Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando…/ — Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei”.
[44] “Em ‘Chanson des Petits Esclaves’ e ‘Trucidaram o Rio’ aparece pela primeira vez em minha poesia a emoção social. Ela reaparecerá mais tarde em ‘O Martelo’ e ‘Testamento’ (Lira dos Cinquent’Anos), em ‘No Vosso e em Meu Coração’ (Belo Belo), e na ‘Lira do Brigadeiro’ (Mafuá do Malungo). Não se deve julgar por essas poucas e breves notas a minha carga emocional dessa espécie: intenso é o meu desejo de participação, mas sei, de ciência certa, que sou um poeta menor. Em tais altas paragens só respira à vontade entre nós, atualmente, o poeta que escreveu o Sentimento do Mundo e a Rosa do Povo”.
[45] No seu estudo dos vários roteiros elaborados pelo diretor, Luciana Araújo afirma que Joaquim Pedro chegou a cogitar “37 títulos” da obra de Bandeira, isto é, era “muito poema para pouca metragem”, como conclui com bom humor (op. cit., p. 52). Não deve ter sido fácil, supõe-se, o processo de depuração, pra deles aproveitar só quatro. Ou, de outra, deve de ter sido processo penoso, e pensado.
[46] Eis o restante do segundo “Belo belo”, pertencente ao livro homônimo, de 1948: “(…) Não quero óculos nem tosse/ Nem obrigação de voto /Quero quero/ Quero a solidão dos píncaros/ A água da fonte escondida/ A rosa que floresceu/ Sobre a escarpa inacessível/ A luz da primeira estrela/ Piscando no lusco-fusco/ Quero quero/ Quero dar a volta ao mundo/ Só num navio de vela/ Quero rever Pernambuco/ Quero ver Bagdá e Cusco/ Quero quero/ Quero o moreno de Estela/ Quero a brancura de Elisa/ Quero a saliva de Bela/ Quero as sardas de Adalgisa/ Quero quero tanta coisa/ Belo belo/ Mas basta de lero-lero/ Vida noves fora zero [Petrópolis, fevereiro, 1947]”.
[47] “Evasão para o mundo” é, a juízo de Davi Arrigucci, em sua análise do Itinerário (“A poesia em trânsito: revelação de uma poética”, Humildade… op. cit., p. 134), “expressão acertada de Sérgio Buarque de Holanda” na nomeação do escapismo bandeiriano.
[48] “Mesmo assim e ainda agora, acho que os dados da composição do filme, talvez por serem tão aparentes e declarados, funcionam como a proposição de um jogo, como na obra de ficção, e armam um processo eficiente para apreender e transmitir uma impressão verdadeira, ou pelo menos sincera sobre o poeta filmado” (Joaquim Pedro de Andrade, op. cit.).
[49] Consta que o poeta defendera a dramatização da abertura, apelando pra verdade da arte, digamos grosso modo: “Sensível a esses problemas [da ficção e seu jogo], Manuel Bandeira informou a grande número de pessoas que a operação da compra do leite, realizada várias vezes por semana, não tinha nada da pungência com que apareceu no filme. Era, para ele, uma ação desprovida de emocionalismo. E que, nesse caso, como em outros episódios filmados, a verdade imediata, realista, foi substituída pela verdade de uma representação, de uma visão interpretativa, tão legitimamente como na subida ao céu que o poeta pratica em vida, no fim do filme. Por esse processo, o roteiro pretendia comprimir na manhã cotidiana do poeta a representação de sua vida” (id.).
[50] A tese é discutida, e refutada, por Sérgio Buarque de Holanda em artigo de 1948 sobre Bandeira, “Trajetória de uma poesia”, que aposta numa tradição culta (invocando Yeats, por exemplo, e seu “Velejando para Bizâncio”), — no rastro talvez da menção do poeta a Baudelaire e seu “Convite a viagem”, — pra explicar a poesia de evasão (para o mundo) do poeta de Pasárgada. Tanto o artigo de Sérgio Buarque quanto o de Mário de Andrade, clássicos ambos, podem ser encontrados na edição Aguilar. O primeiro precede o Itinerário; e o segundo, Libertinagem.
[51] Cf. “Relíquias do Rio antigo”, artigo de minha autoria, na revista Cinemais n.º 35.
[52] Cf. artigo de minha autoria, “Mané, bandeira do povo”, na revista Novos Estudos Cebrap n.º 67, nov/2003.