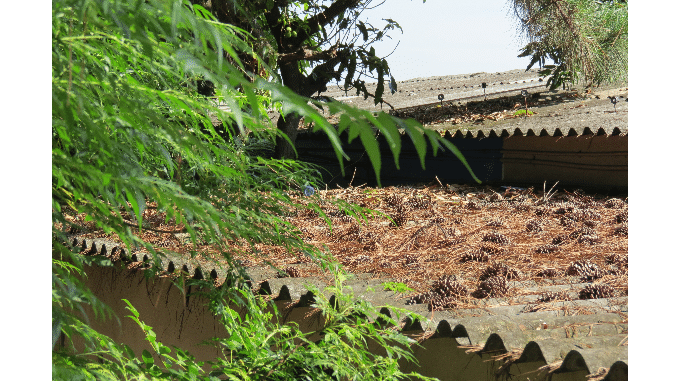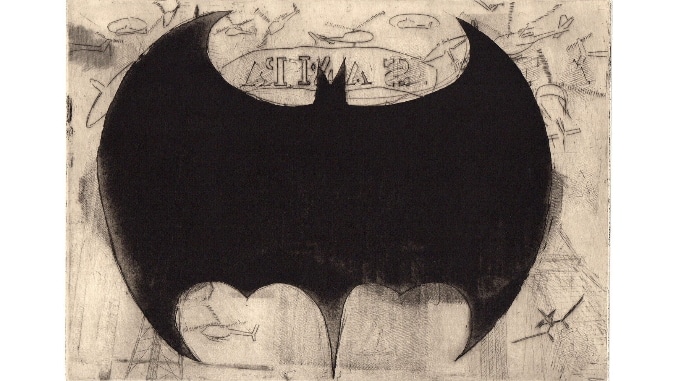Por ARTHUR MOURA*
A arte progressista cumpre uma dupla função: ergue-se contra a barbárie fascista, mas ao mesmo tempo constrói a muralha simbólica que protege os alicerces da ordem capitalista
1.
A classe artística dominante progressista ocupa, no Brasil, um lugar singular na reprodução da ideologia e na contenção das forças sociais insurgentes. Formada por músicos, cineastas, atores e escritores que, embora se posicionem publicamente contra o autoritarismo, contra retrocessos civilizatórios e contra a barbárie fascista, desempenham ao mesmo tempo a função de mediação e apaziguamento.
A sua voz ressoa como um eco moral e simbólico que reforça a defesa da “democracia” e da “liberdade”, mas sempre dentro dos marcos do Estado burguês e das instituições parlamentares. É precisamente nesse limite que reside sua função social: erigir um imaginário de resistência moral que, ao mesmo tempo que se opõe à reação explícita, evita o desvelamento das contradições estruturais do capitalismo e a possibilidade de uma organização popular independente.
Essa classe artística se forma e se legitima em torno de uma tradição histórica que atravessa a ditadura militar e chega até hoje. Nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque simbolizam essa continuidade: foram perseguidos, censurados e exilados, e por isso carregam o capital simbólico da resistência democrática.
Mas, se na década de 1960 esse capital se construiu na contradição entre arte e repressão, hoje ele funciona como moeda de troca para validar o projeto político da conciliação de classes. O gesto público de subir ao palco em manifestações contra a anistia ou contra a “PEC da Blindagem” não se traduz em convocação à organização popular autônoma, mas sim em reforço da legitimidade de lideranças políticas institucionais – como quando Caetano Veloso afirma que “a democracia resiste porque o povo elegeu Lula”.
A ideia de que a vontade popular se resume ao voto, e de que a democracia se esgota na eleição de um governo progressista, é um dos pilares dessa construção simbólica que suprime o antagonismo social. O que está em jogo não é a autenticidade das intenções desses artistas, mas sim o papel histórico que desempenham no campo ideológico. Eles encarnam o que se pode chamar de “progressismo cultural dominante”: uma rede de produção simbólica que, ao mesmo tempo que se coloca em oposição ao fascismo, sustenta os alicerces da ordem capitalista em sua forma liberal-democrática.
2.
Essa rede opera pela repetição de certos significantes universais – “liberdade”, “amor”, “paz”, “resistência”, “esperança” – que funcionam como palavras mágicas, capazes de evocar emoção coletiva sem mobilizar para o confronto concreto com as condições materiais de exploração e opressão. Nesse processo, a luta de classes desaparece do horizonte: o trabalhador não é sujeito, mas pano de fundo; a desigualdade não é estrutura, mas um drama ético que pode ser enfrentado por meio da cultura, da solidariedade simbólica e do voto periódico.
É nesse ponto que a classe artística dominante progressista cumpre a função de muralha: protege a democracia liberal de ataques vindos da extrema-direita, mas também protege o capitalismo de ataques vindos de baixo. Ao ocupar o espaço público com sua legitimidade moral, neutraliza a emergência de discursos radicais e de práticas de organização revolucionária. Ao elevar o patamar da disputa para o campo cultural, restringe o horizonte da crítica ao terreno da estética e do simbólico, deslocando para segundo plano a organização material da classe trabalhadora.
Quando Chico Buarque canta “sem anistia” diante de uma multidão, a força da mensagem é inegável, mas seu efeito político é cuidadosamente delimitado: não há ali um chamado à greve geral, à auto-organização nos locais de trabalho, à tomada das ruas por movimentos populares. O chamado se limita a pressionar o Congresso, a defender o STF, a fortalecer um governo progressista. Em outras palavras, trata-se de reforçar as muralhas institucionais do Estado, não de ultrapassá-las.
Esse fenômeno não é novo. Guy Debord já observava como a sociedade do espetáculo transforma a crítica em mercadoria e em performance, de modo que até os gestos de contestação são absorvidos pelo sistema e reconvertidos em reforço da ordem. A função da arte progressista dominante é precisamente esta: estetizar a resistência, tornando-a consumível, admirável, e ao mesmo tempo inofensiva.
O público, emocionado pela presença de seus ídolos, experimenta a sensação de pertencimento a uma luta coletiva, mas essa luta é definida nos limites estreitos da ordem burguesa. O efeito catártico da manifestação substitui a construção paciente de uma organização popular de base, capaz de enfrentar os mecanismos estruturais da exploração. O “Sem anistia” se converte em slogan moralizante, não em programa político de enfrentamento.
Outro elemento central é a seletividade da memória. Essa classe artística invoca a história da resistência à ditadura, mas esquece que foi a própria anistia de 1979 – celebrada por amplos setores progressistas — que garantiu a impunidade dos torturadores e a continuidade da dominação militar sobre a sociedade. Ao protestar hoje contra a anistia a golpistas, esses artistas não enfrentam o núcleo da contradição histórica: a democracia brasileira se construiu sobre pactos de conciliação com o autoritarismo e sobre a neutralização da organização popular.
Ao invés de denunciar a continuidade estrutural desse processo, preferem limitar-se à denúncia moral da extrema direita, como se o problema fosse apenas o fascismo explícito, e não a lógica de um Estado que, desde sempre, serve aos interesses da burguesia.
3.
A classe artística dominante progressista é também portadora de uma forma específica de universalismo burguês: apresenta suas pautas como valores universais da humanidade, quando na realidade refletem a perspectiva de uma fração específica da sociedade – artistas de renome, pertencentes a classes médias e altas, com acesso privilegiado aos meios de comunicação e à indústria cultural.
Seu discurso se pretende portador da “voz do povo”, mas na prática funciona como mediação elitista. É um povo abstrato, invocado na retórica mas ausente enquanto sujeito histórico. A eleição de Lula aparece como expressão dessa vontade popular, quando na realidade foi resultado de um pacto amplo que incluiu setores do grande capital, da direita e do progressismo institucional. O povo trabalhador, que sofre diariamente com desemprego, violência policial e precarização, continua sem voz e sem organização própria.
Essa construção simbólica serve, portanto, à neutralização do conflito. A ideia de um mundo sem antagonismos de classe se apresenta como horizonte desejável: um mundo de paz, de diversidade celebrada, de democracia resguardada pelas instituições e pelo voto, onde a cultura funciona como cimento da coesão social. Trata-se de uma utopia regressiva, que substitui a perspectiva revolucionária de transformação pela promessa de harmonia dentro da ordem capitalista.
A classe artística dominante progressista funciona, assim, como um aparelho ideológico de Estado ampliado: não apenas canta contra o fascismo, mas também canta pela preservação da ordem. Sua função é a de construir uma muralha simbólica que contém a extrema direita, mas também bloqueia o avanço de uma esquerda radical.
O desafio colocado a quem deseja pensar criticamente é compreender essa ambivalência. Não se trata de negar a importância de tais artistas em determinados momentos históricos, nem de desconsiderar o impacto positivo que suas vozes podem ter ao impedir retrocessos autoritários imediatos.
Mas é preciso revelar que essa atuação se dá sempre dentro dos marcos do possível estabelecido pela ordem do capital. A democracia que se defende não é a democracia dos conselhos populares, da autogestão, da emancipação dos trabalhadores; é a democracia parlamentar, liberal, compatível com a exploração de classe e com a dominação imperialista. O imaginário que se constrói não é o da revolução, mas o da reconciliação. Não é o da luta, mas o da celebração estética.
Concluir essa reflexão exige recolocar o problema em termos marxistas: a luta de classes é o motor da história, e toda tentativa de apagá-la é um esforço ideológico para perpetuar a ordem vigente. A classe artística dominante progressista cumpre, hoje, um papel fundamental nesse apagamento.
Ela não apenas canta, escreve ou interpreta; ela produz a consciência possível dentro da ordem. E enquanto o povo se emociona com suas canções e suas falas, permanece sem organização política capaz de enfrentar as contradições estruturais. O verdadeiro muro que se ergue não é contra a extrema-direita, mas contra a possibilidade de que os trabalhadores assumam seu destino histórico.
*Arthur Moura é doutorando em História Social na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).