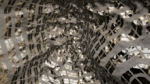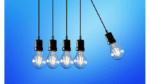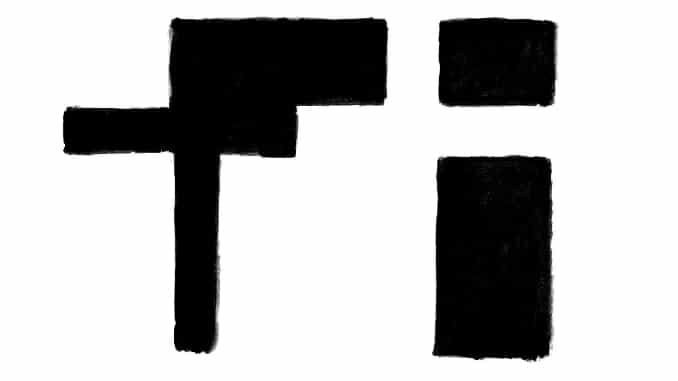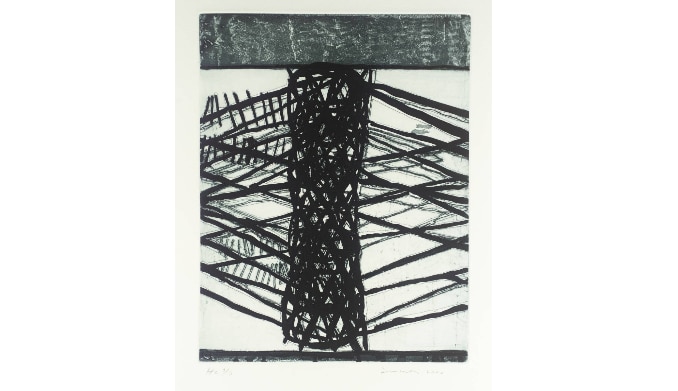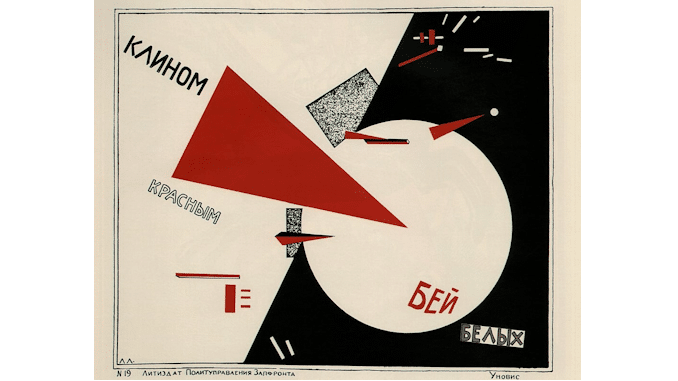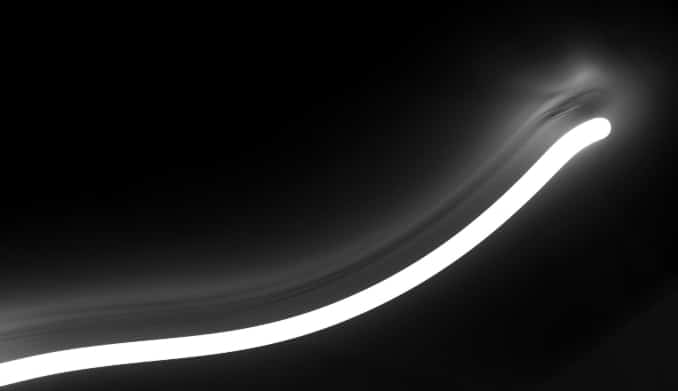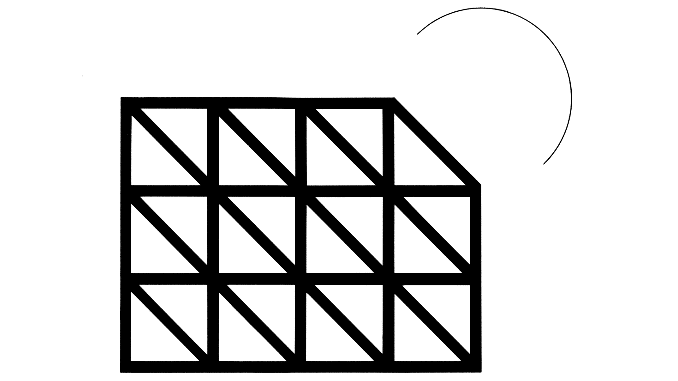Por FLAVIO AGUIAR*
O mito farroupilha e suas narrativas continuam sendo balizas fundadoras da cultura sul-riograndense, gaúcha e brasileira
185 anos depois de sua deflagração (setembro de 1835) e quase 176 depois de seu fim (fevereiro/março de 1845), a “Revolução Farroupilha” voltou a ser manchete. Desta vez, através de seu hino, acusado de ser racista por várias personalidades, devido, sobretudo, aos versos “povo que não tem virtude/acaba por ser escravo”. A polêmica foi deflagrada pela atitude da bancada do PSOL, na posse da atual Câmara de Vereadores em Porto Alegre, não se levantando quando o hino foi executado.
Em primeiro lugar, devo fazer alguns esclarecimentos. Nada tenho a ver com a atitude da vereadora Comandante Nadia, repreendendo a bancada do PSOL, pelo que considerou uma “atitude desrespeitosa”. Muito menos com o projeto de lei absolutamente idiota apresentado a seguir, obrigando todo mundo a ter uma “atitude de respeito” quando da execução dos hinos do Estado e do País. Considero que cada um ou uma deva ter a liberdade de se comportar como quiser durante a execução de hinos: levantar-se, ficar sentado, virar-se de costas, sair da sala, plantar bananeira, etc., desde que não agrida ninguém. Durante os anos da ditadura militar de 1964 me recusei a cantar o Hino Nacional, só voltando a fazê-lo no dia da primeira grande manifestação pelas Diretas Já, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, em 25 de janeiro de 1984.
Isto posto, passo a considerar os termos da polêmica, e sua moldura histórica. Concordo com a argumentação do artigo de Florence Carboni e Mario Maestri, “A linguagem escravizada”, publicado aqui neste aterraeredonda, para quem a acusação de racismo anti-afro na letra do hino é anacrônica, levando-se em conta sua composição na primeira metade do século XIX. Isto não me impede de respeitar a posição de quem não queira aceitá-lo como representativo de seu sentimento anti-racista.
Deve-se ressaltar que as polêmicas em torno da letra oficial do hino são antigas e muito variadas, envolvendo até mesmo sua autoria, atribuída a Francisco Pinto da Fontoura, filho, porque havia o pai. Ao longo dos anos o filho ganhou o apelido de Chiquinho da Vovó.
A adoção oficial da letra do hino se deu na década de 1930, depois de uma polêmica em torno de três versões para ela. E a letra foi modificada durante a ditadura civil-militar de 1964, retirando-se uma estrofe que falava em tiranias, glórias “gregas” e virtudes “romanas”. Ainda se discute se a retirada da estrofe se deu por razões ditatoriais, diante da palavra “tirania”, ou por arroubos regionalistas, diante da menção aos “estrangeiros” gregos e romanos. Essa menção, no entanto, rima com o “Zeitgeist” da época de sua composição, o “espírito do tempo”: neste se misturavam arroubos românticos com uma moldura intelectual com traços remanescentes de um neoclassicismo tardio, herdeiro do século XVIII. Como de resto aconteceu com todo o Romantismo brasileiro.
O que pretendo é ver a presente polêmica dentro da moldura das variadas interpretações do levante contra o Império Brasileiro no Rio Grande do Sul, que levou à mais longa guerra civil da nossa história. Nestas interpretações, o que tenho visto, muitas vezes, é uma tentativa frequente de reduzir sua complexidade a leituras lineares, unidimensionais, que levam a uma simplificação positiva ou negativa de seu significado. E que desprezam a sua longevidade como algo importante para sua compreensão.
É bom lembrar que a entronização definitiva da “Revolução Farroupilha” como evento histórico relevante e positivo se deu apenas durante os movimentos republicanos mais para o fim do século XIX e depois, com a proclamação da República, em 1889.
Antes houve manifestações esporádicas sobre sua relevância, como a publicação das Memórias de Garibaldi em jornais do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, ainda em meados do século XIX, com a “bênção” nada mais nada menos do que de Alexandre Dumas, Pai, depositário e editor do manuscrito do caudilho italiano.
O livro, apresentado como uma autobiografia algo romanceada, enaltece, decididamente, o perfil moral dos rebeldes rio-grandenses, com quem Garibaldi manteve alguma correspondência depois de sua volta à Europa, embora esporádica. Publicado em folhetim no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, estas “Memórias” tiveram grande repercussão, por ser seu autor (embora a chancela fosse do pai de “Os três mosqueteiros”, de grande prestígio no Brasil) e personagem já um caudilho de renome internacional, promovendo a efígie do gaúcho graças ao poncho branco que costumava usar, tanto nas campanhas militares quanto nas manifestações políticas.
Outro marco importante foi o romance de Alencar, “O gaúcho”, publicado em 1870, que enaltece Bento Gonçalves, embora mantenha críticas ao movimento rebelde. Tenho por mim que o personagem Loredano, o ex-padre italiano vilão de “O Guarani”, publicado em folhetim em 1857, deva ter sido inspirado, ainda que de longe, nos italianos que lutaram com os Farroupilhas, “estrangeiros” que tinham fama de corsários e bandidos. Esse foi o caso do romance “O corsário”, de José Antonio do Vale Caldre e Fião, de 1851. Mesmo no romance “A divina pastora”, do mesmo, publicado em 1847, embora o personagem central seja um farroupilha, a revolta é vista criticamente.
A República Rio-Grandense, seu nome oficial, também ficou conhecida pelos nomes inicialmente pejorativos de “República de Piratini”, alusão a sua primeira capital, apresentada como um vilarejo nos confins do Império vencedor, e “República dos Farrapos”, alusão a ideia algo enganadora de que seus líderes e comandados vestiam andrajos. Uma das obras que consagrou o nome “República de Piratini” foi o livro “Guerra Civil no Rio Grande do Sul”, do historiador Tristão de Alencar Araripe, publicada no Rio de Janeiro em 1881, muito crítico em relação ao movimento rebelde. Político do Partido Liberal, Araripe governou a província de 5 de abril de 1876 a 5 de fevereiro de 1877, nomeado pelo Imperador.
Foi somente depois da entronização positiva do movimento rebelde na historiografia rio-grandense, como na extensa obra de Alfredo Varela, História da Grande Revolução, de 1933, que termos como “Piratini” e “Farrapos” passaram a ser vistos como verdadeiros “Lieux de Mémoire”, na acepção de Pierre Nora, batizando o primeiro o Palácio do Governo do Estado, a partir de 1955, e o segundo dando nome a uma das principais avenidas da capital gaúcha, inaugurada em 1940. Outro nome pejorativo dado à República foi o de “República das Carretas”, alusão ao caráter itinerante de sua capital, que perambulou entre os municípios de Piratini, Caçapava (hoje dita do Sul) e Alegrete.
Depois da proclamação da República criou-se uma versão altamente simplificadora do movimento, apresentando-o como uma antecipação do movimento republicano e até mesmo abolicionista, devido à formação de seus esquadrões de “Lanceiros Negros”, com escravos a quem se prometia a liberdade. Quanto à antecipação da proclamação da República, há algo de muito verdadeiro nisto. Afinal, o general Netto, que a proclamou, o fez diante da tropa formada depois da batalha do arroio Seival, em 10 de setembro de 1836. E Netto não era, originalmente, republicano. Se proclamou a República, o fez pressionado por oficiais de patente inferior, como Lucas de Oliveira e Pedro Soares. Da mesma forma, em 1889 o Marechal Deodoro, que também não era republicano, viria a proclamar a República no Campo de Santana, diante da tropa formada, e também pressionado por militares de patente inferior à sua. Enfermiço, febril, achava que apenas depunha um ministério… E o traço militar permanece candente – para não dizer incandescente – na nossa história “republicana” até os dias de hoje.
O levante farroupilha foi um fenômeno extremamente complexo, e continua sendo, graças à amplitude das interpretações históricas sobre ele. Apesar de sua variedade, pode-se dizer que há duas grandes balizas que orientaram estas interpretações. De um lado, há a interpretação “eufórica”: foi um movimento republicano, democrático em sua essência, graças à “democracia” que caracterizava a estância brasileira fronteiriça. No limite, foi um movimento que antecipou o abolicionismo no Brasil, movimento que ganhou corpo mais robusto apenas depois da Guerra do Paraguai, embora literariamente fosse vigoroso desde antes. Um dos melhores testemunhos desta interpretação, sem prejuízo de outros, é o livro “Garibaldi e a Guerra dos Farrapos”, de Lindolfo Collor, lançado em 1938 pela Editora José Olímpio.
Há algo de exagero em declarar todo o movimento como abolicionista. Se é verdade que havia abolicionistas nele, seu setor financeiramente hegemônico, o dos estancieiros e charqueadores fronteiriços, convivia muito bem com a escravidão. É verdade que não se pode comparar diretamente o universo das estâncias rio-grandenses, que eram um misto de unidades produtivas com unidades de defesa militar, com as fazendas cafeeiras ou açucareiras de mais ao norte do país.
Naquelas não era incomum serem armados até os escravos, além da peonada, diante das necessidades de defesa e ataques fronteiriços. Mas daí a dizer que as estâncias eram “democráticas” vai uma distância enorme.
Do outro lado, há a interpretação “disfórica”, que caracteriza o movimento como de todo reacionário, completamente dominado pela oligarquia latifundiária da fronteira rio-grandense, escravista e autoritária, tendo por base as disputas econômicas entre esta classe e as autoridades do centro do país em torno de temas como os impostos sobre a produção do charque nacional, que favoreciam a importação do charque platino (o que é verdade). Esta interpretação ganhou impulso entre gerações mais novas de historiadores, influenciados alguns pelo ideário marxista, outros pela tese de doutorado de Fernando Henrique Cardoso, “Capitalismo e escravidão no Brasil meridional”, de 1961.
Na minha opinião, ambas as coordenadas tendem a deixar em segundo plano um aspecto fundamental da Revolta Farroupilha, qual seja, o das implicações políticas. A primeira diminui este aspecto em nome de uma aura de “superioridade moral” dos rebeldes sulinos, baseada em ideias, que hoje podemos considerar fantasmagóricas, como a de “democracia” nas estâncias militarizadas que ocupavam a fronteira com os territórios platinos. A segunda, colocando os aspectos econômicos no primeiro plano, e há algo de veracidade nisto, deixa de valorizar a intriga política que acabou por sustentar a mais longa guerra civil da história brasileira.
Levo em conta que a história deste levante rio-grandense do século XIX é inseparável de um capítulo ainda insuficientemente delineado na historiografia brasileira, qual seja, o da Maçonaria – como de resto, em toda a América Latina e mesmo nos Estados Unidos.
Longe de mim reivindicar condição de especialista em assunto tão complexo. Mas pelo que pude depreender, na primeira metade do século XIX havia, pelo menos, duas grandes tendências nas lojas maçônicas brasileiras: a “Azul”, monarquista, e a “Vermelha”, republicana. Esta segunda tendência teria uma penetração ampla entre a jovem oficialidade no Rio Grande do Sul, contaminada pelo contato com seus congêneres uruguaios, embora muitos destes contatos se dessem, primeiro, através de confrontos militares.
Esta tendência nos faz entender por que razão jovens oficiais, como Lucas de Oliveira e Pedro Soares, pressionaram o general Netto para que proclamasse a República, na sequência da vitoriosa batalha do Arroio Seival, em setembro de 1836. Tenho para mim que esta tendência maçônica ajudaria a explicar a bandeira da República Rio-grandense, consagrada em desfile militar na cidade fronteiriça de Piratini, elevada à condição de capital da República, ainda naquele mesmo ano: dois triângulos, o superior verde e o inferior amarelo, cortados por uma faixa vermelha, sem brasão, coisa que seria adotada somente depois da proclamação da República, em 1889. Os dois triângulos provinham da bandeira brasileira, sendo o verde representativo da Casa Portuguesa de Bragança, de que D. Pedro I era parte, e o amarelo da Casa Austríaca dos Habsburgo, de onde vinha sua esposa, D. Leopoldina, tia do futuro imperador Franz Joseph I (casado depois com Romy Schneider, ops, quero dizer, Sissi ou Elisabeth da Baviera) e do malogrado e infeliz imperador do México, Maximilian, ambos primos de D. Pedro II.
Isto relativiza, por exemplo, a consideração de que o primeiro impulso do levante gaúcho seria separatista. Tratava-se de uma disputa de poder local, regional e talvez nacional. Ainda assim, duvido que os primeiros rebeldes de 1835 quisessem tomar o poder no Rio de Janeiro. Queriam tomar o poder em Porto Alegre, e foi o que fizeram, partindo da Praia da Alegria, do outro lado do Rio Guaíba, com as armas e os batelões assinalados.
As intrigas políticas envolviam os estancieiros militarizados da fronteira, os charqueadores predominantes na região de Pelotas, e os militares e políticos favoráveis aos governos da Regência, durante a menoridade de D. Pedro II. A presença da Maçonaria ajuda a entender também como e por que os rebeldes do Rio Grande do Sul tinham ligações com o centro do Império. De outro modo não se consegue explicar a facilidade com que Bento Gonçalves, feito prisioneiro e transferido primeiro para o Rio de Janeiro, depois para o Forte de São Marcelo ou do Mar, na Bahia, conseguiu escapar deste último presídio, na Baía de Todos os Santos, com ajuda do Dr. Francisco Sabino, depois líder da Sabinada (revolta bahiana entre 1837 e 1838) , e fazer a longa viagem de regresso ao sul. Houve também algum tipo de interface fugaz com os revoltosos liberais de São Paulo e Minas Gerais, em 1842. Essa revolta provocou entusiasmo entre os já esgotados farroupilhas, depois de sete anos de luta, logo arrefecida pela derrota daqueles movimentos.
Além dos personagens economicamente graúdos acima descritos, havia outros setores, ainda que não hegemônicos, presentes na revolta sulina. Havia uma “arraia miúda”, radicalizada, como o Padre Chagas e Pedro Boticário, que acompanhou Bento Gonçalves na prisão. Preso na Fortaleza da Laje, não conseguiu fugir por ser muito gordo e não conseguir passar pela janela da fuga. Consta que Bento Gonçalves não o abandonou, sendo então transferido para a Bahia.
Havia a jovem oficialidade de inclinação republicana, alguns dentre eles abolicionistas. E havia o caso mais curioso: a presença dos militantes da Giovine Italia, Jovem Itália, com Giuseppe Garibaldi, Luigi Rossetti e o Conde Tito Livio Zambeccari à frente, comandados por Giuseppe Mazzini, desde Londres. Sabe-se que quem levou Garibaldi ao encontro dos farroupilhas foi Rossetti, ainda no Rio de Janeiro. Garibaldi teria visitado Bento Gonçalves na prisão, na Capital da Corte e do Império. Como explicar esta ligação que, sem dúvida, ajudou a dar um colorido libertário aos rebeldes gaúchos? Maçonaria à parte, ou inclusa, deve-se levar em conta que a Giovine Italia, fundada em 1831 por Mazzini, abriu uma “Loja”, como se dizia, no Rio de Janeiro. Lutava contra os Habsburgo, o Papa e os Bourbon. Aqueles dominavam o norte da futura Itália; o Papa, o centro, e os Bourbon, o sul. A família imperial luso-brasileira era vista como aliada, ainda que por laços de casamento, dos Habsburgo… Então, lutar contra aquela era também lutar contra estes.
E assim tivemos toda a aventura épica e romântica envolvendo Giuseppe e Anita Garibaldi, proclamados “herói e heroína de dois mundos”. A imagem radicalizada dos revoltosos se difundiu de tal modo que mais tarde, o pai do poeta Álvares de Azevedo, então estudante de Direito em São Paulo, escreveu-lhe uma carta manifestando sua preocupação diante das ideias “farroupilhas” (sic) de seu filho…
Que os estancieiros militarizados recrutassem escravos para lutar em suas fileiras não é de surpreender; foi costume das classes dominantes durante todo o século XIX, chegando até a nefasta Guerra do Paraguai, pelo menos. O que chama a atenção é o vínculo estreito que se se estabeleceu entre os combatentes e seu último comandante, o Major, depois Coronel Joaquim Teixeira Nunes, tão odiado pelos imperiais quanto os “Lanceiros Negros” que ele comandava. Tão estreito foi este vínculo que os imperiais, chefiados pelo implacável Coronel Francisco Pedro Buarque de Abreu, futuro Barão de Jacuí, dito Chico Pedro ou também Moringue, parece que pelo formato de sua cabeça, não descansaram enquanto não assassinaram o Cel. Teixeira Nunes, o que conseguiram em 26 de novembro de 1844, no último combate da guerra civil, depois do episódio de Porongos, que ocorrera em 14 do mesmo mês.
Digo assassinaram porque Teixeira Nunes foi degolado depois de ter seu cavalo derrubado, de ter sido lanceado gravemente pelo alferes imperial Manduca Rodrigues e feito prisioneiro. Comandava a tropa do Império o mesmo Moringue que, no entanto, não participou diretamente do combate.
Teixeira Nunes conseguira escapar de Porongos com alguns dos Lanceiros Negros que comandava, e foi cercado com eles no local conhecido como Arroio Grande, hoje um município autônomo próximo da fronteira com o Uruguai e da Lagoa Mirim.
E assim chegamos a este episódio – Porongos – chamado alternativa ou simultaneamente de “Desastre”, “Massacre” e/ou “Traição”. “Desastre”: atacada de surpresa, de madrugada, a força farroupilha foi desbaratada; mais de 300 farroupilhas foram feitos prisioneiros, entre eles 35 oficiais; e os imperiais apreenderam o arquivo da República Riograndense, canhões, outras armas e mil cavalos; o comandante farroupilha, Davi Canabarro, escapou por pouco, vestindo roupas esfarrapadas, segundo alguns, ou só ceroulas, segundo outros. “Massacre”: os imperiais caíram sobretudo sobre os Lanceiros Negros que, embora sem armas de fogo, estiveram entre os poucos que resistiram, comandados por Teixeira Nunes, que conseguiu fugir com alguns deles. “Traição”: acusa-se Davi Canabarro de ter “acertado” o ataque com os imperiais para se ver livre dos Lanceiros Negros.
Uma coisa é certa: houve incúria e desleixo por parte de Canabarro e seus oficiais, animados pela ideia de que já havia iniciativas de paz que se materializariam no envio ao Rio de Janeiro de Antonio Vicente da Fontoura para negocia-la, em dezembro de 1844. Consta que Canabarro estava em sua tenda de campanha na companhia de sua amante favorita, dita a “Papagaia”, no momento do ataque.
Em 1999, quando do lançamento de meu romance “Anita”, em Porto Alegre, um bisneto do General Canabarro perguntou-me como este aparecia na narrativa. Disse-lhe, sem rebuços, que três adjetivos rondavam a biografia do seu bisavô: “mulherengo”, “grosso” e “traidor”. E que eu podia confirmar, pelo que eu encontrara nas pesquisas, os dois primeiros, mas não o terceiro adjetivo.
Motivo: a principal fonte da acusação contra Canabarro é uma carta que teria sido enviada pelo Conde, futuro Duque de Caxias, então presidente da província, ao Moringue, afirmando que havia uma combinação com o comandante farroupilha. Esta carta – divulgada a posteriori pelo próprio Moringue – foi objeto de contestações desde o momento de sua divulgação. Há quem aceite sua autenticidade; há quem a negue, atribuindo-a a uma falsificação feita pelo Moringue, para difamar Canabarro.
Nas lutas políticas que continuaram depois da pacificação, com os militares farroupilhas reintegrados ao Exército Imperial, embora recebendo o título de Barão, o Moringue não ficou em primeiro plano. Não é de surpreender que tenha continuado sua guerra particular contra os farroupilhas. Desconheço (se alguém souber, que me informe) que tenha sido feito um exame grafológico da carta, para confirmar pelo menos a assinatura de Caxias, já que, se ela for verdadeira, é muito possível que tenha sido redigida por um secretário.
Assim que, com relação a Canabarro, mantenho o princípio do “in dúbio, pro reo”. Há ainda o fato de que ambos se encontraram quando da rendição do comandante paraguaio em Uruguaiana, em setembro de 1865. Só não se bateram em duelo por serem contidos pelos outros oficiais presentes.
Quanto ao fato de estarem os Lanceiros Negros desarmados de suas armas de fogo, devo dizer que era costume – detestável, de todo modo – desarmar delas negros e índios que combatessem ao lado de outras tropas regulares. Não foi uma peculiaridade de Porongos.
Não está em meus propósitos defender esta ou aquela versão do Hino Rio-Grandense. Considero isto de hinos coisa muito complicada. Quero sim trazer ao debate alguma profundidade histórica, que contribua para dar à visão do passado a percepção de suas complexidades.
Além disto, vale ressaltar que não é por ser criticado que um mito e também sua mitologia deixam de existir. Muitas vezes a crítica renova a percepção do mito como referência histórica. Tomo aqui mito no sentido de “narrativa fundadora”, ao largo do pré-conceito vulgar de que “mito” seja sinônimo de “mentira”. E ressalto que isto não tem nada a ver com a vulgaridade burra de chamar o atual ocupante do Palácio do Planalto de “mito”.
Naquele sentido mais complexo, arrastando consigo tanto as visões eufóricas quanto as disfóricas, além de outras possíveis, como a minha, o mito farroupilha e suas narrativas continuam sendo balizas fundadoras da cultura sul-riograndense, gaúcha e brasileira.
PS – Peço desculpas por não apresentar as devidas referências de muitas das afirmações que faço. Estou sem minhas anotações originais, guardadas em algum baú em São Paulo, e aqui em Berlim as bibliotecas estão todas fechadas.
*Flávio Aguiar, escritor e crítico literário, é professor aposentado de literatura brasileira na USP. Autor, entre outros livros, de Anita (romance) (Boitempo).