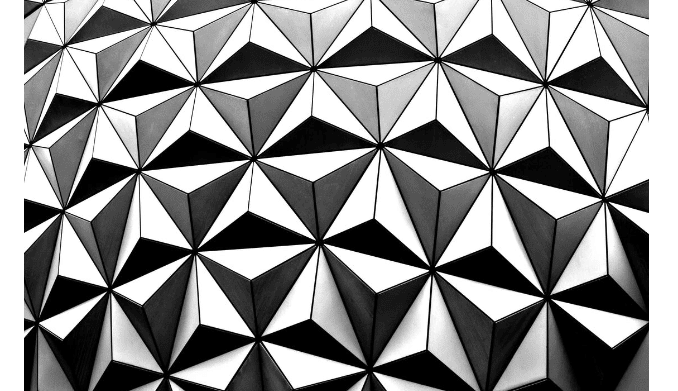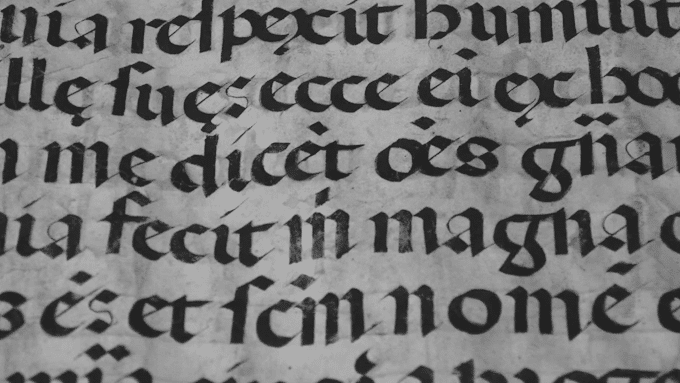O romance de Diderot procura desestabilizar, colocar sob suspeita e subverter o fanatismo por meio da descrição de suas práticas, discursos e efeitos
Por Arlenice Almeida da Silva*
Em tempos sombrios, a prudência recomenda refugiar-se na leitura dos clássicos. No entanto, se alguns provocam no leitor um efeito leniente ou dissolvente; outros exacerbam tensões, intensificando forças e energias. Como exemplo do último caso, recomendo o romance A religiosa (Perspectiva, 2009), de Denis Diderot, lido, se possível, em companhia do belíssimo filme homônimo de Jacques Rivette (1966).
Quando o filme foi censurado pelo então secretário de estado Yvon Bourges, atendendo às pressões de associações religiosas e educacionais da sociedade civil, Jean-Luc Godard, em carta aberta ao então ministro da cultura André Malraux, pontuou com sarcasmo: “como é prodigiosamente belo e comovente ver um ministro UNR, em 1966, com medo do espírito enciclopédico de 1789”. Será que o filme A religiosa constituiria hoje uma ameaça, como foi considerado pelo gaulismo, em 1966?
A resposta está no livro e na sua história bem enxuta, que se refere aos infortúnios de uma jovem de 16 anos, chamada Marie-Suzanne Simonin, que é forçada a viver num convento, por ser filha ilegítima, fruto de uma paixão equivocada no passado de sua mãe. Sem recursos para um dote ou renda, ela é obrigada pela família a fazer os votos, tornar-se uma religiosa, enclausurando-se em um convento.
O romance foi escrito em 1760, distribuído para poucos leitores, como manuscrito, pela Correspondance littéraire de Grimm e, finalmente, publicado como livro na França em 1796. De lá para cá, formou-se um consenso na fortuna crítica sobre a obra de que não encontramos, em A religiosa, teses anticristãs, mas apenas um anticlericalismo, haja vista que Suzanne Simonin seria, no fundo, inocente, cristã e piedosa. Nessa direção, o romance visaria menos atacar o cristianismo e mais condenar a prática da clausura forçada.
Por esse motivo o texto foi lido, por muitos, principalmente como um capítulo de filosofia moral ou política e não como crítica religiosa. Em artigo recente, Anne Coudreuse, de fato, reconhece que Suzanne não é apenas uma jovem mulher sem vocação para a vida religiosa, na medida em que encarna uma “figura de resistência” social, a apresentação de uma mulher que “não pode escapar jamais” de uma forma ou outra de aprisionamento. No entanto, justamente por isso, há no romance, para a mesma autora, uma crítica irônica à religião e, especificamente, ao cristianismo, entendido como uma “máquina de discurso, no interior da qual a personagem precisa se inserir a fim de subvertê-la”.[i]
Michel Delon, na direção de Coudreuse, sugere que A religiosa permitiu a Diderot, esconjurar seus “próprios demônios, agonias e obsessões religiosas”. De fato, o filósofo conhece muito familiarmente os ambientes religiosos que narra; não só o colégio de Jesuítas onde fora educado em Langres e no qual aos treze anos quase pronunciou seus votos, mas também a dissidência jansenista, efervescente à época, no Quartier Latin, na qual seu irmão se converte em um intransigente abade; e o convento Ursulines, de Langres, no qual sua irmã Angélica, religiosa e louca, morre tragicamente, em 1748.
Assim, para Delon, o ano 1756 assinala, de certo modo, um ponto de inflexão na trajetória de Diderot: quando seu pai morre e ele não consegue ir ao enterro, em carta ao amigo Grimm, desabafa: “Não vi morrer nem minha mãe, nem meu pai. Eu não lhe esconderei que vejo isso como uma maldição do céu”.[ii] Para Delon, essa será a última manifestação de superstição, vivida por Diderot como libertação religiosa; consuma-se, a partir daí várias escolhas morais e existenciais: “a de Paris contra Langres; do engajamento enciclopédico contra a fé crista; da liberdade contra a tradição”.[iii]
A saída do contexto íntimo e familiar, dominado pela vida religiosa, foi motivada, ademais, pelo espanto de Diderot diante das práticas das “convulsionárias” (convulsionaires), fanatismo jansenista que se manifestara em Paris, principalmente em mulheres, e que foi objeto de vários verbetes da Enciclopédia; entre eles, destaco o escrito pelo próprio Diderot, no tomo XIV, intitulado “Auxílio” (Secours), sobre esses fanáticos modernos que se deixavam, entre outras macerações da carne, pregar em uma cruz, tendo os pés e as mãos varados por pregos.
Neste verbete, Diderot examina o tema da credulidade religiosa e das práticas de autoflagelação, espantando-se como essas formas de martírio, quando encenadas diante de um público, não ocultavam o sofrimento dos mártires; ao contrário, porque era verdadeiro, o sofrimento era vivido pelas vítimas e espectadores como alívio ou consolação. Para Delon, o interesse pelas mortificações e fanatismos religiosos possibilita à Diderot situar “Suzanne Simonin no meio da violência dos conflitos que dilaceravam a Igreja Francesa, entre ultramontanos e galicianos, ou seja, entre os defensores da hierarquia eclesiástica e os partidários de uma paradoxal democracia da fé”[iv].
Diderot, no entanto, não pretende escrever um romance de tese, nem tampouco participar do debate teológico; ao contrário, visa, por meio da descrição de suas práticas, discursos e efeitos, desestabilizá-lo, colocá-lo sob suspeita, subvertendo-o, haja vista que, como afirma Alexandre Deleyre, em outro importante verbete intitulado “Fanatismo”, publicado no tomo VI, em 1751, da Enciclopédia, “fanatismo é a superstição posta em ação”.[v]
Em A religiosa Diderot concentra-se, então, nas variações de sofrimento monacal, reinventando formalmente o gênero romance, a fim de apreender por meio dele uma particular relação com o corpo martirizado; ou seja, busca inventar uma linguagem que seja capaz de dizê-lo, dando a ver um particular espetáculo de encenação de um corpo que sofre voluntariamente. Ora, o corpo é o grande tema não só da filosofia materialista de Diderot e da literatura libertina, sua filiação mais próxima, como está especialmente presente, como vimos, nos debates teológicos que assolaram a França na primeira metade do século XVIII.
É por essa razão que Diderot retoma o tema da “religiosa en chemise” (religiosa nua ou louca), cuja origem, na França, remontava à tradição anticlerical libertina de Chavigny de Bretonnière e sua Vênus dans le cloître ou la religieuse en chemise, de 1682, a fim de subvertê-lo na raiz. No lugar de uma sátira leve e agradável, como ocorria no tratamento tradicional, o tema adquire agora no século XVIII intensidade dramática e gravidade, acentuadas por meio de uma longa narrativa que percorre o itinerário das experiências da religiosa em três conventos, aos quais correspondem três paixões particulares. Com isso, Diderot evita todo o efeito cômico ou libertino, acentuando o patético.
Em um formato misto que articula romance e memória, Diderot dá voz, então, a uma jovem mulher rebelde, que não aceita ser confinada num convento. Nomeada de “memórias”, a voz refere-se, contudo, menos a recordações e mais ao formato de um diário íntimo, escrito na sequência imediata ao vivido, visando instruir uma peça jurídica.
O gênero emula de certa forma o praticado em ambiente religioso, no século XVIII, especialmente pelos advogados dos jansenistas que, após a bula Unigenitus, de 1713, se defendiam contra a acusação de heresia, afirmando-se como a alma da igreja e vítimas dos perseguidores. Nestas “memórias” os jansenistas exibiam argumentos de defesa, diante das injustiças e erros cometidos, narrando, do ponto de vista das vítimas, a história dos seus infortúnios. É neste tom apropriado e grave que Simone redige as Memórias de uma religiosa que solicita, paradoxalmente, não sua ligação eterna com a Igreja, mas a resilição unilateral e definitiva dos seus votos.
O que garante o estranhamento de A religiosa é o inusitado de uma voz que quando clama socorro aos céus, exibe uma incredulidade original, certa “inocência” ou “religião do coração” que corresponde àquilo que o filósofo chama de religião natural. Por exemplo, quando Suzanne pronuncia seus votos, o que relata é uma experiência paradoxal de esquecimento e inconsciência, quase como um desvario, pois naquele momento todos os seus sentidos falharam: “Interrogaram-me, sem dúvida, e eu, sem dúvida, respondi, pronunciei os votos, mas não guardo a menor lembrança deles, e me vi tão inocentemente convertida em religiosa quanto me haviam tornado cristã”. [vi]
No convento de Longchamps, encontramos o mesmo efeito de desestruturação, mutismo e silêncio provocados por Suzanne na madre superiora Moni: “Não sei o que se passa em mim; diz a madre, parece-me, quando você vem, que Deus se retira e que seu espírito se cala; é inutilmente que me excito, que busco ideias, que desejo exaltar minha alma; vejo-me como uma mulher comum e tacanha; temo falar”.[vii]
Esse sentimento profundo, que caracteriza Suzanne, ora apresentado como inocência, ora como simples falta de vocação, corresponde, por vezes, ao descrito por Diderot, no Sobrinho de Rameau (Unesp, 2019), como quando ela diz: “Eu sou estúpida; obedeço a minha sorte sem repugnância e sem gosto; sinto que a necessidade me arrasta e me deixo levar (…) não saberia sequer chorar”[viii].O fato é que, diante da pureza de Suzanne, a piedosa Madre perde o talento de consolar: enquanto Moni e as outras irmãs rezam pela alma de Suzanne, recitando o Miserere, esta dorme tranquilamente, sem culpa, nem sonhos, nem pesadelos, inocentemente. Enquanto Suzanne se atem às coisas e ao presente, os pequenos olhos da superiora Moni “pareciam ou olhar dentro dela mesma ou atravessar os objetos vizinhos e discernir além, a uma grande distância, sempre no passado ou no futuro”.[ix]
Diderot, portanto, constrói a imagem de uma rebeldia feminina, clara e segura, que não está fundada em mera psicologia, mas em uma singular crítica religiosa, como quando Suzanne responde categoricamente à violenta superiora Santa Cristina: “É a casa, é meu estado, é a religião; não quero ficar encerrada, nem aqui, nem em outro lugar”[x]. Com efeito, a mera presença de Suzanne e seu gesto de negação, desorganizam a vida religiosa dos claustros, possibilitando que a religião indiretamente seja atacada.
Claro, o isolamento é o centro da crítica de Diderot, haja vista que os homens nasceram naturalmente sociáveis e os conventos são, por essa razão, instituições contrárias à natureza. No entanto, para além da clausura, o corpo, a boca e a pena de Suzanne são armas em luta contra a “língua dos conventos”, ou seja, contra as murmurações e gestos que afetam diretamente os corpos enclausurados, nos quais incidem os mais variados jogos de sedução. Entre olhares ternos, vozes doces e mãos afetuosas, proliferam recursos de maledicência e de dúvida; multiplicam-se acusações reiteradas e insinuações alimentadas por pequenas espionagens, desdobradas em grandes ciladas ou armadilhas; nos conventos inventam-se estratagemas discursivos que, por sua vez, acarretam novas práticas de mortificação, as quais exacerbam as penitências e os terrores, repletos de refinamentos de crueldade.
A hábil manobra de Diderot é a de permitir que a narradora se detenha vagarosamente na descrição destas práticas de sofrimento, sugerindo, pela reiteração, que elas são intrínsecas à vida religiosa. O claustro é uma “prisão” não porque exclui e isola, mas porque se constitui em uma sociedade das sondagens e da vigilância continua, na qual tudo se recolhe a fim de ser, em um momento oportuno, de algum modo, utilizado discursivamente, seja como instrumento de denúncia e acusação, seja de defesa.
É neste contexto fronteiriço aos processos e aos tribunais que as mortificações narradas por Suzanne fazem-na reconhecer, com aguda ironia, o paradoxo da religião: senti, diz ela, “a superioridade da religião cristã sobre todas as religiões do mundo; que profunda sabedoria havia nisso que a cega filosofia chama a loucura da cruz. (…) Eu via o inocente, com o flanco trespassado, a testa coroada de espinhos, as mãos e os pés cravados de pregos, expirando em sofrimentos, (…) e eu me apegava a essa ideia, e senti a consolação renascer em meu coração”.[xi]
A ousadia de Diderot é a de estabelecer literariamente, por meio da exacerbação narrativa, uma aproximação moderna entre sofrimento e consolação. Por exemplo, quando afirma, pela voz do padre Morel, que também entrara na religião contra a sua vontade: “As pessoas religiosas não são felizes a não ser na medida em que fazem de suas cruzes um mérito perante Deus; então se rejubilam por elas, estas vão ao encontro das mortificações; quanto mais amargas e frequentes, mas se felicitam. É uma troca que fazem da sua ventura presente por uma ventura vindoura; asseguram-se desta pelo sacrifício voluntário daquela. Depois de terem sofrido bastante, dizem: Amplius, Domine; Senhor, ainda mais”.[xii]
Não por acaso, essa mesma relação entre opressão e alívio é retomada por Nietzsche, no § 108 de Humano demasiado humano, (Companhia das Letras, 2000), quando o filósofo afirma que na vida religiosa não se trata de eliminar a causa do infortúnio, mas de modificar o efeito em nossa sensibilidade, “reinterpretando-o como um bem”, provocando uma anestesia na dor sofrida, alívio ou consolo, até ela tornar-se um prazer.[xiii] É por essa razão que o sofrimento descrito minuciosamente por Diderot é infinito; encerrada num círculo infernal de sedução e crueldade, que parece nunca terminar, o martírio de Suzanne recomeça sempre novamente, pois sem sofrimento não há religião.
Como movimento sempre repetido, ele é a dimensão trágica, intrínseco ao cristianismo; sem ele não haveria o milagre da cruz. Nele reside a importância e atualidade do romance de Diderot: quando mais a narrativa se assemelha a um pesadelo, mais ela ganha legibilidade, como movimento de descrição infinita das mortificações que não terminam nunca; pois, quando menos se espera, o sofrimento é novamente retomado.
O claustro não é só lugar de hipocrisia e fanatismo, como diz Padre Morel, mas lugar simbólico de um sofrimento que nunca termina, pois é sempre reinterpretado de alguma forma como um bem. Essa interdependência entre sofrimento e consolo, no sentido nietzschiano do “excesso doentio de sentimento”, decorre de uma metafísica perigosa, que, para os dois autores, afasta qualquer crítica ou reforma nos costumes.
Como demonstrou Florence Lotterie, há um continuum do aprisionamento na narrativa de Simonin,[xiv] uma apresentação da precariedade do feminino que é infinita, adquire formas imponderáveis, retornando sempre com a mesma intensidade. Ele começa na casa familiar de Suzanne, continua nos conventos e depois, quando a heroína consegue fugir, a fim de poder retornar à sociedade, reencontra toda sorte de sofrimento: violação, prostituição, marginalização, asilos e, claro, trabalho doméstico indigno.
Como lógica intransponível, a voz excessiva que narra o sofrimento religioso, oscila, tornando-se, por vezes, impessoal, filosófica, discursiva e não narrativa, desafiando o leitor a se perguntar quem realmente fala: se é a voz de Suzanne, se são as ideias do filósofo Diderot, ou, ainda, de uma multidão informe ainda sem voz.
Intencionalmente, como em Jacques, o Fatalista e seu amo, (Nova Alexandria, 2019), romance de 1771, a estética literária de Diderot, como mostra Duflo[xv], explora a indeterminação narrativa, por meio da qual o leitor é desestabilizado. Como é do seu feitio, Diderot aqui também arranca o leitor de sua passividade, ao lhe transferir a responsabilidade de resolver se a narrativa das sequências de atrocidades cometidas nos três conventos é verossímil ou verdadeira. Com efeito, no romance a narrativa não é nem pretende ser verossímil, aliás, como demonstra o prefácio-anexo, mas, tragicamente, pode ser verdadeira.
É por essa razão que, em A religiosa, a linguagem oscila entre o verossímil e o verdadeiro, entre fantasia e realidade, a fim de que os sofrimentos de Suzanne, como o de Werther, de Goethe, sejam particulares, ou seja, exemplares. Coube à providência, diz Suzanne, “reunir sobre uma só desafortunada toda a massa de crueldades repartidas, em seus impenetráveis decretos, pela multidão infinita de infelizes que a haviam precedido no claustro, e que deviam suceder-lhe”.[xvi]
Diderot conhece muito bem como funciona o sistema de crenças em sua época e como é difícil confrontá-lo; sabe que a crença sempre aproxima a moralidade de um suposto mundo sensato, organizado, improvável e inacessível. É por isso que Diderot parte da ideia lucreciana de um mundo produzido ao acaso, a fim de fundamentar uma moral nas relações concretas entre os homens, ou seja, especificamente na felicidade dos homens.
A piedade ou inocência de Suzanne não é, portanto, uma estratégia retórica, por meio da qual Diderot pode pintar com contrastes as perversões das superioras dos conventos; nem apenas um recurso patético, feito de jogos e insinuações eróticas, visando provocar escândalo ou lágrimas no seu leitor. Para ele, é só por meio da linguagem da inocência natural, que põe a nu a vulnerabilidade do feminino, em enlaces sutis entre sedução e crueldade, que é possível confrontar os abusos das práticas religiosas: “a piedade de Suzanne não é só uma estratégia retórica para agradar o marquês de Croismare, conquistando sua simpatia, mas é o único discurso por meio do qual é possível uma crítica eficaz ao cristianismo”.[xvii]
Em momento algum da narrativa temos um sofrimento meramente psicológico, interior, pois ele é o tempo todo social e coletivo. Diderot afirma, assim, sem meias palavras, que o convento “é a latrina (sentina) em que se atira o rebotalho da sociedade”.[xviii] Como destaca Duflo, toda a sociedade sabe que os conventos “matam, tornam loucas e são prisões onde são trancadas inocentes por motivos econômicos e sociais”[xix]; é por essa razão que, para o crítico, A religiosa é o único romance no período que se dedica longamente ao tema da perseguição coletiva.
Delon, na mesma direção, tira consequências sobre a intolerância religiosa, que, certamente, extrapolam o século XVIII: “os que se sacrificam melhor são aqueles que sacrificam mais facilmente seus vizinhos; a fascinação com o corpo martirizado acostuma-os à violência e à certeza de contar com um Deus que encoraja a perseguir aqueles que não estão do seu lado”.[xx]
Suzanne, como filha da natureza, é, assim, uma potência perigosa, pois imune à língua dos conventos: seu coração é “inflexível” ao consolo; de um lado, ela não aceita ser considerada pecadora, indigna ou abjeta; de outro lado, ela quer a felicidade no presente e não no futuro, mesmo sem saber onde encontrá-la; assim, não se deixa seduzir nem pela retórica consoladora de Moni, nem pelas torturas violentas de madre Cristine, nem pela sedução dos prazeres eróticos possíveis da madre de Santa-Eutrope. Como não é vulnerável, como as outras, ela sabe usar a palavra a seu favor, exerce o autocontrole linguístico e escreve sua própria defesa, às pressas, abusando das frases curtas, num tom que oscila entre forte agitação e grande serenidade; nas suas palavras, “bem ou mal, mas com uma rapidez e facilidade incríveis”.
Eis a voz de uma mulher “natural e sem artifício”, que suplica ajuda, no mundo dominado pelos homens, a fim de conseguir uma condição tolerável no interior da sociedade. Na memorável comparação que tece entre floresta e convento, Diderot articula natureza e sociedade, nos seguintes termos: “colocai um homem em uma floresta, ele se tornará feroz; em um claustro em que a ideia de necessidade se junta à da servidão, é pior ainda; de uma floresta, a gente sai, de um claustro não se sai mais; na floresta é-se livre, é-se escravo no claustro”.[xxi]
Se as Memórias de Suzanne são negadas pelos tribunais, e também pelo suposto narrador, na desfaçatez do prefácio-anexo, é a fim de confirmar o convento como um complemento institucional da própria sociedade, de modo a permitir que o leitor constate a opressão não só da clausura, mas da estrutura perversa da sociedade, especialmente para uma mulher pobre. A tragédia da vida de Suzanne é que mesmo conseguindo fugir do último convento, ela continua sem ter para onde ir.
Se Diderot é perigoso, é por exacerbar essa articulação entre sofrimento e consolo, a ponto de o leitor constatar, desconsolado, que, de fato, o que resta a Suzanne é continuar fugindo. É o que também sugerirá, anos depois, André Gide, em Os frutos da terra (Difel, 2012), de 1871: “Quando me tiveres lido, joga fora este livro – e sai. Gostaria que te tivesse dado o desejo de sair – sair do que quer que seja e de onde seja, da tua cidade, de tua família, do teu quarto, de teu pensamento[xxii]”.
*Arlenice Almeida da Silva é professora de estética e filosofia da arte no Departamento de Filosofia da UNIFESP.
Notas
[i] COUDREUSE, Anne, La Religieuse de Diderot: une critique de la claustration conventuelle. In: HAL, Montpellier, 2012.
[ii] Apud: DELON, Michel, Diderot cul par-dessus tête. Paris: Albin Michel, 2013, p. 271 (https://amzn.to/3KPEEmi).
[iii] Idem, ibidem.
[iv] Idem, p. 262
[v] DIDEROT e D’ALEMBERT, Enciclopédia, v.6. São Paulo: Editora Unesp, 2017, p. 274 (https://amzn.to/3OLiwL2).
[vi] DIDEROT, Denis, A religiosa. Obras, v.7. Tradução J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 2009, p. 79 (https://amzn.to/3QNgfl5).
[vii] Idem, p. 75.
[viii] Idem, p. 78.
[ix] Idem, ibidem.
[x] Idem, p. 106.
[xi] Idem, p. 121.
[xii] Idem, p. 205.
[xiii] Cf. NIETZSCHE, Friedrich, Humano, demasiado humano. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 85.
[xiv] LOTTERIE, Florence, Diderot, La religieuse, Paris: Flammarion, 2009.
[xv] DUFLO, Colas, Les aventures de Sophie. La philosophie dans le Roman au XVIII siècle. Paris: CNRS Èditions, 2013, p. 218.
[xvi] Idem, p. 128.
[xvii] Coudreuse, op. cit., p. 11.
[xviii] Diderot, A religiosa, p. 133.
[xix] DUFLO, Colas, Diderot, philosophe. Paris: Honoré Champion, 2013, p. 440-444.
[xx] DELON, op. cit, p. 265.
[xxi] DIDEROT, A religiosa, p. 166.
[xxii] André Gide, Os frutos da terra. São Paulo, Difel, 2012, p. 15