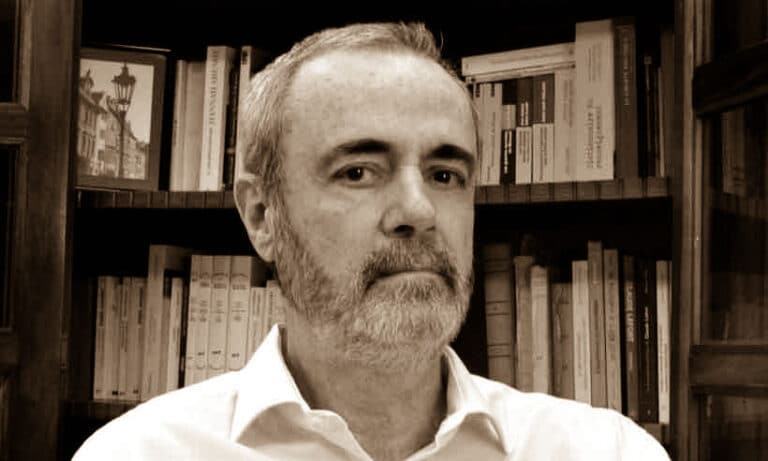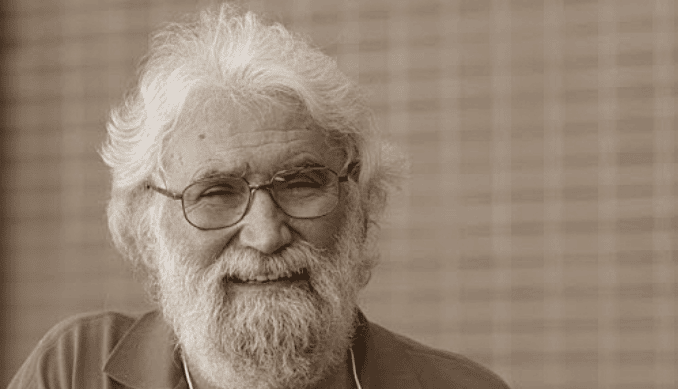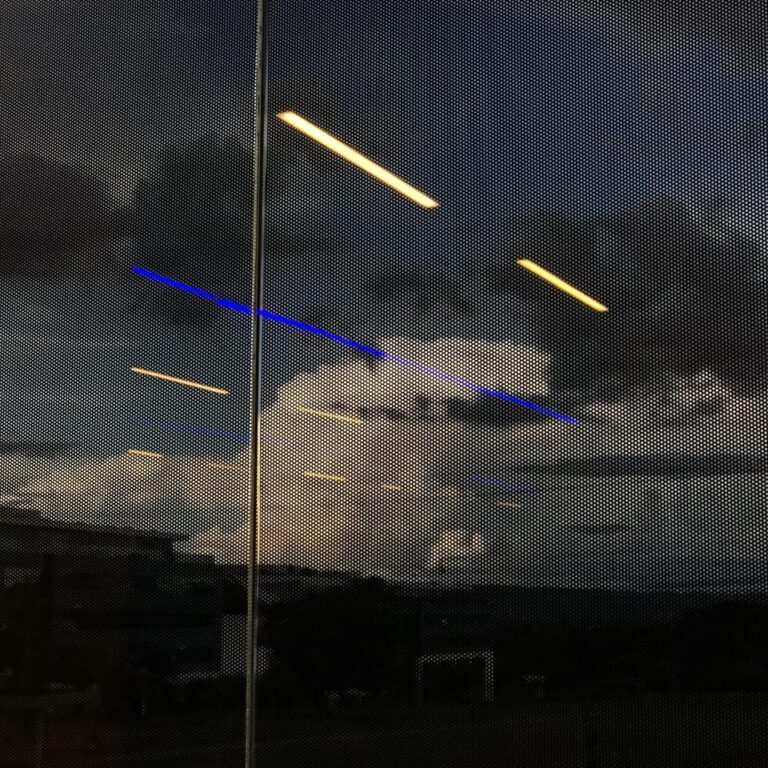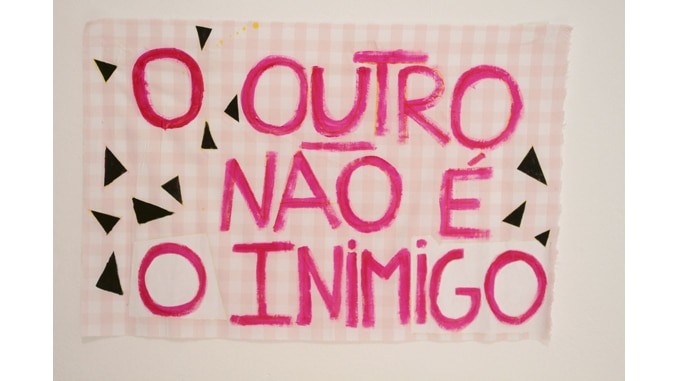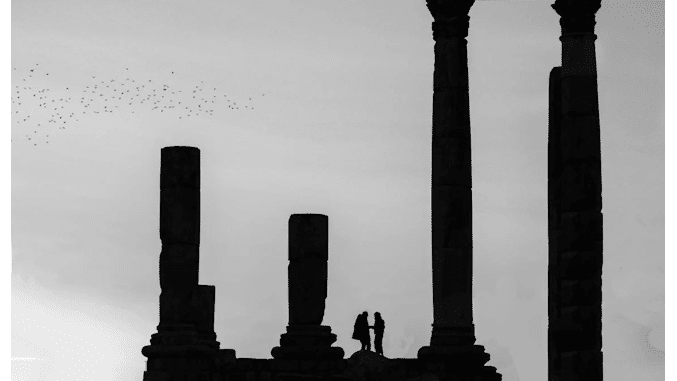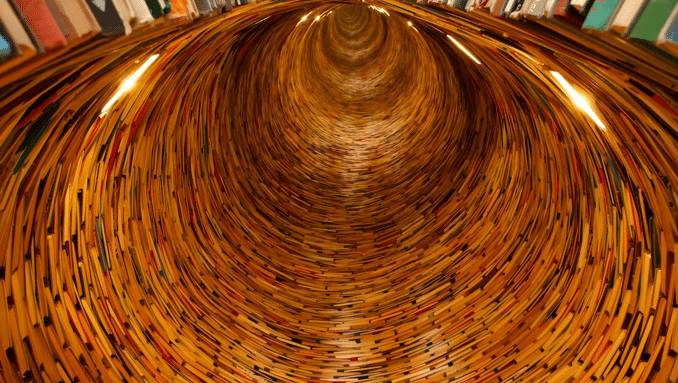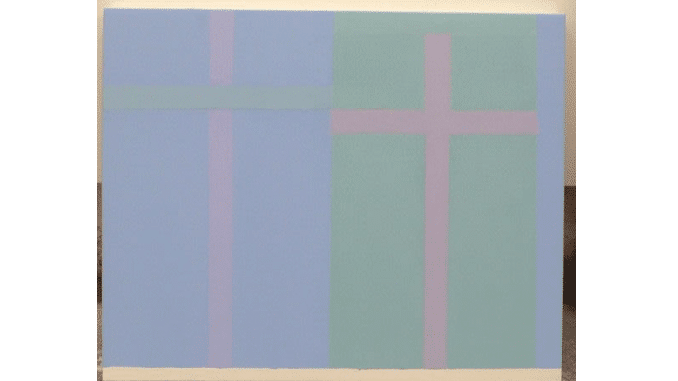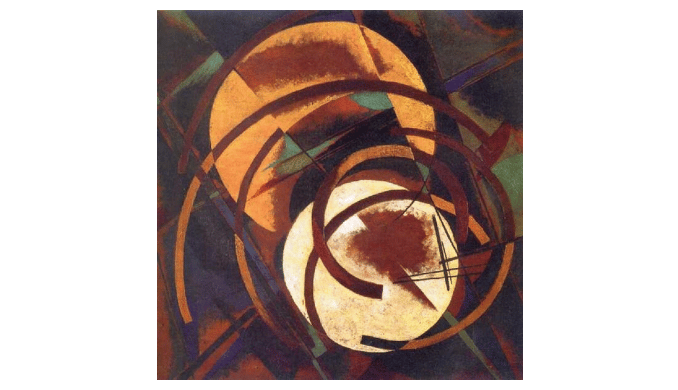Por WALTER BENJAMIN*
O cinema soviético como peça política da revolução popular
O melhor da indústria cinematográfica russa pode ser mais facilmente visto em Berlim que em Moscou. Já em Berlim chega uma seleção desses filmes que nós mesmos teríamos de realizar em Moscou. Nesse caso, também não se pode seguir sem mais os conselhos: “os russos confrontam-se com seus próprios filmes de maneira bastante acrítica” (é conhecido, por exemplo, que o grande sucesso de O encouraçado Potemkin foi decidido na Alemanha). Motivo dessa incerteza no julgamento: a falta do critério europeu de comparação. Na Rússia, raramente veem-se bons filmes estrangeiros. Em suas compras, o governo coloca-se do ponto de vista de que o mercado russo seria tão importante para as firmas internacionais concorrentes que, de certo modo, elas deveriam enviar-lhe protótipos de propaganda a preços reduzidos. Desse modo, os filmes bons e caros permanecem, indiscutivelmente, de fora. Para os próprios artistas russos, a desinformação do público que se segue daí tem suas vantagens. Iljinsky trabalha com uma cópia muito inexata de Chaplin, aceito como cômico só porque é desconhecido aqui.
As condições internas russas pressionam, de modo mais grave e profundo, a realização da maior parte dos filmes. Não é fácil conseguir roteiros bons porque a escolha das histórias está submetida a um rigoroso controle. A literatura goza maior liberdade de expressão na Rússia. Com mais rigor, vigia-se o teatro e, de maneira bastante rigorosa, o filme. Essa escala é proporcional à dimensão da massa de espectadores de cada um. Sob esse regime, a maioria das produções baseia-se, neste momento, em episódios da revolução russa; filmes que remetem ao passado longínquo constituem uma zona média insignificante, e as comédias, para critérios europeus, não podem, de modo algum, ser levadas em conta.
O cerne de todas as dificuldades atuais dos produtores russos de filmes consiste, então, no fato de o público, em seu próprio domínio, seguir cada vez menos a peça política da revolução popular. Com um número elevado de dramas de morte e de terror, o período político-naturalista do filme russo alcançou, há aproximadamente um ano e meio atrás, seu ponto culminante. Tais temas, entrementes, perderam sua graça. Por todo lugar, ouvem-se palavras de satisfação interna. Filme, rádio, teatro distanciam-se de toda propaganda.
A tentativa de aproximar-se de determinadas histórias mais pacíficas conduziu a um notável artifício técnico. Porque, devido a motivos políticos e artísticos, proibiu-se, em geral, a filmagem dos grandes romances russos; retiraram-se deles alguns de seus tipos conhecidos, “montando-os” em uma ação atualizada, livremente inventada. De Puschkin, Gogol, Gotscharow, Tolstoi, retiram-se figuras, conservando-lhes, frequentemente, os nomes. De preferência, esses novos filmes russos buscam a Rússia do extremo-oriente. Com isso pretende-se dizer que “para nós não há nada ‘exótico’”. Esse conceito é válido, propriamente, como parte da ideologia contrarrevolucionária de um povo colonizado. A Rússia não pode utilizar o conceito romântico de um “extremo Oriente”. Este lhe é próximo e economicamente ligado. Ao mesmo tempo isso quer dizer: “não dependemos de países e paisagens estrangeiros, pois a Rússia constitui a sexta parte da Terra! Temos tudo o que é terreno em nosso próprio solo e chão.”
Assim sendo, estreou há pouco a Sexta parte da terra, um filme épico da nova Rússia. O diretor Dziga Vertov não correspondeu ao desafio de mostrar, em imagens características, toda a enorme Rússia em sua conversão através da nova ordenação social. A colonização da Rússia pelo filme fracassou, mas ele conseguiu salientar muito bem a demarcação de fronteiras em relação à Europa. Esse filme começa com essa demarcação. Em frações de segundos seguem-se, uma a outra, imagens de locais de trabalho (bate-estacas circulares, diaristas durante a colheita, trabalhadores de transportes) e dos locais de diversão do capital (bares, restaurantes, clubes).
Retiraram-se, dos filmes da sociedade dos últimos anos, trechos específicos, diminutos (frequentemente apenas detalhes de uma mão acariciando ou pés dançando, a parte de um penteado ou um colar de pérolas em um fragmento de pescoço), montando-os de tal forma que eles foram encaixados, sem interrupção, entre imagens de proletários escravizados. Infelizmente, o filme logo deixa de lado esse esquema para se dedicar a uma descrição de paisagem e do povo russo, cuja relação com sua base de produção econômica é sugerida de forma bastante obscura. O quanto ainda se buscam soluções e se está inseguro é mostrado por uma única situação em que se representam imagens de guindastes, alavancas, e a transmissão de um coro com temas do Tannhäuser e do Lohengrin é tocada.
Mesmo assim, essas tomadas são características do anseio de deduzir os filmes da própria vida, sem um aparato decorativo e dramático. Trabalha-se com equipamentos mascarados, enquanto, diante de uma simulação, os primitivos (Primitiven) assumem uma pose qualquer. Eles são realmente filmados poucos momentos depois de acreditarem que tudo já tinha terminado. A boa e nova fórmula “Tirem as máscaras!” não tem maior valor em nenhum outro lugar que nos filmes russos. Daí, em nenhum outro lugar é tão pequeno o significado dos astros e de estrelas do cinema. Não se procura um ator para todos os casos, mas, sim, o tipo exigido caso a caso. Sim, vai-se mais adiante ainda. Eisenstein, o diretor de O Encouraçado Potemkin, prepara um filme a partir da vida dos camponeses, em que não deverá haver, de modo algum, atores profissionais.
Os camponeses não são apenas um dos mais interessantes objetos, mas o público mais importante dos filmes de cultura russos. Por meio de filmes, procura-se levar-lhes conhecimentos históricos, políticos, técnicos e higiênicos. Mas, diante das dificuldades que se interpõem nesse intento, ainda se está bastante desorientado. O modo de compreensão dos camponeses é radicalmente diferente do da massa citadina. Mostrou-se, por exemplo, que o público rural não está em condições de captar duas sequências simultâneas de ação, como todo filme contém inumeráveis vezes. Projeta-se apenas uma única sequência de imagens que, em total ordem cronológica, como imagens tranquilizadoras e aterrorizantes, deve se desenrolar diante deles.
Depois de ser observado repetidamente que trechos considerados sérios agiam sobre eles como irresistivelmente comidos e, ao contrário, os cômicos como sérios, até a comoção, iniciou-se a produção de filmes apropriados para aqueles cinemas itinerantes que avançam, eventualmente, até as fronteiras mais extremas da Rússia, que ainda não viram nem cidades nem modernos meios de transporte. Deixar que o filme e o rádio atuem sobre um tal coletivo é um dos maiores experimentos de psicologia social, que agora é produzido nesse gigantesco laboratório que é a Rússia. Naturalmente, nos cinemas da zona rural, os filmes de esclarecimento de toda espécie representam o papel principal.
Destacam-se práticas como a defesa contra pragas de gafanhoto, o manejo de tratores, o tratamento do alcoolismo. Muito do que contém os programas desses cinemas itinerantes permanece, não obstante, incompreensível para a grande massa e serve como material educativo para os mais progressistas: membros dos sovietes rurais, correspondentes no campo etc. Hoje, pensa-se, nesse contexto, em fundar um “Instituto para o estudo do espectador”, em que se tentaria pesquisar, experimental e teoricamente, as reações do público.
Assim sendo, a última grande solução, Com a cara na província!, passou a atuar nos filmes. A política fornece aqui, como na literatura, o impulso mais forte, com diretivas que são repassadas, mensalmente, como estafetas, do comitê central do partido para a imprensa, desta para os clubes, destes para os teatros e filmes. Mas, pode também ocorrer que, de tais divisas, surjam sérios obstáculos. Um exemplo paradoxal é oferecido pela palavra de ordem “industrialização”. Levando-se em conta o interesse apaixonado por tudo que é técnico, dever-se-ia pensar que os filmes preferidos seriam os grotescos.
Mas, na realidade, justamente essa paixão exclui agora o cômico da técnica, e as comédias excêntricas vindas da América foram um fracasso retumbante. A nova Rússia não pode compreender sentimentos irônicos e céticos em relação a coisas técnicas. De resto, os filmes russos deixam passar os problemas e a matéria da vida burguesa em seu conjunto, ou seja: não se admite nenhum drama amoroso no filme. Acentuação dramática e até mesmo trágica de situações amorosas é desaprovada em toda a vida russa. Suicídios por traição ou amores infelizes, tais como ainda hoje, aqui e ali, acontecem, são julgados pela opinião pública do comunismo como nada menos do que o excesso mais grosseiro.
Todos os problemas que se encontram no centro da discussão são para o filme – exatamente como para a literatura – problemas do âmbito da matéria das histórias. Graças à nova era da paz civil [Ära des Burgfriedens] eles adentraram em um estágio difícil. O filme russo poderá erguer-se sobre uma base segura apenas se as relações da sociedade bolchevique (não apenas na vida citadina!) estiverem estáveis o suficiente para suportar uma nova “comédia social”, novas charges e situações típicas.
*Walter Benjamin (1892-1940) foi ensaísta, crítico literário e filósofo. Autor, entre outros livros, de Ensaios sobre Brecht (Boitempo).
Tradução: Ernani Chaves
Zur Lage der russischen Filmkunst
Publicado originalmente na revista Die literarische Welt, em 11 de março de 1927.