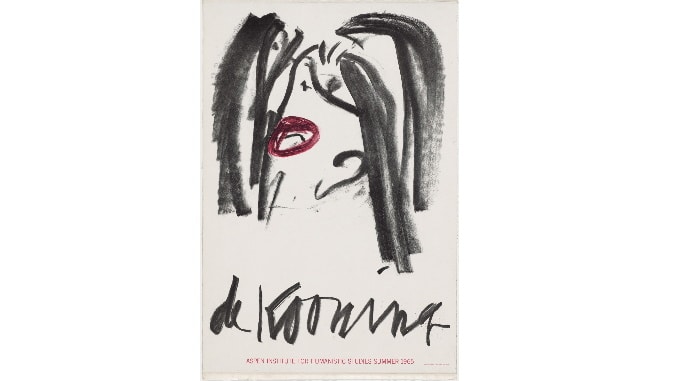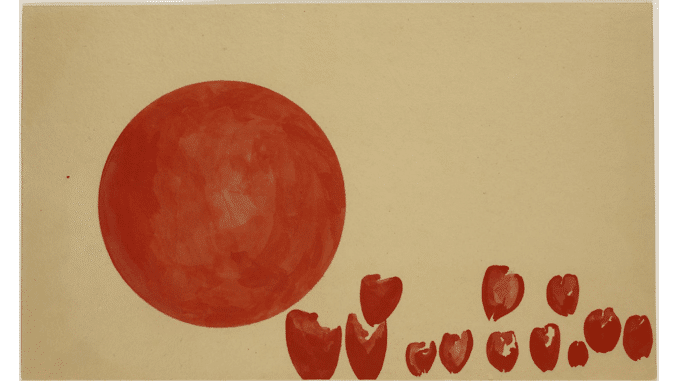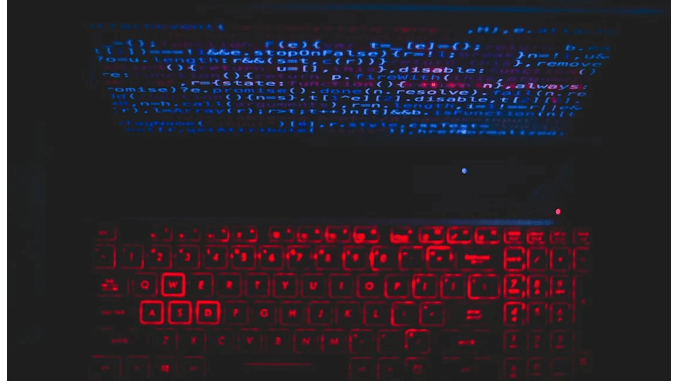Por ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY*
Comentário sobre o conto de Mia Couto
Escreveu o crítico Álvaro Lins que o amarelo das fotografias pode desaparecer. Pode virar preto. Poder virar vermelho. Tudo depende da memória. Essa percepção, tão realista, ganha mais cores quando lemos escritores nos quais reminiscência e ficção se confundem. O leitor (e mesmo o autor) não define bem as fronteiras entre o vivido, o imaginado e o colhido nas conversas e experiências. Na literatura não há limites precisos. Há paradoxos e possibilidades.
Na expressão contemporânea de língua portuguesa, entre nós, sobressai-se, nessa lógica, o amazonense Miltom Hatoun. Do outro lado do Atlântico, Mia Couto, que rompe as barreiras de um particularismo concebido em língua não falada (e também não lida) pela maior parte da população com a qual o autor convive. Ainda que o português seja o idioma oficial, são faladas em Moçambique cerca de 40 línguas, de origem bantu, que a Constituição daquele país do sudeste africano registra como línguas nacionais. Intui-se que é um mercado editorial reduzido.
Mia Couto nasceu na Beira (1955), em Moçambique. É filho de imigrantes portugueses que foram tentar a vida na África, no tempo do domínio colonial. Uma família pequena. Mia Couto foi da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), convivendo com a guerra civil que agitou aquele país, de 1976 a 1992. Não pegou em armas. Aos moçambicanos brancos – ao que consta – as forças reservavam outras funções. Era o tempo de Samora Machel. A guerra civil marca a história de Moçambique de um modo muito forte. Traumas persistem. A amarga reminiscência das atrocidades vividas é recorrente na obra de Mia Couto.
Também biólogo, Mia Couto trabalha com laudos ambientais, como consultor. Percebe-se em seus romances, contos e poesias uma reverberação da natureza raramente vista em escritores cosmopolitas. Mia Couto é de Moçambique, mas é um autor cosmopolita. É um dos mais importantes escritores africanos na atualidade. É traduzido e lido na França, entre outros países. Sua literatura é diferente, inteligente, provocante. O conto “A Rosa Caramela”, que abre Cada homem é uma raça (Companhia das Letras) é inusitada narrativa com alusões da vida moçambicana, que permeiam o texto, inclusive no léxico e na sintaxe, fascinante para nós brasileiros. Há expressões e construções que nos remetem ao imaginário de autores nossos, como Guimarães Rosa.
Em “A Rosa Caramela” o leitor alcança uma tensão entre sonho e realidade, entre desejo e possibilidade. Essa percepção faz do conto um registro universal e atemporal, ainda que geograficamente fixado, embora não datado. Mia Couto é universal na medida em que define e explica sua aldeia. Segue o cânon de Tolstói: fala de seu lugar e assim descreve todos os lugares.
“A Rosa Caramela” é a história de uma mulher (uma corcunda marreca nos diz o autor) que se apaixonava por estátuas. É um conto que também explora o tema da loucura, e dos vários modos como a insanidade atua como um antídoto para a frustração. O frustrado faz-se de louco, reinventa a realidade, que afirma e enfatiza como a única possível. No desfecho da narrativa Mia Couto explora ainda a reserva mental, isto é, aquele estado de alma no qual não revelamos o que somos, ou o que sentimos. Dissimulamos. Levamos a erro aqueles com quem convivemos.
“Dela se sabia pouco”. Com essa frase de entrada Mia Couto revela que a personagem central é conhecida apenas por facetas, vinhetas, fragmentos. Outro personagem lembra que Rosa carregava uma “costa nas costas”; era um exemplar feminino do Quasímodo. Não se sabia seu nome de nascimento. Fora rebatizada. Rosa Caramela era uma invenção de quem a conhecia. Existia nos olhos dos outros. Mas era real, o que necessariamente não justifica a narrativa.
O narrador conta-nos que Rosa era o resultado de uma mistura de raças, em trânsito por todos os continentes. Rosa não tinha família. Vivia em um casebre. Não se sabia como se alimentava, ou quando fazia as refeições, ou o que comia. Tinha um rosto de algum modo bonito, que podia até suscitar desejos; isto é, se excluído do resto do corpo, na fria e honesta descrição do narrador. Rosa Caramela falava com estátuas, e essa era sua maior doença. Uma patologia até então desconhecida. Adorava estátuas. Limpava-as com um pano imundo. Implorava que as imagens esculpidas deixassem suas formas inertes. Queria ser amada por aqueles pedaços de pedra. Uma mulher que se apaixonava por estátuas.
O tema das estátuas não é inédito na literatura de ficção. Em Tereza Batista cansada de guerra Jorge Amado (que influenciou Mia Couto) faz Castro Alves (que permanecia em estátua) descer da praça e defender as prostitutas, então em greve. Morto há cem anos, o poeta levantou-se, na praça que levava seu nome, assumindo a tribuna onde clamara pelos escravizados, no Teatro São João, cujo fogo havia consumido, para conclamar aquelas mulheres a dizerem basta.
Estátuas voltaram ao proscênio. São destruídas, atacadas, na medida em que historicamente repudiadas. Esquecemo-nos de que cada época tem sua história, cada tempo tem sua narrativa. A história é menos o passado do que o presente a cujas perguntas tenta responder. Cada tempo coloca as suas questões. É o tema do paradigma, como lemos em Thomas S. Kuhn (1922-1996), físico norte-americano que se interessava pela história e pelas condições da ciência. Sua obra A estrutura das revoluções científicas (Perspectiva) é um livro difícil, que nos coloca em face de um conceito sofisticado da normalidade da ciência.
Do passado de Rita Caramela sabia-se que fora deixada na igreja, no dia do casamento, por um noivo absenteísta. O noive fez-se esperar tanto, que acabou não chegando, diz o narrador. Abalada, ensandecida, Rita foi internada. Uma vez livre obcecou-se com estátuas. As acariciava. As esquentava nas noites frias. O pai do narrador zombava da narrativa, porém reconhecia as dificuldades que comprimiam Rosa Caramela. Noticiou-se que ela foi presa. O delito: havia venerado a estátua de um explorador colonialista, o que suscitou uma sentença que predicava no saudosismo do passado. Um problema historiográfico intransponível, agudizado na luta anticolonialista.
Noticia-se um enterro. O tio do narrador retorna do cemitério. Rosa Caramela estava no enterro e aparece subitamente na casa do narrador. Está vestida de luto. O tio conta que ela jogou roupas na cova. Rita desafia a todos, perguntando quem poderia impedi-la de se interessar pelo morto. O pai do narrador está impaciente. Nessa impaciência pode radicar a chave interpretativa do conto e seu inusitado fecho.
A tensão se resolve de forma inesperada. O leitor de algum modo vê-se chocado e encantado com o segredo de uma narrativa que nos leva para além das possibilidades compreensivas da realidade. Tem-se a impressão que em “A Rosa Caramela” Mia Couto insinua que há explicações para tudo, ainda que, muito provavelmente, as explicações passem ao largo de nossa compreensão.
*Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy é livre-docente pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP)
Referência
Mia Couto. “A Rosa Caramela”. In: Cada homem é uma raça. São Paulo: Companhia das Letras.