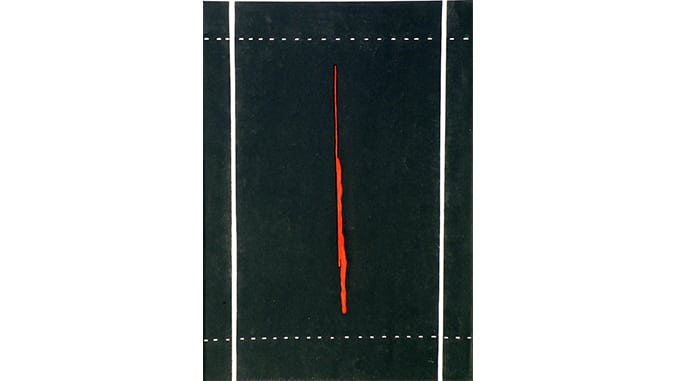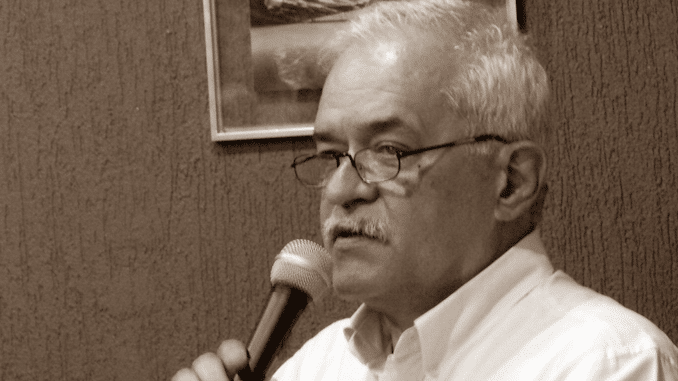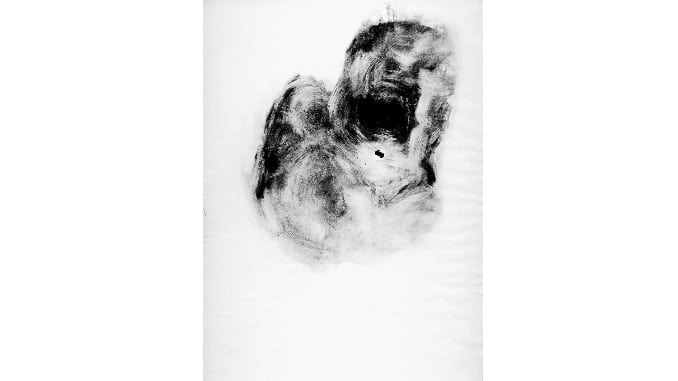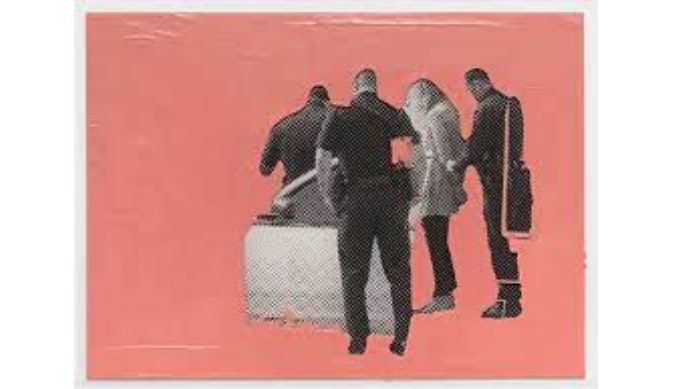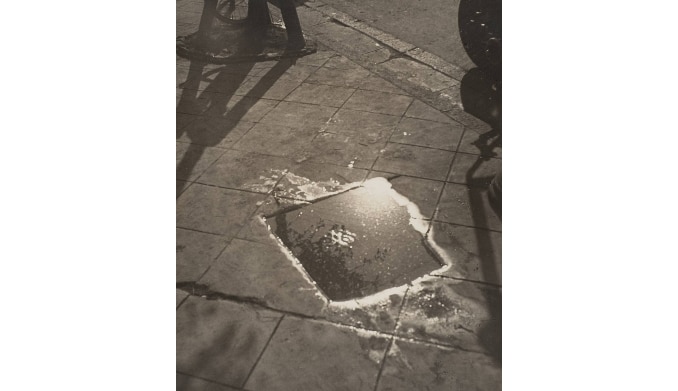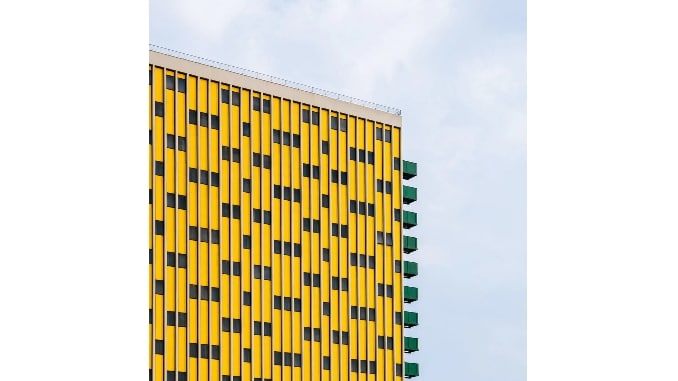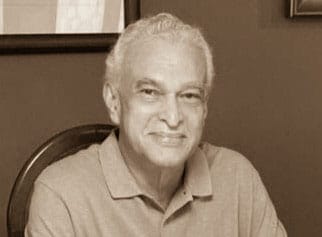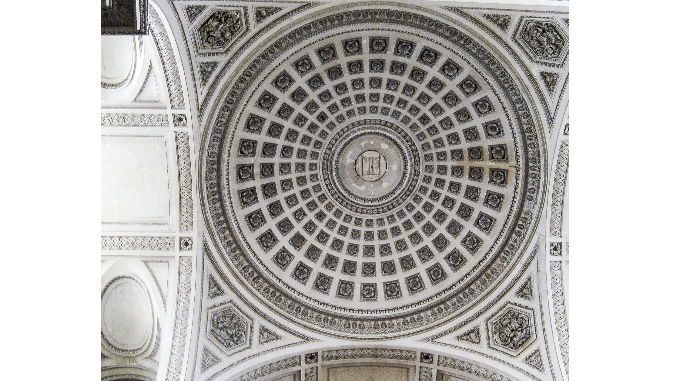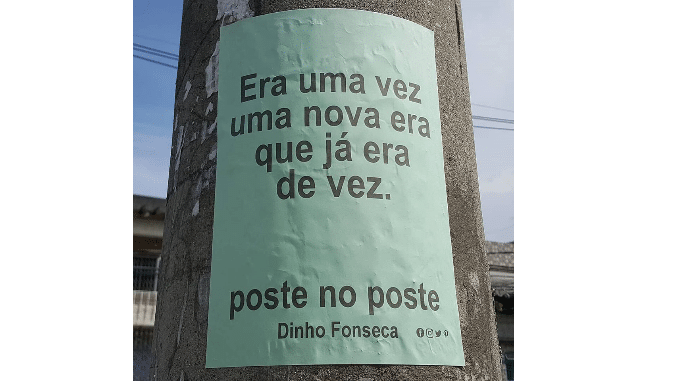Por FLÁVIA BIROLI*
A tragédia brasileira tem vários componentes. Neoliberalismo, autoritarismo, baixa capacidade de liderança política, rechaço pela ciência e um desprezo aberto pela vida compõem a ausência de respostas adequadas para os efeitos da pandemia
Muitos estudos têm ressaltado os efeitos da Covid-19 sobre contextos preexistentes de desigualdades. A indeterminação e os riscos de caráter sanitário e econômico são vivenciados distintamente pelas pessoas, dependendo de sua ocupação, de seu acesso a recursos que permitem isolar-se e cuidar de si e dos outros, das suas condições de moradia e sanitárias. Em outras palavras, a pandemia nos atinge coletivamente, mas isso ocorre de modo que as hierarquias e formas de vulnerabilidade que já existiam condicionam nossas possibilidades de lidar com seus efeitos.
O mesmo pode ser dito do contexto político em que o combate à pandemia se dá. A capacidade estatal para lidar com a doença e seus efeitos não se constitui de um dia para o outro. Pelo contrário. É a história prévia de institucionalização e financiamento das políticas de saúde que condiciona as respostas atuais, sobretudo no que diz respeito à capacidade de tratamento dos doentes que precisam de internação. Nessa direção, poderíamos também discutir a capacidade de coordenação para o controle da pandemia por meio da testagem massiva e do monitoramento, assim como a capacidade de oferecer suporte econômico aos trabalhadores e às pequenas empresas. Todas nos contam um pouco da história recente do Estado – e, claro, de como décadas de diretrizes neoliberais ativaram processos de privatização e de mercantilização, com padrões que emergiram globalmente, mas variam segundo as disputas e resistências políticas locais.
No caso brasileiro, o neoliberalismo teve um caráter híbrido, delimitado pela Constituição democrática de 1988, de caráter marcadamente distributivo, e por um processo político no qual atores e partidos de centro-esquerda tiveram protagonismo. O limite dessa história é 2016. Não pelo impeachment de Rousseff em si, mas pelas oportunidades encontradas por aqueles que o arquitetaram para aprovar uma emenda constitucional que comprometeu os gastos públicos e determinou uma política de desinvestimentos, com duração de 20 anos (EC 95). Em 2017, viriam mudanças na legislação trabalhista, “flexibilizando” as relações de trabalho e reduzindo as garantias, expandindo a precariedade em um país no qual o percentual de trabalhadores informais gira em torno de 40%.
Mas foi em 2018 que o país se afastou mais claramente dos ideais da redemocratização e dos valores que se transformaram em normas com a Constituição de 1988. O candidato de extrema-direita que venceu as eleições presidenciais depois de ter sido, por 30 anos, um político obscuro, tipifica a convergência entre um neoliberalismo escancarado na sua oposição a políticas que envolvam qualquer garantia social e um conservadorismo contrário à agenda de direitos humanos que se expandiu desde meados do século XX. O desprezo pela ciência e a desconfiança em relação a cientistas e educadores foram explicitados na campanha de Jair Bolsonaro e se transformaram, com sua eleição, no desmonte acelerado do sistema de Ciência e Tecnologia do país, associado a sucessivas medidas para restringir a autonomia das universidades e restringir seu orçamento.
Numa aliança que reúne religiosos conservadores, militares ressentidos com a crítica à ditadura de 1964 e a exposição de sua violência, empresários do setor agrícola sedentos por desregulamentação ambiental, representantes da indústria armamentista, empresários que apostaram na retirada de garantias trabalhistas e um clã familiar próximo a milicianos, o governo demonstrou, desde o início, despreparo e desrespeito pela democracia. Em um ano e meio desde que se iniciou, ficou claro que procuraria avançar seu domínio por meio de crises institucionais seguidas, com ataques e ameaças ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. Estas foram encenadas com deboche por um grupo armado de extrema-direita que montou acampamento em Brasília e por manifestantes que contaram com a presença do presidente e de ministros em protestos que defenderam uma intervenção militar.
É esse o cenário em que o governo brasileiro desprezou a Covid-19. Em atitudes que se somam ao rechaço anterior aos direitos humanos e à ciência, o presidente banalizou a pandemia e a dor das pessoas, desprezou as alternativas para enfrentá-las e contribuiu para a desinformação. Simbolicamente, no dia 2 de junho, quando o país ultrapassou 30 mil mortes, registrando 1262 em 24 horas, pronunciou-se dizendo que “morrer é normal”. Em 6 de junho, o governo adotou práticas que dificultavam o acesso aos dados (voltando atrás após pressão). Pouco depois, no dia 11 de junho, em live dirigida a apoiadores, Bolsonaro incentivou a invasão de hospitais de campanha, sempre reforçando a desconfiança na realidade da pandemia e de seus efeitos sanitários.
Mas não se trata de arroubos individuais. Estamos falando de uma política de morte que foi assumida como diretriz de governo. Dois ministros da saúde foram trocados durante a pandemia e a pasta tem à frente, no momento, um ministro interino, que é de carreira militar e não tem experiência prévia na área. O presidente, que se posicionou seguidamente contra o isolamento social e a favor de medicamentos sem efeito comprovado, recusou-se a exercer papel de coordenação e ampliou conflitos com governadores. Foi necessário que o Supremo Tribunal Federal se manifestasse para reafirmar a competência normativa e administrativa de estados e municípios, evitando que o Governo Federal criasse obstáculo às políticas estaduais para a contenção da pandemia.
Para um governo que adere a um neoliberalismo sem percalços e tem as desigualdades como norma, foi difícil dar um passo em direção à responsabilidade pública pela vulnerabilidade econômica. No início de abril, foi publicada uma Medida Provisória (936) que permite a redução de jornada de trabalho e de salários, com o objetivo de reduzir as demissões. Foi também neste momento, após muitas pressões, que foi lançado um auxílio mensal de 600 reais (cerca de 111 dólares) para trabalhadores informais e de baixa renda, com duração de três meses – o benefício começou a ser pago em 7 de abril e, até 9 de junho, havia ainda 10,4 milhões de pedidos aguardando análise, segundo banco governamental responsável pelos pagamentos. Quando finalizo este artigo, há apenas especulações sobre a extensão do auxílio por mais três meses, com valores reduzido, e o Brasil tem uma taxa oficial de 12,6% de desemprego – que chegaria, segundo cálculos divulgados nesta semana por economistas, a 16% se consideradas as dificuldades para se buscar emprego no momento.
A tragédia brasileira tem vários componentes. Neoliberalismo, autoritarismo, baixa capacidade de liderança política, rechaço pela ciência e um desprezo aberto pela vida compõem a ausência de respostas adequadas para os efeitos da pandemia. As inseguranças sanitárias e econômicas são vividas em um contexto no qual ataques à democracia se manifestam cada vez mais abertamente [1].
Flávia Biroli é professora do Instituto de Ciência Política da UnB. Autora, entre outros livros, de Gênero e desigualdades: Limites da Democracia no Brasil (Boitempo).
Publicado no Boletim Cientistas sociais e o coronavírus da Anpocs.
Nota
[1] Artigo escrito para Latinoamérica 21. Publicado nos jornais Clarín, em 30/06/2020 e Folha de S. Paulo, em 03/07/2020.