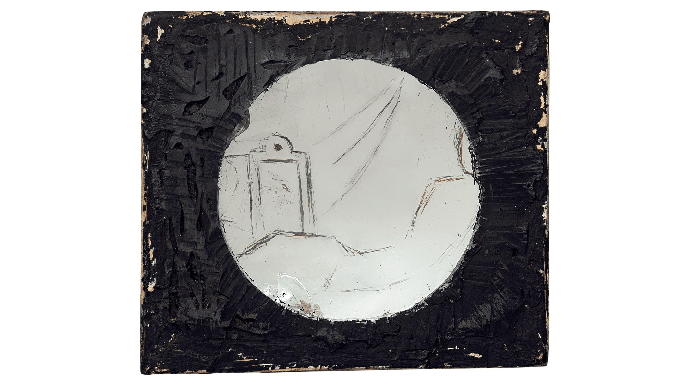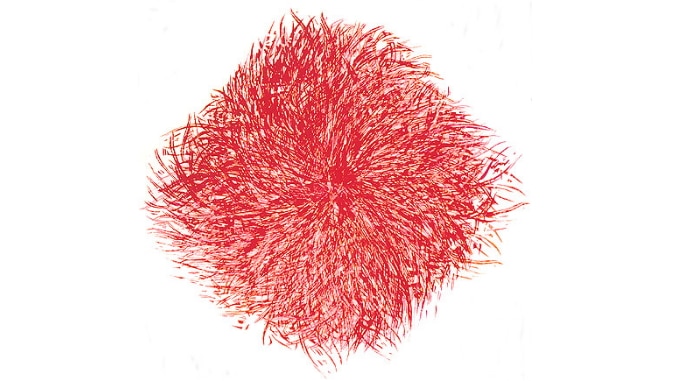Por JOANA A. COUTINHO & YURI MARTINS-FONTES*
Da formação aristocrática à universidade operacional, a história do ensino superior no Brasil revela sua distância estrutural das maiorias sociais e da produção autônoma do conhecimento
Uma ampla crise afeta a universidade brasileira, o que pode ser verificado em aspectos como a lógica mercantilista – típica de instituições privadas, que se aprofunda e alastra para a universidade pública – ou em problemas relativos à autonomia e produção do conhecimento universitário no país. É comum, em reflexões sobre a universidade no âmbito do campo crítico progressista, ser lembrado e reafirmado o lema: “por uma universidade pública de qualidade” e “socialmente referenciada”. Mas afinal de que “universidade” estamos falando? E ela deve ser “socialmente referenciada” por qual grupo social?
Em primeiro lugar, façamos uma pequena retrospectiva histórica que nos ajude a situar a universidade brasileira e o lugar que ocupa na sociedade. Seu surgimento como tal se dá no início da década de 1920, embora tenha tido, antes disso, precursoras como as faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro (de 1808), e as de Direito, em Olinda e São Paulo (de 1827).
A universidade no Brasil nasce elitista, construída para formar os filhos das classes dominantes. Desde a vinda da família real e, com ela, a criação da ideia de nação, há a criação de cursos ligados às academias Militar e de Belas-Artes, mas a universidade, “matriz para nutrir essas instituições” – nas palavras de Anísio Teixeira –, faltou. Há uma iniciativa de Rui Barbosa, de 1822, quando em um parecer menciona o problema da educação como fundamental para desenvolver a formação de uma cultura nacional. O destino deste parecer, contudo, foi o arquivamento, sendo carcomido pelas “traças e o mofo” (TEIXEIRA, 1989).
Segundo Anísio Teixeira, a universidade vai ser efetivamente organizada apenas em meados do século XX: “Vacilando entre a ideia de ensino superior como formação profissional, das primeiras escolas do Império, e a da universidade como consolidadora da cultura nacional, manifesta na década de 1930 e depois na Universidade de Brasília em 1960, o país viveu todo esse longo período de mais de 100 anos a multiplicar vegetativamente aquelas primeiras escolas profissionais, dentro das precárias condições em que se criara o primeiro curso médico em 1808, entremeando esse laissez-faire com os assomos ocasionais de criação da verdadeira universidade” (TEIXEIRA, 1989).
Neste momento, prevalecia a ideia de que a sociedade que se estava construindo no Brasil era voltada à produção e, para isto, a educação universitária não traria ganhos, porque não teria “utilidade”. Anísio Teixeira assinala também que o Brasil, ao manter uma posição em defesa da educação superior de tipo utilitário, restrita às profissões, esqueceu-se de sua função enquanto formadora da cultura nacional e da cultura científica – dita “pura” ou “desinteressada”.
Para, o autor, nesta “ambiguidade essencial entre cultura acadêmica e cultura utilitária” há uma concepção decorrente de uma “confusão mais profunda, em que talvez se manifeste uma atitude fundamental brasileira: a de julgar apenas poder ‘importar’ a cultura, mas não criá-la e elaborá-la para o novo país que a Independência fizera surgir”. Este é um dos fatores que explica o nosso retardo, em relação ao restante da América Latina, para construir uma universidade.[i]
Em O intelectual e a universidade estagnada (1997), Milton Santos afirma que, na produção do conhecimento, no exercício do pensar, o ser humano pensante se encontra sozinho. As ideias, quando genuínas, diz ele “unicamente triunfa após um caminho espinhoso”; é fundamental o pensador saber-se só, não fazer concessões e “acreditar no futuro”.
Efetivamente, o livre pensar é solitário, requer horas de silêncio, concentração e leitura. Porém, será que a universidade – este espaço que deveria por excelência ser de produção do conhecimento – teria no seu saber-fazer uma perspectiva que permitisse a produção e a reprodução do conhecimento, mesmo se encontrando, como hoje, imersa em uma lógica mercantilista? E, neste contexto, seria possível se realizar a autonomia universitária? Ou ainda, voltando a uma de nossas questões iniciais: a universidade seria de fato “socialmente referenciada”? Por qual grupo social?
Universidade como projeto da elite
Para responder a tais questões, observemos historicamente o lugar que a universidade brasileira ocupa na sociedade. Como mencionado, ela surge – voltada para a formação das elites – na segunda década do século XX, por meio do Decreto nº 14.343 que instituiu em 1920 a Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ); pouco mais tarde, foi criada a Universidade de São Paulo (USP), em 1934.
A universidade brasileira foi construída para formar os filhos das classes dominantes. No artigo “A universidade operacional”, Marilena Chaui (2024) classifica a universidade deste primeiro momento de 1930 a 1960 como “aristocrática”, cuja principal preocupação seria a de formar “para ela mesma”.[ii] Já em meados da década de 1990, passaria a vigorar o atual modelo que ela chama de “universidade operacional”, como parte do processo de neoliberalização que atacou, entre outras instituições, as universidades.
Em sua classificação, são estes os cinco momentos históricos da universidade brasileira: (i) o da universidade “clássica”, que perdurou dos anos 1930 até o começo dos anos 1960; sua característica principal era a formação e reprodução de quadros, em geral, para si mesma; era uma universidade aristocrática, voltada para um universo muito pequeno; (ii) o da universidade “crítica”, que tentou se criar em 1968 (ano considerado da “rebeldia”), o que foi porém impedido pelo contexto político; este novo modelo, que propôs uma reforma universitária questionando o anterior (aristocrático), não pôde prosperar no regime autoritário da ditadura militar, que se contrapôs firmemente às propostas de reforma de base do governo João Goulart.
(iii) O da universidade “funcional”, da época da ditadura, cuja função seria a de formar mão de obra qualificada para o mercado, modelo que, no entanto, não teve vida longa, sendo logo substituído nos anos 1980; (iv) o da universidade “de resultados”, surgido nos anos 1980, cujo discurso era o de ser de uma universidade “útil para a sociedade”; não se tratava apenas de formar mão de obra qualificada, mas de mostrar para a sociedade a produção “de bens e serviços” – mais explicitamente para as camadas mais altas; (v) e por fim, o da citada universidade “operacional”, que começou a ser gerada em meados dos anos 1990 e ainda está vigente, cuja principal característica está no fato de que a universidade deixa de ser pensada como instituição social, passando a ser vista como uma “organização”.
Podemos conjecturar que esta “universidade operacional”, para usarmos o termo cunhado por Marilena Chaui, perde a vitalidade do debate; toma a cena uma perspectiva burocrática; os debates universais perdem espaço para particularismos, localismos; ganha protagonismo uma busca por “produtividade” que é, na maioria das vezes, oca, vazia, porque completamente dissociada das grandes questões de nosso tempo.
Aqui, temos um duplo problema: ser produtivo, não significa exatamente, fazer jus a uma produção intelectual original e criativa, mas atender às exigências das agências financiadoras e ter seu conhecimento traduzível em números.
A reforma universitária necessária
A transformação que se realiza na sociedade brasileira em meados do século XX, de acordo com Anísio Teixeira (1989), leva à constatação de que as instituições de então “já não satisfazem” – e sequer para o preparo das elites se mostravam satisfatórias. É neste contexto que se instala no país a reforma universitária, movimento iniciado décadas antes (1918), em Córdoba, cidade argentina onde os estudantes protagonizaram uma luta pela democratização da universidade que teve desdobramentos em vários países da América Latina – sendo delineada por um manifesto crítico que afirma:
“[…] para alcanzar tan altos fines, concordando con la idea trascendente que anima al movimiento, es indispensable levantar el nivel de la cultura pública renovando radicalmente el sistema de los métodos de enseñanza implantados en el país, por cuanto ellos no se avienen ni con las exigencias de la época, ni con las nuevas modalidades del progreso social. […] la organización actual de los establecimientos de la República, principalmente la de los colegios y universidades; los planes de estudio que en ellos rigen y el dogmatismo y el escolasticismo, que son su corolario lógico, corresponden a épocas arcaicas, en las cuales las duras disciplinas, el principio de autoridad y el criterio estrecho de la tradición eran las normas directrices de la enseñanza” (MAZO, 1941, p. 9).
Este manifesto apresenta alguns pontos que demarcam a crítica a uma universidade hierarquizada e distante das questões centrais, não somente em Córdoba, mas em todo o continente. Entre suas propostas está: “propiciar la educación popular como el medio más eficaz para la elevación moral del pueblo y la consecución de la reforma integral”. Ademais, o movimento não fica restrito a Córdoba; em 1920, alcançou o Peru: “[…] Los subscriptos, el presidente de la federación de estudiantes del Perú, Víctor Raúl Haya de la Torre y el presidente de la federación universitaria argentina, Gabriel del Mazo, a iniciativa del primero, firman en Lima y Buenos Aires, respectivamente, los siguientes acuerdos inspirados en las conclusiones de los congresos internacionales de estudiantes americanos reunidos en Montevideo, Buenos Aires y Lima. En nombre de las juventudes que representan, las organizaciones federales estudiantiles, de las repúblicas del Perú y la Argentina, tendrán en su programa de acción los siguientes puntos de vista comunes: Primero: El intercambio intelectual por medio de libros, estudios monográficos de carácter científico, histórico, literario, sociológico y artístico […]. Segundo: La obra de la reforma de la enseñanza por cuya continuidad velarán […]. Tercero: La obra de la cultura intensiva, para el pueblo, el estudio de los problemas sociales y el sostenimiento por la juventud de las universidades populares […]. Cuarto: La propaganda activa por todos los medios para hacer efectivo el ideal de americanismo […]. Quinto: El intercambio de estudiantes de sus institutos de instrucción superior, y la realización periódica de los congresos internacionales estudiantiles”. (MAZO, 1941, p. 11).
A citação deste documento histórico se justifica pela pertinência do que se poderia chamar primeira proposta de “internacionalização” das universidades. Tratando também do tema da reforma educacional de 1920, José Carlos Mariátegui analisa a educação nacional no Peru, afirmando que ela “não tem um espírito nacional: em vez disso tem um espírito colonial e colonizador. Quando, em seus programas de educação pública, o Estado refere-se aos índios, não se refere a eles como peruanos iguais aos demais. Considera-os como uma raça inferior. Nesse terreno, a república não se diferencia do vice-reinado” (MARIÁTEGUI, 2008, p. 116).
Estendendo sua análise para a América Latina, o marxista peruano afirma que, devido ao pouco alcance da educação pública, as universidades foram açambarcadas “intelectual e materialmente” por uma “casta” dominante sem qualquer “impulso criador”, a qual se aferrou à burocracia sem almejar nenhuma “função mais alta de formação”. Tal esquema enrijecido levaria ao “empobrecimento espiritual e científico”: ao “divórcio entre a obra universitária e a realidade nacional” (2008, p. 136-139).
Sobre a reforma universitária no Peru, José Carlos Mariátegui é contundente ao dizer que o modelo que foi implementado em 1920 foi o modelo estadunidense; isto porque, do mesmo modo como o “movimento político” que pôs fim ao domínio do “velho civilismo aristocrático”, também “o movimento educacional – paralelo e solidário àquele – estava destinado a se deter”:
A execução de um programa democrático e liberal na prática estava travado e sabotado pela subsistência de um regime de feudalismo na maior parte do país. Não é possível democratizar o ensino de um país sem democratizar sua economia e sem democratizar, finalmente, sua superestrutura política (2008, p.127).
Destaca-se aqui que, nas reflexões de José Carlos Mariátegui, os fatores econômicos estão relacionados às dinâmicas política e cultural próprias das nações. Sobre o caso peruano (e latino-americano, de maneira geral), ele pondera que, sendo a realidade nacional marcada pelo domínio de uma elite conservadora e inculta – uma burguesia que é sócia menor de interesses externos, sem autonomia nem identificação com seu próprio povo –, tal classe, portanto, não teria interesse em levar a cabo um projeto de nação, o que inclui a democratização da educação (MARTINS-FONTES, 2018, p. 166-168).
Daí a conclusão mariateguiana de que, ao contrário de países europeus ou orientais (como a China), inexiste no Peru (e cabe observar que o mesmo se dá no Brasil) uma “burguesia nacional”, de modo que nosso processo revolucionário terá de seguir seu caminho próprio, devendo ser comandado pelos trabalhadores.[iii]
Já no caso brasileiro, como mencionado, a universidade foi implementada tardiamente: justamente no ano em que, motivado pelos acontecimentos na Argentina, também no Peru eclodia um movimento estudantil exigindo reforma universitária. No Brasil, entretanto, uma proposta de reforma universitária nestes moldes – mobilizando boa parte dos estudantes –, só seria vista no período que precedeu o golpe militar de 1964. Álvaro Vieira Pinto ao analisar este momento histórico, o denomina como “pré-revolucionário” (PINTO, 1994).
E é neste sentido que as reformas de base do governo João Goulart, entre elas a reforma universitária deve ser compreendida: no bojo de um debate e de uma mobilização em que a sociedade se esforça para superar o subdesenvolvimento secular, ao descobrir as suas causas, e pela consciência das massas.
*Joana A. Coutinho é professora de ciências sociais na Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Autora entre outros livros, de Problemas teóricos do Estado integral na América Latina (Lutas Anticapital). [https://amzn.to/49voQAK]
*Yuri Martins-Fontes é professor e doutor em História Econômica (USP/CNRS). Autor, entre outros livros, de Marx na América: a práxis de Caio Prado e Mariátegui (Alameda). [https://amzn.to/3xI8JjL]
Primeira parte do artigo publicado no livro O futuro da universidade (Lutas Anticapital).
Referências
AGUIAR, Renan Oliveira de. Reforma universitária e desenvolvimentismo no governo João Goulart: os caminhos e os obstáculos para a reestruturação do ensino superior. São Paulo: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, 2017.
CHAUI, Marilena. A universidade operacional. Disponível em https://aterraeredonda.com.br/a-universidade-operacional/
MARIÁTEGUI, José Carlos. Sete ensaios de interpretação da realidade peruana. São Paulo: Expressão Popular/Clacso, 2008.
MARTINS-FONTES L., Yuri. Marx na América: a práxis de Caio Prado e Mariátegui. São Paulo: Alameda/Fapesp, 2018.
MAZO, Gabriel del. La reforma universitaria (tomo II). La Plata: Centro de Estudiantes de Ingenieria, 1941.
PINTO, Álvaro Vieira. A questão da universidade. São Paulo: Cortez, 1994.
SANTOS, Milton. O intelectual e a universidade estagnada. Revista ADUSP, out. 1997.
RIBEIRO, Darcy. A universidade necessária. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1966.
WANDERLEY, Luiz Eduardo W. O que é universidade. São Paulo: Brasiliense, 1987.
Notas
[i] A primeira universidade no continente americano foi criada em 1538: a Universidade de São Domingos. Depois vieram as de San Marcos, no Peru (1551), e a da Cidade do México (1553).
[ii] Sua principal referência é a USP que surge nos anos 1930, mas o conteúdo elitista estende-se para as que surgiram antes e depois.
[iii] Posição com que Mariátegui se coloca contra as teses eurocêntricas do etapismo, que afetavam (e ainda afetam) algumas correntes socialistas.