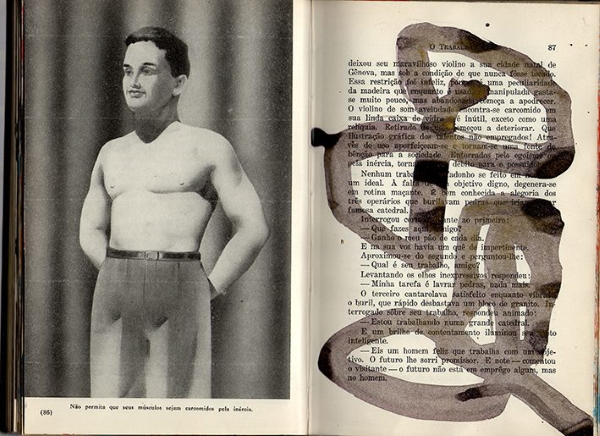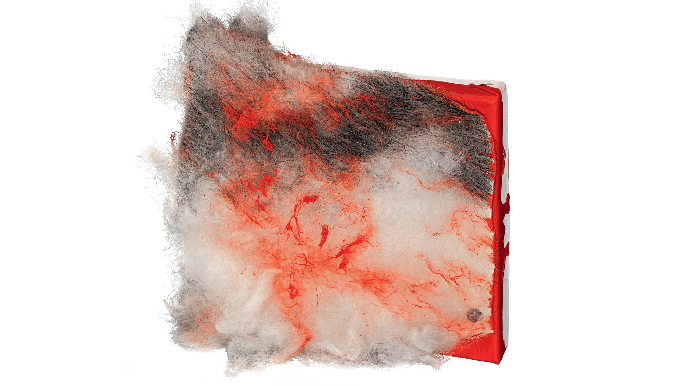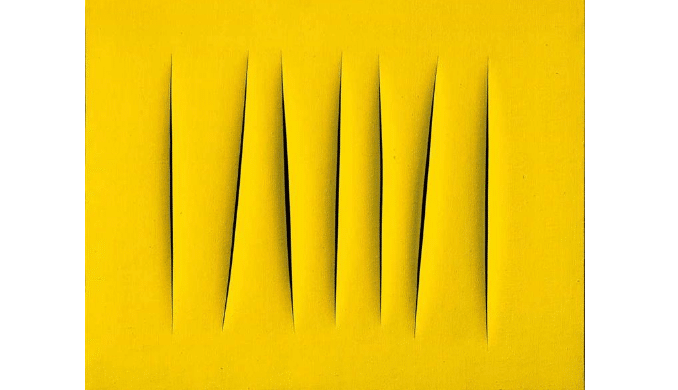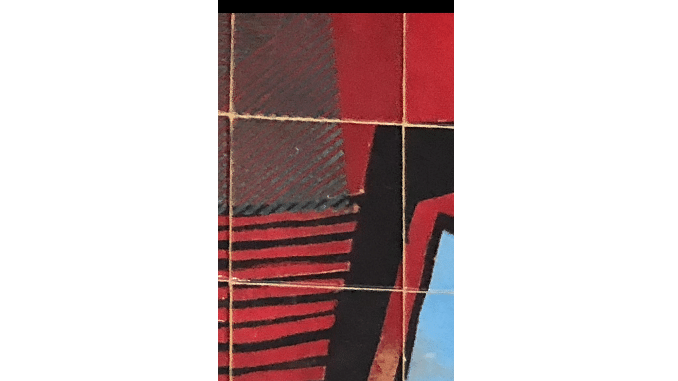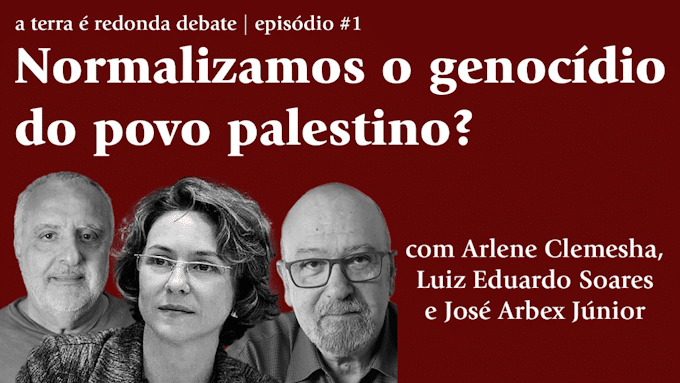Por Henry Burnett*
Comentário sobre a singularidade do letrista e sobre suas diferentes parcerias
O consumo da música no Brasil é complexo o suficiente para deixar fãs atordoados com o volume de nossa produção, mas isso não atinge somente o chamado ouvinte médio. Sobretudo hoje, é desafiador para aqueles que lidam com a música e sua crítica tentar dar conta ou sequer se encontrar no meio de milhares de artistas pululando nas nossas telas todos os dias. Na verdade é tarefa impossível.
Basta ver como os bons críticos de música que ainda restam são, por assim dizer, setorizados, isto é, escrevem cada um a partir de um material musical particular, bem conhecido e apartado e sobre o qual, por isso mesmo, podem discorrer com propriedade. A crítica, como se sabe, acompanha de perto a música que ela critica. Dito isso, considero Luiz Fernando Vianna o melhor crítico da obra de Aldir. É dele, não por acaso, a biografia Aldir Blanc: resposta ao tempo (Casa da Palavra).
Sendo assim, talvez este texto só encontre eco naqueles que já sabem quem foi Aldir Blanc. Se for o caso, talvez seja chover no molhado relembrar sua obra, embora considere tarefa obrigatória no momento atual, não apenas pela perda de sua figura, mas sobretudo pelo que ela representa contra a onda obscurantista na qual mergulhamos.
Falar da obra de Aldir como letrista – ele se dedicou a outros gêneros com igual competência, como a crônica (Cf. “Aldir Blanc, cronista”, https://dpp.cce.myftpupload.com/aldir-blanc-cronista/) – é falar de uma singularidade, de um fato único na história do cancioneiro urbano brasileiro. A canção do Brasil é formada por centenas de ilhas isoladas, identidades musicais facilmente reconhecíveis (Benjor, Djavan, Chico, Jobim, João Bosco, Lenine e tantos outros). Sempre que um jovem talento tenta emular um desses compositores, o resultado é pífio.
Se isso vale para os compositores e cantores, tem uma dimensão ainda mais marcada e complexa no caso dos letristas (Paulo César Pinheiro, Fernando Brant, Vitor Martins, Capinan, Torquato Neto e outros), mas, entre todos, considero Aldir Blanc um exemplo à parte. Poderia citar, indelicadamente, tentativas de copiar os mestres cantores, ou algum desses letristas, mas ninguém em nenhum momento ousou duplicar Aldir, por uma razão banal: passaria ridículo. O lugar dele como letrista, e a identidade de suas letras não tem par.
Dizem que elas dão continuidade, de certa forma, à estética de Noel Rosa. Talvez seja verdade, mas apenas quando consideramos um ambiente dentro do qual ambos se criaram, a Zona Norte do Rio de Janeiro, entre a Praça da Bandeira e a Sanz Peña e além. Podem ser os mesmos personagens, e até com vivências similares, mas são descritos de modo muito distinto. Quem nunca zanzou por aqueles bairros, suas vilas, botecos e praças, não faz ideia da atmosfera “além morro” das suas ruas, isto é, na sua desconexão radical com a noveleira Zona Sul. As crônicas líricas e políticas em forma de canção talvez estejam mais próximas de Nelson Rodrigues, com seus personagens boêmios, ranzinzas, curiosos, engraçados, trágicos e sensuais, que vivem naquele recorte espacial como se ele fosse todo o mundo.
“Siri recheado e o cacete”, “Linha de passe”, “Dois mil e índio”, “Tiro de misericórdia”, “Prêt-à-porter de tafetá”, “O mestre-sala dos mares”, “A nível de”, “Linha de passe” e tantas outras com João Bosco, são capazes de fundir linguagem, sexo, política, tragédia, humor e festa com uma maestria inigualável. Transcrever essas letras seria perder a conexão com a música, e com isso recairíamos na velha querela sobre letras e poemas. Quando se quer elogiar um letrista dessa grandeza, os críticos tascam: as letras de Aldir Blanc poderiam estar em qualquer coletânea de poesia em livro. Lá vamos nós. Elas poderiam, de fato, estar ao lado de algumas das mais importantes coletâneas das melhores canções do século XX, mas esse tema esgotado não cansa de se renovar.
Detalhes mais importantes que essas delimitações podem ser retomados sobre o trabalho do letrista. Primeiro, como se nota, e não por acaso, a primeira referência que temos é e sempre será o resultado da parceria com João Bosco – quanto mais recuada a obra musical, mais presente na memória dos ouvintes, quanto mais recente, mais essas canções elaboradas são material de ouvintes segmentados. Não é uma regra, mas vale largamente. Isso nada tem a ver com a qualidade notável das parcerias.
De fato, não só pelo volume, mas novamente pela singularidade do resultado, trata-se de uma identificação insuperável a dupla Bosco/Blanc. Mas o que chama atenção é que para cada parceiro Aldir escrevia de um jeito. Tomo aqui o ciclo gravado por Leila Pinheiro no álbum Catavento e girassol, reunindo as parcerias dele com Guinga, um compositor que, esteticamente, está no mesmo plano de um melodista e harmonizador como Tom Jobim ou Edu Lobo. Talvez seja o único parceiro a ter “rivalizado” em maestria com o universo de João Bosco, mas com resultados muito distintos.
Considero este álbum o ponto alto do repertório da cantora paraense radicada no Rio de Janeiro, talvez sua emancipação da imagem única de cantora de bossa nova e samba-canção que a consagrou. Uma demonstração de ousadia e independência. Considero um álbum quase perfeito, com uma ou duas canções destoando do conjunto, sem causar nenhuma disparidade. A soberba canção-título pertence a um ciclo que podemos resguardar junto com algumas outras que atingiram o máximo da forma/conteúdo, e onde incluiríamos “Resposta ao tempo”, parceria com outro mestre silencioso, Cristóvão Bastos, imortalizada por Nana Caymmi e, modesta opinião, a canção mais bela que Aldir escreveu, simplesmente porque nela atinge o Absoluto; falar do tempo sem uma compreensão profunda de seus efeitos e de sua ação sobre o homem e a vida não é para muitos.
Sem ser a mais elaborada musicalmente, talvez pela primazia do registro de Nana, a canção é insuperável. Mas Aldir foi parceiro de mais de uma dezena de músicos, citemos alguns: Sueli Costa, Maurício Tapajós, Gilson Peranzzetta, Raphael Rabello, Lourenço Baeta e vários outros. Vale a pena explorar essas diferenças de resultado estilístico com cada parceiro na sua vasta obra. Um bom começo pode ser uma consulta ao Dicionário Cravo Albin (http://dicionariompb.com.br/aldir-blanc).
Por exemplo, “Aquele um”, com Djavan, um samba sincopado que parece ter sido escrito pelo alagoano, não fosse pelo versos “falou que “era aquele um”das quebradas/ o santo de cama das mal amadas”. Ao final, Aldir, se eu não estiver enganado, entregou a Djavan uma improvisação vocal sobre a qual o cantor deita e rola: “Zarakiê, Zaraquiê, Zoroquiê, Zaraquiê, Zoroquiê, Zaraquê Zô”. Aldir entra no universo sonoro de Djavan e sai ileso.
“Boca de sapo”, com João Bosco, é um debochado programa de vingança feminina. A personagem dá uma forra do marido traidor usando trabalhos de santo. Clementina de Jesus gravou a canção com Bosco e transformou o que era uma canção cômica quase em um ponto de terreiro. No refrão, a mulher debocha do “pato”: “Depois deu de rir feito Exu Caveira/ marido infiel vai levar rasteira”. Blanc sempre teve o dom de se deixar atravessar pelo popular e convertê-lo em poesia culta. Era como uma tradução, cuja maestria não residia apenas em conhecer a “língua de partida” [a do povo], mas de dominar a “língua de chegada” [a da literatura].
Com Moacyr Luz o Rio de Janeiro inteiro pulula nas parcerias, sem medo dos inevitáveis clichês, como no belo samba “Saudades da Guanabara”. Contudo, uma coisa é carioquice, outra o “Carioca mesmo”, como disse Dorival Caymmi sobre Aldir, falando de sua cidade amargurada: “Passei pelas praias da Ilha do Governador/ E subi São Conrado até o Redentor/ Lá no morro Encantado eu pedi piedade/ Plantei ramos de Laranjeiras foi meu juramento/ No Flamengo, Catete, na Lapa e no Centro/ Pois é pra gente respirar. Brasil tira as flechas do peito do meu Padroeiro/ Que São Sebastião do Rio de Janeiro/ Ainda pode se salvar”. O que nas mãos de um letrista qualquer poderia resultar em um panfleto, nas de Aldir ganha ares de uma nova “Aquarela brasileira”, ou seja, uma letra icônica.
Mas “O bêbado e o equilibrista” não pode ficar de fora de nenhum texto sobre Aldir Blanc, não apenas porque é sua canção mais famosa e mais emblemática, mas porque Elis Regina a converteu em hino de geração. Nota: Elis foi a intérprete mais fundamental da parceria Bosco/Blanc (aqui relembro um ponto alto, “Bala com bala”, primeira gravação que ela fez da obra dos dois, numa versão ao vivo, https://www.youtube.com/watch?v=BOrdNdmP1pY). Nota 2: não existe “ponto baixo” nesse caso.
Em entrevista à Rádio Batuta para o mesmo Luiz Fernando Vianna (https://radiobatuta.com.br/especiais/aldir-blanc-70-anos/), Aldir comenta uma impressão (falsa), mas não rara, de que sua obra seria panfletária (“90% das músicas não são políticas, 90% são líricas”, diz ele). Defende sua poética como uma obra subjetiva, antes de qualquer coisa, mas sempre de um lirismo estranho, rascante, muitas vezes quase constrangedor, com um toque de escatologia e coloquialismo que exige uma interpretação precisa. A canção que Elis gravou pode ter sido responsável por essa ideia bastante equivocada de um autor polemista, sobretudo quando cotejamos a obra como um todo. Não é difícil desmontar essa falsa engrenagem.
Embora tenha sido composta num momento de abertura política pós ditadura militar, e que até hoje seja cantada em mobilizações populares, rodas de samba, festas estudantis, não se trata de uma canção datada. Basta compará-la com “Pra não dizer que não falei de flores”, de Geraldo Vandré. Uma única frase pode fixar uma canção no tempo de sua escrita, prendê-la ao passado (como “há soldados armados/ amados ou não”) – por enquanto, os militares parecem jogar o jogo democrático, se é que é possível ainda falar em democracia sem parecer leviano; a canção de Vandré, sempre que é puxada, não deixa de soar anacrônica, embora não tenha perdido a força.
“O bêbado e o equilibrista”, ao contrário, começa como crônica (“Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto”). No fato cotidiano e trágico, desconhecido ainda hoje de muitos, inclusive de músicos informados, como lembra Vianna na Rádio Batuta – o desabamento do Elevado Paulo de Frontin em 1971, no Rio –, cabe uma referência chapliniana, soprada a partir da música de João Bosco. Aldir relembra a morte de Chaplin, que teria motivado a melodia do parceiro.
A música introduz exemplarmente o local e universal em apenas duas frases. Não é o caso de dissecar a letra verso a verso, mas algumas imagens ainda hoje impressionam: “E nuvens lá no mata-borrão do céu/ Chupavam manchas torturadas/ Que sufoco louco/ O bêbado com chapéu-coco/ Fazia irreverências mil pra noite do Brasil”. A esperança dançava os passos rotos do clássico vagabundo, mas era aspirada, desejada, depois gritada por Elis a plenos pulmões. Mas essa vontade coletiva era, antes de mais nada, uma esperança sustentada pela graça e pela beleza, por isso equilibrista e mambembe, nas imagens lindíssimas que Aldir lhe empresta.
Os versos seguem essa construção cambaleante, jogando com o otimismo e o pessimismo depois de mais de uma década do regime opressor (Elis grava a canção em 1975, no álbum “Elis, essa mulher”, portanto contava-se 15 anos desde 1964). Ainda hoje seus versos podem não ser compreendidos em toda sua extensão, mas se transformaram em um canto de evocação da esperança rediviva por todos os erráticos que ousavam sonhar, ainda que naquele momento relembrassem os exilados pelo militarismo que ditava as regras, simbolizados pelo “irmão do Henfil” e “com tanta gente que partiu”.
Hoje tudo é distinto daquele cenário, mas de muitas formas é mais complicado, mais opressor, mais assustador, porque o apoio de parcela significativa do eleitorado empresta uma legitimidade inédita às aspirações totalitárias do atual mandatário. Vivemos o exílio interno, intelectuais, professores, artistas, cidadãos não precisam sair do país para sentir a força da opressão cada vez menos silenciosa de um Estado ao mesmo tempo estabanado e amedrontador.
Todavia, quando Aldir previa “que uma dor assim pungente/ não há de ser inutilmente” e que a “esperança dança na corda bamba de sombrinha” porque “em cada passo dessa linha pode se machucar”, acabou por construir uma narrativa que hoje pode ser recolocada em todo seu significado. O exílio social do próprio Aldir, que tinha certamente várias fontes, também nos ajuda a pensar sobre seu lugar no conjunto dos compositores canônicos do Brasil.
Uma boa forma de responder a esta questão é lembrar que “O bêbado e o equilibrista” ocupa um lugar fundamental na memória coletiva da esperança, essa força social que se renova sempre que brutalidade retorna à nossa vida política. Só uma canção ocupa o mesmo lugar nesta memória libertária dos brasileiros, ela se chama “Apesar de você”, escrita por Chico Buarque.
*Henry Burnett é músico, e professor de filosofia na Unifesp