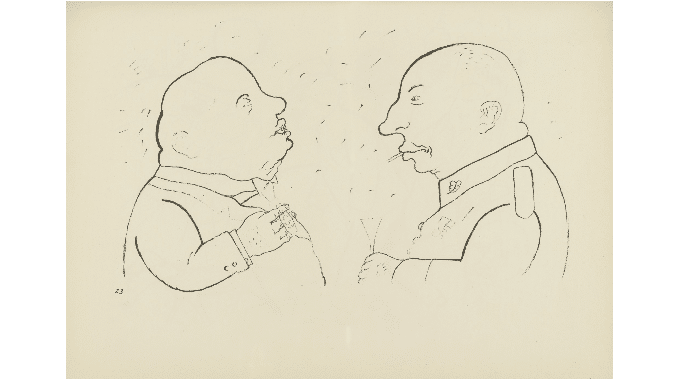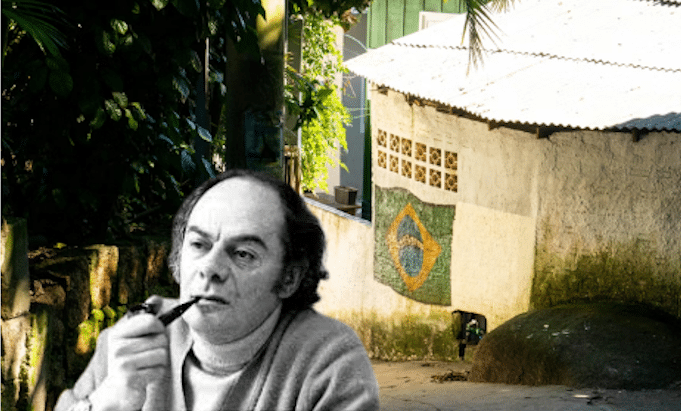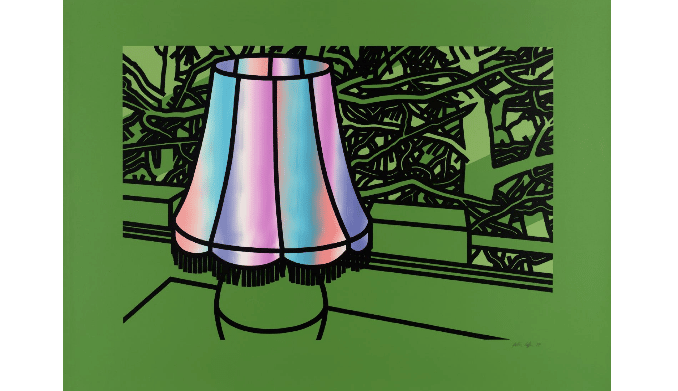Por GILBERTO LOPES*
Comentários sobre acontecimentos recentes na política internacional
“Se ficarmos nos cem mil mortos teremos feito um grande trabalho”, disse o presidente norte-americano, Donald Trump, no último dia 29 de março. “É muito provável que o pico da doença se produza em duas semanas”, acrescentou. Os Estados Unidos tinham, naquele momento, pouco mais de 130 mil casos e 2.300 mortes pela Covid-19.
Sete meses depois, nas vésperas das eleições de 3 de novembro, o cenário é muito diferente. As mortes diárias aproximam-se de 1.000 (Índia, com cerca de 700 mortes, e Brasil, com quase 600, os seguem nesta macabra tragédia). O total de mortos pela pandemia nos Estados Unidos supera os 230 mil e o país se encaminha para os nove milhões de casos. É um dos países com mais mortos por milhão de habitantes no mundo.
Uma história que torna difícil sustentar que estão “virando a página”, como afirmou recentemente o mandatário. “Isto se vai”, disse Trump. “Vamos deixá-la para trás. Já está indo”. Parece um discurso repetido desde março. É inevitável: algum dia a pandemia, ao menos, diminuirá. Há quem diga que ela nunca acabará totalmente. Também surgirão vacinas. Cada vez mais eficazes. Mas isso é outra coisa, distinta de um otimismo reiterado, sem que a realidade lhe dê alguma trégua. Nem sustento.
Como encará-lo a apenas dez dias das eleições? “Quem quer que seja responsável por tantas mortes não deveria continuar sendo presidente dos Estados Unidos”, disse Joe Biden no debate eleitoral do último dia 22 de outubro, em Nashville. Então, cerca de 48 milhões de pessoas já tinha enviado seu voto pelo correio ou outros instrumentos nos Estados Unidos. As pesquisas e os comentaristas indicavam que faltavam poucos indecisos, enquanto se intensificavam as especulações sobre os resultados finais da votação.
Os números da pandemia
O número de mortes pela Covid-19 cresceu rapidamente no mês de abril, quando já tinha começado a aumentar no mês anterior. Era a primeira onda, que bateu o recorde de 8.515 mortes num dia, em 17 de abril. Depois pareceu diminuir. A partir de maio, o número de mortes foi baixando até chegar a menos de cinco mil diariamente no início de junho. Então o número começou a subir de novo. Em 22 de julho, chegou a 7.309. Depois começou a baixar novamente, até chegar a seis mil casos nas primeiras semanas de outubro.
E começou a nova escalada atual, que nos levou a quase sete mil mortes diárias no final de outubro. E que tem alarmado toda a Europa, onde ocorrem as medidas de fechamento e quarentena. A Espanha chega a um milhão de contágios e o governo decreta toque de recolher noturno. Medidas similares sucedem-se na França, Inglaterra, Países Baixos, e outros estados. Com cerca de 500 mil casos diários, o mundo aproxima-se, nesta semana, dos 45 milhões de casos e de quase 1,2 milhão de mortos. O FMI publicou em outubro sua atualização das perspectivas econômicas: cerca de 85% da economia mundial está parada. “O Grande Lockdown”, como chama o FMI. Sem que os bancos centrais tenham se recuperado ainda da crise financeira global de 2008, os governos forneceram cerca de doze trilhões de dólares de apoio fiscal aos lares e empresas.
Mas o caminho à frente segue pouco claro, extraordinariamente incerto, acrescenta o FMI. Para os Estados Unidos e a União Europeia, a crise é particularmente dolorosa. Suas economias caíram neste ano 4,3% e 7,6% respectivamente, em estimativas do FMI. China, ao contrário, crescerá pouco, mas crescerá: 1,9%. Mesmo que as previsões sejam de crescimento para o próximo ano (3,1% para os Estados Unidos; 5% para União Europeia e 8,2% para a China), o FMI adverte que as coisas poderiam piorar se a nova onda de contágios seguir crescendo.
Os riscos seguem altos, com alguns mercados financeiros sobrevalorizados, com ameaças de quebras e desemprego e um aumento da dívida pública, que o FMI espera poder chegar a 100% do PIB global, resultado dos estímulos fiscais para tentar manter as economias à tona. O The Economist adverte que as políticas devem contemplar a resposta dos governos às mudanças estruturais e à “destruição criativa que a pandemia está provocando”. E estes ajustes – acrescenta – “serão imensos”, com economias menos globalizadas, mais digitalizadas e menos igualitárias.
É um tempo muito caótico
Talvez por tudo isso, o ex-vice-presidente da Bolívia, Álvaro García Linera, afirmou que este é “um tempo muito caótico para o mundo inteiro”. “É um tempo que não tem escrito seu destino. Creio que assim serão estes tempos, muito turbulentos”. Trata-se de uma longa entrevista publicada pela revista Crisis, de Buenos Aires, no último dia 22 de outubro. Fala dos resultados eleitorais de 18 de outubro. Da surpreendente vitória do Movimento ao Socialismo (MAS), com 55% dos votos conquistado por Luis Arce e David Choquehuanca, praticamente duplicando os 29% de Carlos Meza, seu adversário mais próximo. García Linera o vê da perspectiva boliviana, mas com evidentes repercussões regionais.“O significado, para a Bolívia, é que o projeto nacional-popular proposto pelo MAS segue sendo o horizonte insuperável deste tempo”, avaliou. E para o continente – acrescentou – “a lição é que, se você aposta em processos que beneficiam fundamentalmente as pessoas mais simples, mais necessitadas, não está falhando. Você poderá ter problemas, dificuldades, contratempos… mas é uma aposta que vai no sentido da história”.
García Linera fala também da crise do neoliberalismo. A democracia se apresenta cada vez mais como um estorvo para as forças conservadoras. Nos anos oitenta e noventa, venderam a ideia de que a democracia e o projeto de economia de livre mercado, vinham juntas. Agora apresenta-se como um estorvo. Não vimos isso com suficiente claridade em 2016, acrescenta. “Esta regressão autoritária do neoliberalismo, este neoliberalismo 2.0, mais enfurecido, violento, disposto – sem nenhum tipo de limite moral ou remorso – a recorrer à violência, ao golpe de estado, ao massacre, com o fim de impor-se”.
Defendeu o papel do Estado na economia, a inversão pública, a renegociação da dívida, a política redistributiva via salários. Um governo progressista não pode permitir que o poder econômico esteja todo no setor privado. “Isso é perigoso”, afirmou. “Você tem que estabelecer uma relação entre iguais, ou de cima para baixo com o setor empresarial, sem necessidade de brigar com ele”.
O retorno da Unasur
Também destacou a importância do cenário regional. “Em 2008 tivemos uma situação parecida, inclusive mais radicalizada por parte dos conservadores. Mas houve uma neutralidade policial e militar, muito influenciada pelo contexto continental que velava para que não se transgredisse nem se desconhecesse o estado de direito. E foi suficiente, apesar do dinheiro que deve ter circulado naquele momento entre os comandantes militares”.
Agora foi diferente. “Com a Unasur vigente, não teria ocorrido o golpe em 2019”, assegurou. Mas a Unasur já não está vigente. Em março do ano passado, o presidente do Equador, Lenin Moreno, anunciou sua retirada da organização, que havia sido criada em 2008, no Brasil. Não era uma renúncia qualquer, pois a organização tinha sua sede em Quito. O edifício sede tinha o nome do ex-presidente argentino, Néstor Kirchner, e o monumento que o lembrava, Moreno também mandou retirar. O governo conservador da Colômbia já tinha saído do organismo, cujo último secretário geral tinha sido, precisamente, o ex-presidente colombiano Ernesto Samper.
O triunfo do MAS – disse o ex-chanceler brasileiro Celso Amorim – “é muito importante”. É um resgate da democracia, com a derrota do golpe orquestrado com a participação da OEA que, em sua opinião, voltou a ser, “de modo ainda mais grosseiro que no passado, um ministério de colônias” dos Estados Unidos. A OEA, enfatizou Amorim, “foi agente do golpe na Bolívia”. Destacou também a localização estratégica da Bolívia na região, no centro da AméricaLatina. O triunfo do MAS “ajuda a aliviar o isolamento da Argentina”. Permite ir construindo uma nova realidade política na região.
No domingo 25, celebrou-se um plebiscito no Chile para por fim à constituição de 1980, da época da ditadura civil-militar e, em fevereiro, também haverá eleições no Equador. O presidente eleito da Bolívia, Luis Arce, já anunciou que restabelecerá relações com Venezuela e Cuba, rompidas pelo governo golpista. “Outras coisas acontecerão”, afirmou Amorim. “Podemos pensar na ressurreição da Unasur. Não podemos ficar nas mãos da OEA, sujeitos aos argumentos únicos que vêm de Washington”.
Novos ares em Washington?
Amorim falou também, na entrevista à revista Fórum, das perspectivas das eleições norte-americanas. Há uma diferença entre democratas e republicanos, avaliou. Nixon promoveu o golpe no Chile, em 1973. Seu sucessor, Jimmy Carter, adotou uma posição diferente. “Os interesses fundamentais são os mesmos, mas há matizes”. Uma vitória de Biden marca a diferença, indicou.
A oito dias das eleições, todas as pesquisas indicam a derrota de Trump. Alguns especulam sobre a possibilidade de uma vitória democrata arrasadora, incluindo a recuperação do senado, hoje nas mãos dos republicanos. Mas todos se lembram também de uma situação similar em 2016, quando a favorita era Hilary Clinton. E, assim, matizam um otimismo exagerado. “Os democratas consideram que os estados em mudança como Texas e Geórgia são a chave para uma possível vitória avassaladora; o Texas não votou por um candidato presidencial democrata desde 1976 e a Geórgia, desde 1992”, disse o jornalista Astead W. Herndon, no New York Times. “Uma segunda administração Trump poderia significar o fim do sistema de alianças e da ordem internacional liberal do pós-guerra”, afirmou Thomas Wright, pesquisador não residente do Lowy Institut da Austrália, num longo artigo intitulado “O ponto de não retorno: a eleição de 2020 e a crise da política exterior norte-americana”.
Em sua primeira administração, Trump recusou os princípios sobre os quais se fundou a liderança norte-americana desde a Segunda Guerra Mundial que, para Wright, incluíam um sistema de alianças na Europa e na Ásia, o livre-comércio, uma economia internacional aberta e o apoio à democracia e aos direitos humanos. Se Trump for reeleito – acrescentou – o mundo entenderá que os Estados Unidos mudou e que o período de liderança do pós-guerra terminou. No lado contrário, vê Biden como um entusiasta defensor das alianças e do velho estilo de liderança norte-americano.
Depois de uma fase de acomodação de sua presidência, Trump se viu confrontado finalmente com a grande crise de uma pandemia, que provocou um colapso econômico similar ao da grande depressão dos anos 30 do século passado. Os meses seguintes foram um horror, na medida em que aumentavam os casos e as mortes. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não exerceram um papel de liderança numa grande emergência internacional. Um eventual segundo período – disse Wright – não nos oferece nenhuma evidência de que será mais moderado, como é a tradição nos governos republicanos. Citando o ex-assessor de Trump, John Bolton, em seu livro recente sobre a atual administração, avalia que, nesse segundo período, o mandatário estará muito menos constrangido pela política do que esteve no primeiro.
Ainda que Biden represente o retorno à tradicional política norte-americana – voltará ao Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, tratará de reavivar o acordo nuclear com o Irã e do recompor as relações com os aliados tradicionais –, em muitos outros assuntos de política internacional “Biden é um enigma”. Sua política para a China, entre outras coisas, poderia ser particularmente dura, tal como expôs quando era vice-presidente, numa conferência no mesmo Lowy Institut, em Sydney, pouco antes de terminar o governo de Obama.
Não há maiores referências à América Latina no estudo de Wright. Mas, como indicou o ex-chanceler brasileiro Celso Amorim na entrevista já citada, “para muitos membros do governo norte-americano e do capital, do poder profundo, a América Latina deve continuar sendo seu quintal”. E exemplificou com o golpe dado no Brasil contra a presidente Dilma Rousseff, que terminou com Jair Bolsonaro na presidência da república. O golpe contra o Brasil – afirmou – está relacionado com dois temas, principalmente. Com as enormes reservas petroleiras do Pré-sal e com uma política externa independente, como a que impulsionou a formação da Unasur. Que o Brasil tenha decidido manter o controle do Pré-sal nas mãos de sua petroleira, a Petrobrás, “é algo que a geopolítica dos Estados Unidos não aceita”. E algo que o governo de Bolsonaro foi revertendo.
Olhando para dentro
Uma olhada para dentro desnuda as bases falsas da política exterior norte-americana. “Sete duras críticas aos Estados Unidos pela pobreza extrema que existe no país mais rico do mundo (e que o governo Trump recusa)”, intitulou seu artigo no BBC Mundo o jornalista Ángel Bermúdez. Uma enorme riqueza que contrasta “de forma chocante” com as condições em que vivem muitos de seus cidadãos: cerca de 40 milhões na pobreza; 18,5 milhões na pobreza extrema.
Cita o caso da empresa Walmart, a maior empregadora nos Estados Unidos, ao que faz referência o informe do relator sobre pobreza extrema e direitos humanos das Nações Unidas, Philip G. Alston. “Muitos de seus trabalhadores não podem sobreviver, tendo um trabalho em tempo integral, caso não recebam cupons de alimentação. Isto encaixa numa tendência mais ampla: a porcentagem de lares que, enquanto ainda possuíam renda, também recebiam assistência para alimentação, aumentou de 19,6% em 1989 a 31,8% em 2015”. Talvez mais ilustrativo, contudo, seja a longa reportagem da jornalista Jessica Bruder, publicada no livro com o título “País nômade” (Nomadland: surviving America in the twenty-first century, em sua versão original).
Numa nota publicada no jornal La Vanguardia, de Barcelona, Domingo Marchena destaca que Bruder dedicou três anos de sua vida a esse trabalho, percorreu mais de 24 mil quilômetros, de costa a costa e de fronteira a fronteira. Conviveu com o que chama de “sobreviventes do século XXI”. Conheceu mulheres e homens que alugavam sua força de trabalho daqui atéali. Da colheita de framboesas em Vermont à de maçãs em Washington ou os mirtilos no Kentucky. Cuidam de bosques, vigiam fazendas de peixes, controlam as entradas das estradas ou os acessos aos campos de petróleo do Texas. Um dia vendem hambúrgueres nas partidas de beisebol da Cactus League em Phoenix, Arizona, e na semana seguinte atendem barracas nos rodeios e na Super Bowl”. São recepcionistas de campings e parques de caravanas. “Os salários são baixos e o trabalho, extenuante. Fazem horas extras que não se contabilizam e a qualquer momento podem despedi-los”. “Quando isso acontece, de novo ao volante e à estrada em busca de outra coisa para ir tocando”. São as desgastadas promessas do “sonho americano” que as políticas neoliberais venderam ao mundo desde a Segunda Guerra Mundial. A quem servem hoje?
Gilberto Lopes é jornalista, doutor em Estudos da Sociedade e da Cultura pela Universidad de Costa Rica (UCR).
Tradução: Fernando Lima das Neves.