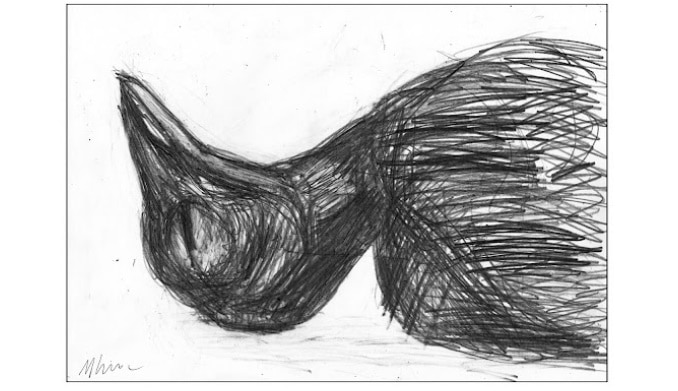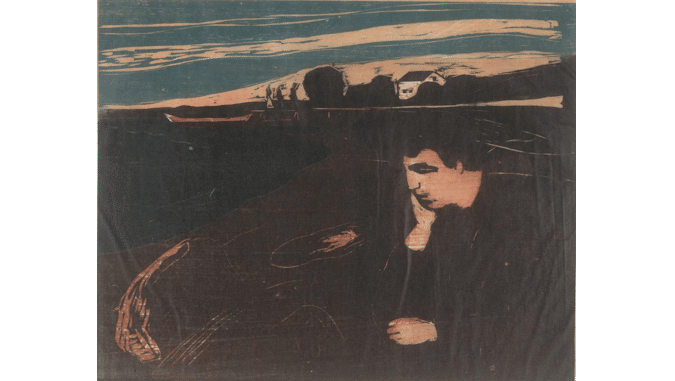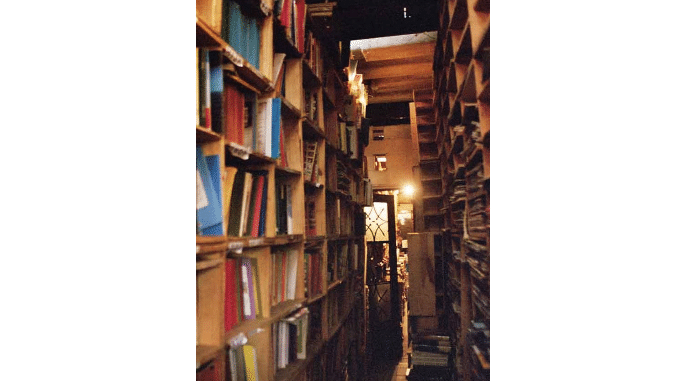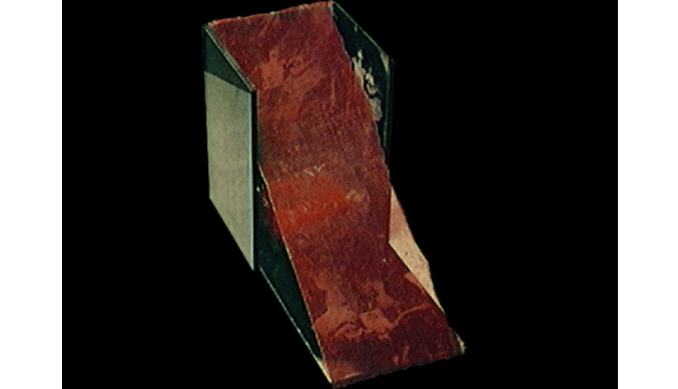Por JEAN PIERRE CHAUVIN*
De quatro em quatro anos se repete a festa e a farsa da democracia
“Pobre terra da Bruzundanga! Velha, na sua maior parte, como o planeta, toda sua missão tem sido criar a vida e a fecundidade para os outros, pois nunca os que nela nasceram, os que nela viveram, os que a amaram e sugaram-lhe o leite, tiveram sossego sobre o seu solo!” (Lima Barreto, Os Bruzundangas).
Quem infravive neste rascunho de país bem o sabe. Ano eleitoral é aquele em que todos os síndicos, diretores, mandatários, gestores e desgovernantes da neocolônia disfarçam sua incompetência, cinismo e negligência com benfeitorias aparentes de última hora. O elevador que vivia emperrando, agora desliza sobre a pluma. Aquela cratera sem conserto havia três anos, aparece recapeada. Debaixo de enormes holofotes, uma nova Faculdade é inaugurada (embora não passe de extensão malfeita do terreno de uma antiga Escola Técnica).
O discurso dessas criaturas se torna mais ameno. O ultraliberal das primeiras horas, agora soa quase como um liberal – misto de democrático e iluminista – a se vangloriar de ações que, em tese, priorizaram o cuidado com a população… Tsc, tsc. Se você reside em São Paulo, a cidade mais rica, cara e inóspita do hemisfério sul, repare como o município anda sem zeladoria. Note, também o destrato e o descaso reservados às pessoas em situação de rua.
Disfarçando as mãos dadas com banqueiros, industriais, agronegociantes e pastores-de-tevê, essas figuras de sorriso-automático disputam espaço com subcelebridades. Por isso, se somam a elas em programas de entrevistas de teor raso e gosto duvidoso. Por sinal, a maior diferença entre os candidatos e os rostos midiáticos que orbitam a estratosfera ciber, reside no meio em que circulam. O rádio e a televisão ainda transmitem maior credibilidade que as redes sociais, as redes sociais e os canais de podcast. Por isso, de quatro em quatro anos, lá estão eles a povoar as teletelas com propagandas caríssimas, custeadas com o dinheiro suado do contribuinte.
O ciclo se repete desde que nos conhecemos por gente. No ano anterior às eleições, parte da imprensa dita tradicional se alia (espontaneamente ou mediante barganhas) a uma ala dos pré-candidatos (inclusive aqueles que se declaram “não-políticos”). Essa mesma imprensa, por mais que apanhe, exploda e coloque seus repórteres em risco, não hesitará em apoiar o representante dos interesses dos donos de jornal, emissoras de rádio e televisão, em obediência ao “modelo” estadunidense de sentir (ególatra), pensar (aculturado) e agir (imperialista).
Eleitos graças à ajuda de colaboracionistas que se enrolam com a bandeira positivista, mas odeiam o país (e sonham com uma casa em Orlando), os primeiros dois anos de mandato transcorrem entre negociatas escusas entre os eleitos e seus amigos. Como sabemos, a competência ou a ética dos membros de sua equipe é critério secundário.
A falácia se incrementa com mais do mesmo. Em nome do anticomunismo (“democracia”), do atraso (“ponte para o futuro”) e da saúde econômica (“austeridade”), direitos são retirados; populações nativas, ribeirinhos e agricultores familiares são expropriados; fauna e flora entram no radar do turismo predatório; o trabalhador perde a rede de proteção que tinha, em nome da “geração de empregos”; o desgoverno atira diretas e indiretas para a oposição e elege rivais para achincalhar em público. Alguns líderes de movimentos e políticos dignos são eliminados, sob a cegueira de investigações sabotadas.
O discurso anticorrupção finge ser contraparte dos excessos em cartões corporativos; das rachadinhas; do fundo partidário; dos assassinatos sem investigação; das injúrias raciais; das falas preconceituosas; dos ataques verbais e efetivos à ciência (corte de bolsas, questionamento dos professores, ataque à ciência etc.).
O terceiro ano de mandato costuma ser aquele em que o desgoverno começa perder força. Por isso mesmo, ele reforça as estruturas de poder; enaltece as ações adotadas até então (que se resumem a vender o pouco que tínhamos em troca de moedas). Recorrendo a expressões desgastadas como “gigantismo da máquina pública”, o gestor elege os “cortes de gastos”, aplicados arbitrariamente, a começar pela suposta “redução de privilégios” (que só vale para quem recebe cem vezes menos que o presidente da neocolônia, os governadores das capitanias hereditárias e os chefes das vereanças).
Congelam-se salários e pensões dos que menos recebem; retira-se a única vantagem do emprego público, que costumava ser a estabilidade. Exceção feita aos homens de farda, terno e capa, os servidores que menos oneram o Estado são tratados como parasitas. Nada se diz sobre as comitivas que debocham nas redes sociais, enquanto sorvem milhões em viagens caríssimas e inúteis, protagonizadas por amigos e familiares de mandatários. Essas visitas não favorecem a economia do país; só reforçam a hipocrisia da “equipe” especializada em nada fazer e tudo vender quase de graça.
De modo geral, são seres ressentidos com a universidade pública, que protestam contra a democratização do ensino superior; são alérgicos às mesmas pessoas que elegeram seus governantes; criticam e vetam o acesso dos mais humildes ao transporte aéreo; são negligentes com a saúde (manipulam estatísticas e retiram verbas do SUS), mas adeptos ferrenhos dos Chicago Boys – aquele bando de especuladores dos anos 1970, inspirados pelos mantras do neoliberalismo concorrencial, especializados em sobrepor o livre-mercado ao bem-estar social.
Se você chegou até aqui, recomendo que escute Vivaldi. Digo “escute”, porque receio não haver tempo de aprender violino, enquanto o navio submerge.
*Jean Pierre Chauvin é professor na Escola de Comunicação e Artes da USP. Autor, entre outros livros, de Mil, uma distopia (Luva Editora).