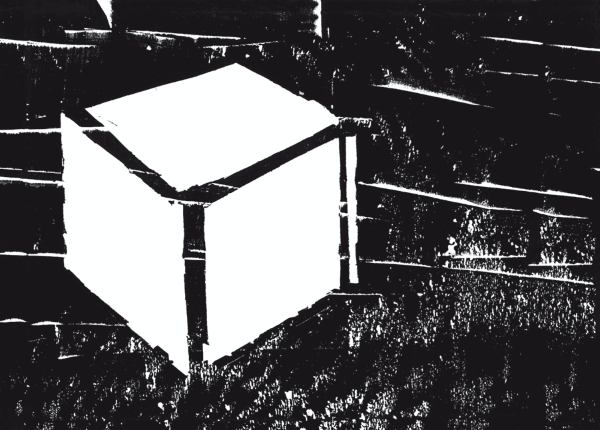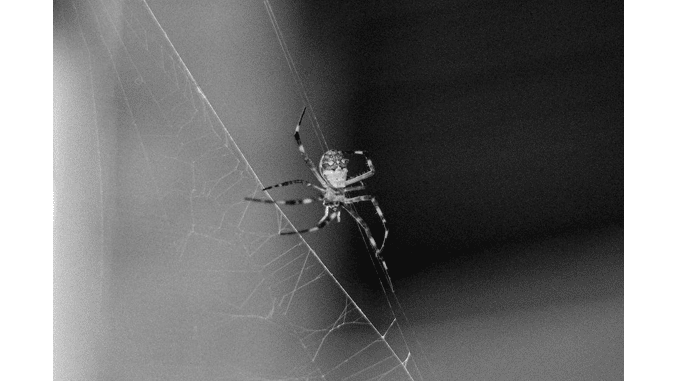Por JOSÉ GERALDO COUTO*
Comentários sobre todos os filmes baseados em obras dos dois escritores
No intervalo de menos de um mês o Brasil perdeu dois de seus maiores escritores, Rubem Fonseca e Sérgio Sant’anna. Ambos mantinham uma intensa e fecunda relação de mão dupla com o cinema. Seja como autor de obra literária adaptada, seja como roteirista – frequentemente como ambas as coisas –, Rubem Fonseca está presente em pelo menos dezessete filmes (de longa e curta metragem) e séries televisivas. A literatura de Sérgio Sant’anna, por sua vez, gerou por enquanto quatro longas-metragens.
Paradoxalmente, apesar da presença maior nas telas, o autor de Feliz ano novo teve até agora menos sorte nessa passagem da escrita para o audiovisual. Nenhum filme conseguiu dialogar de igual para igual com a força e a vivacidade de sua literatura. É difícil explicar o porquê, mas podemos arriscar algumas hipóteses, examinando um punhado de casos.
Rubem Fonseca
A trajetória de Rubem Fonseca no cinema é curiosa. Apesar de ter ficado mais conhecido como autor de histórias violentas, que trafegam entre a alta sociedade corrompida e o submundo mais sórdido, os primeiros longas inspirados em sua obra – Lucia McCartney (David Neves, 1971) e Relatório de um homem casado (Flávio Tambellini, 1974) – exploravam outro aspecto da literatura do autor: a crônica moral de costumes.
Lucia McCartney junta dois contos, sem entrelaçá-los: o relato homônimo e “O caso de F. A.”. Ambos tratam da relação de garotas de programa ou prostitutas com seus clientes e/ou amantes. O primeiro, do ponto de vista da mulher (Adriana Prieto); o segundo, do homem (Nelson Dantas) e do amigo (Paulo Vilaça) que o ajuda a resgatar uma jovem prostituta. Neste, surge pela primeira vez nas telas o personagem do advogado-investigador Mandrake, de presença constante na bibliografia de Fonseca – e que daria origem em 2005 a uma série de TV, dirigida, entre outros, por José Henrique Fonseca, filho do escritor.
São como dois curtas-metragens independentes, e trazem por um lado o frescor e a liberdade característicos de David Neves (por exemplo, quando reproduz em preto e branco, com legendas, as cenas que ocorrem no imaginário de Lucia McCartney) e por outro certo desleixo nas filmagens que, somado à precariedade da produção, deixa uma sensação de amadorismo. A ausência do som direto – isto é, os atores dublavam seus diálogos – é fatal para uma das qualidades da literatura do autor, que é a porosidade para a respiração das ruas e para a fala coloquial.
O problema do som se agrava em Relatório de um homem casado (baseado no conto “Relatório de Carlos”), em que o ator principal (Nery Victor) é dublado por Paulo Cesar Pereio, intensificando a artificialidade. Para quem tiver interesse, o filme está inteiro no Youtube, numa cópia precária gravada do Canal Brasil:
De todo modo, são dois filmes interessantíssimos, que mostram Rubem Fonseca como uma espécie de herdeiro bastardo de Nelson Rodrigues – como se as famílias decadentes e corrompidas do dramaturgo tivessem gerado os personagens em crise, à deriva, do autor de A grande arte.
A grande arte (1991), de Walter Salles, ilumina outro tipo de problema na passagem de Rubem Fonseca ao cinema. Primeiro longa-metragem de ficção do cineasta, foi uma ambiciosa produção internacional, falada em inglês e com Peter Coyote como protagonista. Para isso, o personagem do advogado-detetive Mandrake foi convertido no fotógrafo norte-americano Peter Mandrake, em passagem pelo Rio para fazer imagens pitorescas para um livro de arte japonês. A sofisticação visual (fotografia, montagem, direção de arte) se impunha sobre a história, e a energia vital dos personagens e de seu ambiente se diluía. O próprio diretor reconheceria posteriormente que seu filme não fazia jus ao livro.
Um problema semelhante – esse desenraizamento da ficção de Rubem Fonseca de seu habitat, o caótico e movediço Rio de Janeiro – afeta ainda mais claramente a coprodução internacional O cobrador (2006), dirigida pelo mexicano Paul Leduc. Estrelado pelo brasileiro Lázaro Ramos, pelo norte-americano Peter Fonda e pela argentina Antonella Costa, com ambientação em Nova York, Miami, Rio, Buenos Aires e Amazônia, o filme entrelaça confusamente quatro contos: “O cobrador”, “Passeio noturno”, “Cidade de Deus” e “Placebo”. É difícil detectar a literatura de Rubem Fonseca no meio disso tudo. O filme completo, numa cópia razoável, está no Youtube:
Nesse contexto de frustrações, um resultado mais satisfatório talvez seja o do mais modesto Bufo & Spallanzani (2001), de Flavio Tambellini (curiosamente, filho e homônimo do diretor de Relatório de um homem casado), que enxuga ao essencial o romance original para construir uma espécie de filme noir autenticamente carioca, em que se misturam policiais corruptos, mulheres fatais, magnatas facínoras e marginais de toda espécie. O ritmo e a composição visual remetem ocasionalmente a uma estética de minissérie (impressão reforçada pela presença no elenco de atores como Tony Ramos, José Mayer, Maitê Proença e Gracindo Júnior), mas a narrativa é consistente em suas idas e vindas e na manipulação dos pontos de vista.
Sérgio Sant’anna
Com “apenas” quatro longas-metragens inspirados em sua literatura, Sérgio Sant’anna tem sido mais bem representado nas telas. Com exceção de Bossa nova (Bruno Barreto, 2000), adaptação chocha e convencional do conto “Senhorita Simpson” que não agradou ao escritor, os outros três longas são tentativas mais do que dignas de dialogar com seu universo pleno de inquietações existenciais e de linguagem.
Em Crime delicado (2005), transposição da novela “Um crime delicado”, o diretor Beto Brant radicalizou a ousadia do original, não só em relação aos personagens (a protagonista, que era apenas manca, passa a ser uma amputada, vivida com extrema coragem por Lilian Taublib), mas também à carga erótica explícita e à linguagem narrativa, entrelaçando teatro, literatura, dança e artes plásticas de modo estimulante. O próprio Sérgio Sant’anna, que não participou do roteiro nem das filmagens, estranhou e até rechaçou, num primeiro momento, o resultado. Só depois, segundo declarou, reviu o filme e compreendeu melhor sua proposta.
Um romance de geração (David França Mendes, 2008), inspirado no livro homônimo, é um caso ainda mais curioso. O livro já era uma mistura de gêneros: peça de teatro, diário, romance, crítica – e o filme potencializa essa transgressão metalinguística ao encenar a discussão e a preparação de uma peça e do filme em si com a presença, entre outros, do próprio escritor Sérgio Sant’anna. É a “construção em abismo” levada ao extremo.
Por fim, O gorila (José Eduardo Belmonte, 2012), baseado no conto homônimo, entrelaça uma história policial de mistério ao inventário de solidões do texto original. O filme, baseado em novela publicada no livro O voo da madrugada (2003), trata de questões centrais de nossa época: a invasão da privacidade, a pornografia virtual, a tênue fronteira entre o real e sua representação. O protagonista é um dublador de séries de TV (Otávio Muller, excelente), quarentão solitário que assedia mulheres desconhecidas (e um homem) com telefonemas obscenos, nos quais se identifica como “o Gorila”, chegando a imitar os sons do bicho.
Ele entra em crise paranoica ao ver-se identificado por uma de suas vítimas (Mariana Ximenes) e julgar-se responsável pelo suicídio de outra. Como sinopse, isso basta. Cabe acrescentar, talvez, que o Gorila é atormentado por lembranças da relação com a mãe (Maria Manoella) e por um problema grave nos dentes. Mas, assim como no texto de Sérgio Sant’anna, no filme o enredo é apenas um dos elementos que contam. Tão importante quanto a história é o modo como nela se embaralham e sobrepõem camadas de sugestões e significados.
No começo da narrativa, cada coisa está no seu lugar – os telefonemas, as lembranças, o trabalho de dublagem – e o Gorila pisa seu chão com segurança. Tem o controle, por assim dizer, da produção do imaginário. Ao telefone, sua voz cria cenas e atmosferas eróticas; ao microfone do estúdio, dá vida ao personagem McCoy. A mãe lhe aparece com a luz estourada e as cores saturadas características dos flashbacks oníricos. As coisas se complicam – e ficam mais interessantes, do ponto de vista cinematográfico – quando esses vários planos começam a interpenetrar-se, de tal maneira que deixa de haver diferença de espessura entre imaginação e fato, entre real e ficção. A mãe, McCoy, as mulheres assediadas, o passado e o presente, tudo passa a conviver no mesmo espaço delirante, vertiginoso, movediço.
Ao dar voz ao personagem McCoy, o dublador solitário, em alguma medida, passa a ser o próprio McCoy; ao inventar o tarado Gorila, converte-se nele. É essa apropriação do real pela ficção que está no cerne da arte de Sérgio Sant’anna – e, ocasionalmente, na de José Eduardo Belmonte.
Um último comentário sobre Sérgio Sant’anna. Não dever ser por acaso que seus contos e novelas estão entre os mais adaptados pelo cinema brasileiro contemporâneo. De Bossa nova a Crime delicado, passando por Um romance de geração e O gorila, os resultados são desiguais, mas há em todos eles a perseguição de uma vocação cinematográfica já contida no original. Em outras palavras: a literatura de Sant’anna é virtualmente multimídia, não só pelo fato de alimentar-se de referências ao cinema, às artes visuais, ao teatro e à música, mas também por jogar sempre com os temas e formas da representação, como se hoje em dia o próprio “real” já estivesse contaminado irremediavelmente por sua refração no imaginário, pelos inúmeros filmes, canções, quadros e peças de teatro que compõem nossa memória afetiva.
*José Geraldo Couto é crítico de cinema. Autor, entre outros livros, de André Breton (Brasiliense).
Publicado originalmente no BLOG DO CINEMA