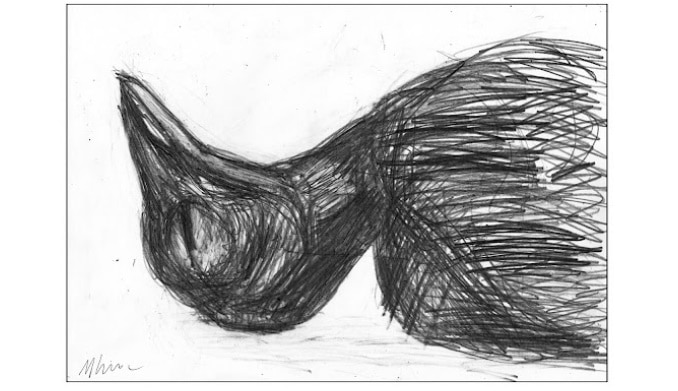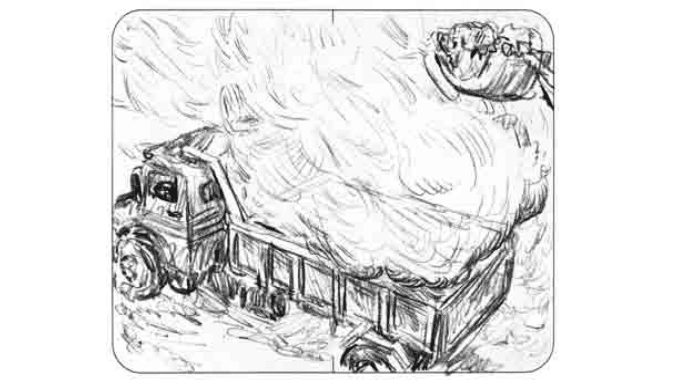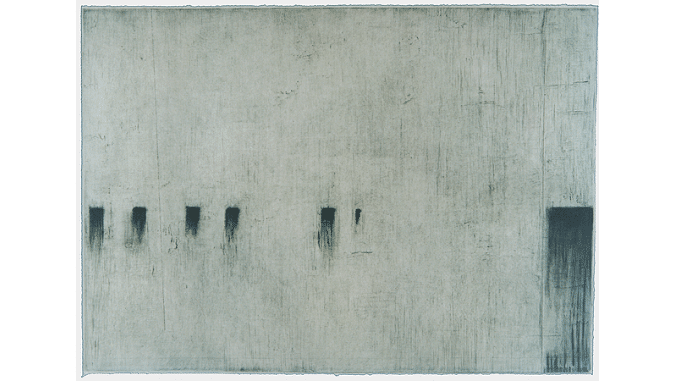Por JOSÉ MANUEL DE SACADURA ROCHA*
Quando não participamos, alguém participa, quando não votamos, alguém vota, quando não exercemos a cidadania, alguém o faz por nossa conta
Sabemos da ação mais perniciosa dos cidadãos em uma democracia: a omissão. Este ato de “não agir” está presente desde as civilizações mais antigas. Mas nunca se pensava em termos do “não agir” como um direito, muito pelo contrário: como o status de cidadania era conferido aos cidadãos com direitos, então ser cidadão e participar politicamente, quer dizer, em prol da equidade, do coletivo e da coisa pública, era um privilégio buscado por muitos, mas um privilégio que tinha que ser honrado com serviços para a administração da cidade-Estado.
Em Atenas, Grécia antiga, por exemplo, a participação política era compulsória para os cidadãos, ela conferia o status de cidadania e media o grau de legitimidade não apenas das leis e dos julgamentos, mas, fundamentalmente, na medida em que um cidadão “retribuía” à polis a contrapartida do usufruto dos benefícios destinados proporcionalmente aos que eram cidadãos.[i] Não é que os atenienses tinham a prerrogativa de participar, eles tinham a obrigação de trabalhar e agir em prol da “coisa pública”, nas conciliações litigiosas, nos tribunais, nas discussões políticas na ágora, na confecção das leis, e diretamente nos julgamentos mais importantes, no acompanhamento das atividades pedagógicas (educacionais e dos jogos), nas guerras (como em Esparta).
Politicamente, uma das ferramentas mais simbólicas da participação dos cidadãos foi a instituição do “ostracismo”, criada por Clístenes por volta do séc. V a.C., em que os cidadãos dispunham sobre a possibilidade de um certo indivíduo poder participar politicamente dos comícios, com pena de ser banido da cidade por dez anos, menos pelos seus atos presentes, mais pela ambição de poder e possibilidade de vir a ser um tirano (o voto era efetuado com conchas brancas e negras [óstrakon]).
Em Roma, a República inaugurou a democracia sob os auspícios do Senado Romano concedendo aos plebeus o direito de votarem as leis entre si (concilia plebis), e elegendo os tribunos da plebe nos plebiscitos. Por volta do séc. III a.C., os plebiscitos foram usados igualmente pelos patrícios antes das leis serem submetidas ao Senado. Apesar de no período republicano o Senado ir adquirindo cada vez mais poder, Cícero (Das Leis) acreditava que a República ainda era a melhor forma de organização política-administrativa para os cidadãos, porque nela, dizia ele, longe dos compromissos dinásticos entre si, existia a liberdade de cada um para desenvolver seus dons de acordo com as leis da natureza (em princípio sempre harmoniosas e sábias).
Com os estoicos e com Cícero inaugura-se o jusnaturalismo com base na integração do homem com a natureza, e, muito preponderantemente, uma moral que muito antes de ser ascética era sobretudo voltada para a responsabilidade ética conforme, do bem agir, do agir conforme a natureza, humildade e sabedoria. Devia-se obedecer e agir não porque se reconhece o poder e a violência do governante (Estado), ou com base no medo de uma justiça transcendente, “mas reconhecendo-se o sentido do bem-estar e felicidade quando se está integrado ao todo e à coletividade”.[ii]
Quando Hannah Arendt, em Da violência (1985) falou que não existe poder de minoria, mas apenas desinteresse e omissão da maioria, pensava tanto no homo politicus de Aristóteles como em sua natureza integradora com o coletivo. Ela diz: “A forma extrema de poder é o todos contra Um, a forma extrema da violência é o Um contra Todos” (1985: 35).[iii]
As massas acabam sendo a forma moderna de coletivo, mais que o povo; exatamente porque o conceito de povo está circunscrito na forma política do Estado-nação, ele é limitado dada a possibilidade mesma de sua representação política. As massas, por seu turno, são disformes, por isso sua representação é ilimitada e incomensurável, conforme Atilio Borón (2003),[iv] e de certa forma mais maleáveis. Isto nos permite pensar que, diante do desinteresse político ideológico da pós-Modernidade, enquanto sociedade liberal burguesa, as massas sejam reconfiguradas em torno do fanatismo e do negacionismo da ciência, e dos modelos sofisticados e complexos da vida social.
Não por acaso Hannah Arendt nos falava dessas massas como “ralé” e como ela se distingue de “povo”: “As duas atitudes derivam do mesmo erro fundamental de considerar a ralé idêntica ao povo, e não uma caricatura dele. A ralé é fundamentalmente um grupo no qual estão representados resíduos de todas as classes” (1978, p. 163).[v]
Contudo, as massas, que não se compõem stricto sensu somente da “ralé”, podem, nos cenários políticos e enfrentamentos ideológicos mais contundentes, refrearem suas opiniões, por medo ou letargia, porque na medida em que elas, especificamente a parte do povo, se distanciam de seus limites constitutivos de responsabilidades e obrigações de cidadãos, se instala o “direito de omissão” que boicota a participação política ou luta ideológica no campo da democracia constitucional.
Isto é o que se quer entender agora por liberdade nas sociedades do liberalismo mercantil: quanto mais os indivíduos se sentem livres, longe das amarras normativas do Estado-nação, mais se sentem, então, parte da massa disforme e sem limites mensuráveis, e mais cresce sua apatia com essa normatividade; e com ela o poder crescente e as crenças desarrazoadas de certos grupos mesmo que minoritários. Estes, inicialmente pelo menos, podem, com um projeto ardiloso que nega a própria democracia da qual participam, chegar ao poder com projetos megalomaníacos, os mais irracionais, fanáticos e negacionistas.
Alexis de Tocqueville, em Democracia na América, chamava a atenção para o desprezo sucessivo e renitente da maioria ao conquistar os benefícios do estar bem nas democracias ocidentais. Mas ele também tinha a preocupação, por outro lado, que a maioria atendida nessa prosperidade material se desinteressa-se pelos direitos igualmente legítimos das minorias, oprimindo-as, sem Tocqueville suspeitar, entretanto, que aquele desprezo e omissão pudessem, não afrontar ou desconsiderar os direitos das minorias, mas, em certas condições, observáveis agora, que elas possam se articular junto a outros grupos sociais (possivelmente, entre eles existam pessoas ligadas a movimentos sociais e de reconhecimento), mais ou menos atendidos pela equidade do Estado, e possam alterar a correlação politica de forças ao ponto em que governem desprezando a democracia.
A participação política, abrangente ou universal, a proporcionar a “inclusão” de todas as camadas sociais, como defendiam Stuart Mill e Montesquieu, já não nos dizem muita coisa do ponto de vista da capacidade de querer resistir proativamente e agir em algum grau de representação pública a assegurar o regime democrático, mesmo este que é pautado na configuração mercantilista burguesa. Note-se que não se trata de defender a democracia sem considerar a constituição social e organização econômica e cultural capitalista, mas da necessidade de se considerar o mínimo de condições objetivas na luta ideológica de nosso tempo.
Perder na democracia a liberdade e a civilização é perder de antemão a luta revolucionária em todas as frentes possíveis que ela se apresente contra o capital e o sistema de valor. O autoritarismo de Estado, o despotismo do governo, as intenções facinazistas, se realizadas no séc. XXI, serão o retrocesso e o retardamento sem precedentes da possibilidade histórica do caminhar socialista, e além (do capitalismo e do socialismo).
O “agir político” deve ser crítico até da própria racionalidade enquanto engodo de uma liberdade de massa sem obrigações (não nos esquecemos aqui dos fetiches das mercadorias). Ao mesmo tempo, é preponderante nos movimentos de massa que os indivíduos que anarquizam os limites do Estado-nação, o fazem em uma percepção (falsa) que seus direitos estão menos sopesados pelas políticas públicas e ações governamentais. No vácuo, sem direitos e sem obrigações, o homo sacer[vi] moderno se julga à beira do abismo e, então, os indivíduos parasitados, parasitarão.
Correrão para o primeiro grupo que lhes dê aparentemente alguma dignidade e restaure o sentimento de pertencimento. Neste momento pelo menos, se é um problema viver pela égide do Estado (e do domínio do capital), também o é a omissão dos agentes sociais e das instituições em não quererem participar pelo “agir político”. Não seria razoável, nem racional, por outro lado, a omissão do “agir político” simplesmente em nome de um desprezo sintomático do tipo “contra o capitalismo”.
Nestes vácuos estratégicos, à direita e à esquerda, reiteradamente se instala a pior política, se assenhora a sombra do despotismo. Nenhum deles nos interessa, e nenhum deles vai além do que já possuímos. Nossas ações importam. A mesma racionalidade que pedia Hannah Arendt aos estudantes estadunidenses em luta contra a guerra do Vietnã, era a mesma que solicitava Theodor Adorno aos alunos europeus em maio de 1968.[vii] A questão claramente não é querer transformar o mundo, mas mais propriamente se nos ilumina a razão na nossa compreensão de mundo e em nosso agir.
Se não parece admissível qualquer ditadura de maioria, igualmente não parece defensável qualquer forma de ditadura da minoria. Existem muitos agires revolucionários que podem alçar nossas lutas contra o sistema do valor; nem a omissão por um lado, nem a participação irracional fanática, por outro, são aceitáveis se consideram, mesmo como meio, a perda de liberdade e o fim da justiça.
Por outro lado, é preciso que se diga, no mundo que aí está de disputa e alternância de poder, uma vida boa com equidade e justiça não pode ser gerada no plano de omissões com relação às lutas imediatas, isto porque o espaço da politica será sempre e rapidamente ocupado pelos que vivem da omissão alheia e do enfrentamento extremado na base do facinazismo. Não se pode abandonar as lutas, por direitos ou outras, em nome de interpretações da tradicionalidade, marxista ou outra, ainda que legítimas. Todas as lutas diárias críticas, de enfrentamento ao modo de produção mercantil, provocam mais ou menos rachaduras contundentes no sistema capitalista.
Não se depreende daqui que, ao se apresentarem as condições concretas de movimentos sociais populares não se deva viabilizar e solidificar o poder transformador em marcha. Pode acontecer que em momentos críticos certas acomodações sejam efetuadas em nome do pragmatismo necessário à conquista dos objetivos revolucionários dos trabalhadores assalariados no capitalismo. Sempre se poderá debater até que ponto este “pragmatismo” é admissível e conveniente para as massas trabalhadoras, explorados e excluídos. Mas isto é a política. Como Marx e Engels escreveram: “A atitude do partido operário revolucionário, em face da democracia pequeno-burguesa, é a seguinte: marchar com ela na luta pela derrubada daquela fração cuja derrota é desejada pelo partido operário; marchar contra ela em todos os casos em que a democracia pequeno-burguesa queria consolidar a sua posição em proveito próprio”.[viii]
Muitas vezes se esquece que mesmo o maior repúdio à forma burguesa liberal, constitucional, se dá no espaço dessa democracia, mesmo a crítica mais radical, e o ato mais anárquico de inação, quanto aos poderes constitucionais disponíveis. Como em Aristóteles, o homem é um ser político, e a política sempre é um projeto de organização social para a vida coletiva que deriva de uma luta ética-política-econômica, ou, como regular pelo justo meio os direitos e obrigações de uns frente aos outros quanto às suas posições sociais e posses materiais. A omissão nunca é o vazio de fato, ela não é uma negação, o omitir-se é uma ação política positiva que favorece o establishment, tendo pouco a ver com estratégias para o fazer em espaços libertos ou autônomos e/ou para lutas das massas populares.
O “agir político” pode ser relacionado a uma série de ações cotidianas em que as pessoas decidem fazer diferente, sozinhas ou em grupo – cuidar do jardim, ler, não querer ser promovido/ ter responsabilidades, trabalhar menos horas, ajudar na horta comunitária na praça ou na esquina de nossa rua, ou participar de uma assembleia que vota a pertinência de uma greve, ou mesmo participar mais seletivamente nas redes sociais. Da mesma forma que qualquer ação revolucionária da tradição, o “agir político” tem poder de transformação naquilo que nos ofende e nos oprime, nos aliena e suga nossas vidas.
Quando não participamos, alguém participa, quando não votamos, alguém vota, quando não exercemos a cidadania, alguém o faz por nossa conta, enquanto achamos a política desfavorável alguns acham nela a melhor forma de garantir privilégios e benefícios, quando não pensamos, alguém pensará por nós. Estamos longe, muito, do dia em que o ócio criativo poderá ser “de cada qual, segundo sua capacidade”, em que cada pessoa poderá escolher livremente entre ir a uma assembleia política onde se discutirá o aumento de verbas para a educação ou saúde, ou trocar este tempo disponível para ficar em casa lendo um livro.
Enquanto esse dia não chegar, a fuga política é uma omissão irreparável. Assim se constroem historicamente as ditaduras por dentro da democracia, assim se constroem democraticamente as ditaduras (não se há de esquecer que tanto Hitler como Stalin chegaram ao poder através de processos democráticos, representativo e revolucionário).
Quando deixamos de participar em um abaixo-assinado contra a difamação de alguém injustamente perseguido, ou deixamos de participar de uma consulta pública sobre uma lei a ser votada no Congresso (não de todas, claro), abrimos mão de nossa cidadania e perdemos a oportunidade de fixar bandeiras corretas, justas e de um bom viver com liberdade e justiça. Quem sofre, de forma imediata, são aqueles que mais proteção necessitam da República. Mas todos nós seremos impactados mais tarde ou mais cedo pela “vitória da omissão”: neste caso o “mal” vence, e as ditaduras estão prestes a funcionar sobre todos, por exemplo, a ditadura dos agrotóxicos, a ditadura da expropriação de terras aos povos ancestrais e autóctones, as ditaduras dos racismos, a ditadura do trabalho explorado, a ditadura do fanatismo e do negacionismo.
Contudo, o lado mais sombrio da omissão política nas democracias é o fato singelo, nem sempre percebido, que quanto menos operamos por nossa vontade os mecanismos de sustentação participativa, do lado das sombras místicas e sangrentas cresce e fortificam-se os despotismos, as ditaduras e os sistemas totalitários. Todo despotismo e toda ditadura querem ser totalitários, da mesma forma que toda concorrência quer destruir ou assimilar os demais concorrentes – aqui apenas a transfiguração das leis de livre mercado em conformação com a política e o Estado.
Em todos os casos significativos da História em que se instauram ditaduras, atrás de todas a restrições de liberdade e ab-rogações místicas e falsidades, e violências inauditas, encontra-se um longo rastro de omissões dos que podiam ter feito alguma diferença não se omitindo, participando de pequenas ações facilmente a seu dispor, ou outras, mas marcando presença no espaço público podiam influenciar futuras decisões e o desenrolar nefasto dos fatos.
E ver-se-á que cresceu exponencialmente as convicções e as ações vis e vingativas, ódio e violência que só fez crescer, porque a omissão enviou um recado claro e concreto a essa gente desumanizada, que se nossos abaixo-assinados são pífios e se nas consultas públicas nós não fazemos a diferença, eles se julgam vencedores e meritórios de seus planos de governo e sociedade, ou seja, o despotismo irá então crescer na exata proporção em que diminui a equidade e a autonomia.
Eles “ganham”, não porque tenham mais tempo disponível ou porque são mais cônscios das pautas em disputa, mas fundamentalmente porque nós não somos comprometidos com o “agir político”. Na verdade, eles acham que ganham e passam a agir como tal, na nossa frente, enquanto encolhemos os ombros. O mal triunfa acreditando nas piores aberrações sociais e científicas, e, em muitos casos, o verbalizam explicitamente. E de tanto parecer acreditarem e de não acreditarmos, já perdemos, e normalmente quando se acorda já é bastante tarde e os momentos já são devastadores para a democracia, liberdade e justiça.
O pior para este cenário sombrio da democracia é que nela os indivíduos não vejam a validade de serem ativos em relação aos mecanismos dispostos pelo Estado; na lógica estatal, pensem apenas o quanto podem ser beneficiados ou prejudicados, participando ou não, senão de imediato, mas no futuro, diante das incertezas de governo e poder tanto do ponto de vista econômico como ideológico ou religioso[ix]. Por “medo”, executam suas escolhas e agem de acordo com o que Max Weber chamou de “ação racional com relação a fins”, cunhada por ele como “tipo ideal”, já que este tipo de ação social é a mais abrangente nas sociedades modernas (e pós-modernas): os agentes pensam nas vantagens e desvantagens diante dos riscos de suas ações com vistas a benefícios ou transtornos presentes ou futuros.
Então temos um ciclo vicioso: quanto menos as pessoas participam, mais uma gente extremista implanta suas estratégias de poder, usando de violência física ou simbólica, na pauta de valores e subjetividades, e com isto mais se tem “medo” de retaliações violentas futuras: trabalhando-se na hipótese destes indivíduos chegarem ao poder, então menos estarão predispostos a se exporem e a participarem das possibilidades a seu dispor para refrear os impulsos despóticos de extrema direita e a instauração de governos autoritários e ditatoriais.
*José Manuel de Sacadura Rocha é doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Mackenzie. Autor, entre outros livros, de Sociologia jurídica: fundamentos e fronteiras (GEN/Forense). [https://amzn.to/491S8Fh]
Notas
[i] Antes de tudo, estamos aqui a pegar o “espírito” do “agir político” e sua relação com os deveres de cidadania, sabendo-se que o título ou status de cidadania não era atribuído a muitos, como os escravos e os estrangeiros.
[ii] ROCHA, José Manuel de Sacadura. Fundamentos de Filosofia do Direito. Salvador: Juspodivm, 2020.
[iii] ARENDT, Hannah. Da violência. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1985. Trad. Maria Cláudia Drummond Trindade.
[iv] BORÓN, Atílio B. Império: dos tesis equivocadas. Crítica Marxista, São Paulo,
Boitempo, v.1, n.16, 2003, p.143-159.
[v] ARENDT, Hannah. O sistema totalitário. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1978.
[vi] Leia-se AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004.
[vii] Citado por Arendt como experiência no livro Da Violência quando alunos em minoria conseguiam impedir aulas que a maioria dizia querer. Também ADORNO, Theodor. Dialética Negativa, Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2009, com relação ao que lhe parecia falta de racionalidade e indução psicológica das massas no caso dos estudantes progressistas no movimento de 1968. Sobre o assunto, WILDING, Adrian: Flautistas de Hamelin y eruditos: sobre las últimas conferencias de Adorno. In: HOLLOWAY, John; PONCE, Fernando; VISQUERRA, Sergio (org.). Negatividad y revolución: Theodor Adorno y la política. Buenos Aires: Herramienta; México: Universidad de Puebla, 2007, p.18-36.
[viii] MARX, Karl; ENGELS, Friedrich [1850]. Mensagem do comitê central à Liga dos Comunistas (alemães). São Paulo: Editora Alfa-Ômega, s/d.
[ix] Veja-se a lógica individualista dos agentes sociais quando se trata politicamente do interesse coletivo, por exemplo, em OLSON, Mancur. A Lógica da Ação Coletiva. São Paulo: EDUSP, 1999.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA