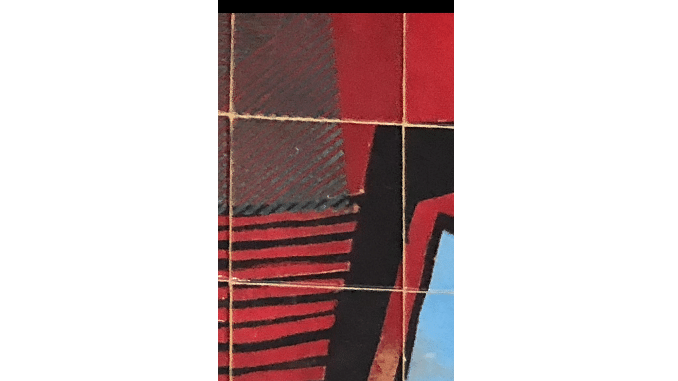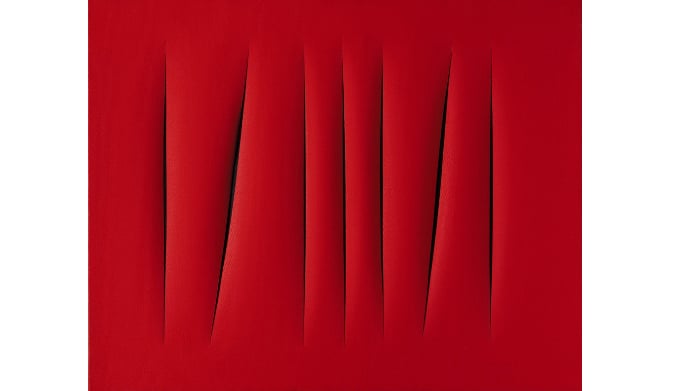Por JOÃO MARCOS DUARTE*
Comentário sobre o filme de Jean-Claude Bernardet e Rubens Rewald
Desde outubro de 2018, a qualquer um que tenha sangue nas veias e não tenha ouvidos moucos, uma pergunta não cansa de soar: “E agora, José?”. É justamente à tentativa de respondê-la, bem como investigar seus contornos, que se propõe o ensaio fílmico #eagoraoque (2020), de Jean-Claude Bernardet e Rubens Rewald.
Apesar da tentativa de sondar os fatos e o que se passa na principal figura associada à esquerda hoje, a do intelectual, trata-se de um filme de ficção, justamente por tentar captar o Real. Isso fica patente pela montagem, bem como por alguns momentos do enredo.
Quanto à montagem, o trabalho de ficção aparece com as sequências quase todas elas longas, fazendo com o que os espectadores pensem que se trata de vida vivida sem nenhuma câmera, bem como nos diferentes materiais montados – cenas combinadas, vídeos de conferências e discursos filmados pelo celular, seja do protagonista ou dos coadjuvantes –, o que por si só denuncia que não se trata de um documentário ou uma notícia de jornal.
Um dos mecanismos usados no filme para deixá-lo mais próximo do Real, são as propostas de cena sem diálogo predeterminado. A interação entre os atores é que vai determinar para onde vai a cena, grosso modo. Apesar da tentativa de captar a realidade, o roteiro existe e ele é denunciado no próprio filme: na cena do coreto, em que o intelectual protagonista Vladimir (Vladimir Safatle) está se defendendo e tentando argumentar com um homem negro da periferia (interpretado por Valmir do Côco), que esbraveja sobre a desgraça da vida e a diferença de mundos entre eles.
Em certo momento o intelectual se cala. Ele se vira para alguém que não está em cena, se desarma e diz: “eu não sei o que falar”. No take seguinte o intelectual Vladimir Safatle diz para seu parceiro de cena (que interpreta o periférico): “(…) mas eu acho que você tem razão”. Os movimentos do ator Vladimir e do ator da periferia são outros e completamente diferentes do embate encenado. Esse sim é o verdadeiro bastidor da ficção de um intelectual ensimesmado que deve sofrer (pelas mãos de seus próprios companheiros desconstruídos) o peso de não conseguir mais falar e nem ser ouvido, não as cenas que tentam pintar o backstage de um intelectual encastelado – seja em um escritório, uma sala de estar ou de aulas. Um bode expiatório montado. Um ritual narcísico.
O filme pode ser colocado em uma genealogia que começa com o clássico Terra em Transe, de Glauber Rocha. Nele, a figura do intelectual começa a ser pensada, e o transe é justamente o fato de que foi cortado o fio que começava a ser tecido entre a intelectualidade e a gente brasileira. Os anos passam e temos em Sérgio Bianchi um continuador dessa tradição, mas agora pensando o intelectual a partir do cinismo de alguém que conscientemente adere à ordem (Cronicamente inviável, 2000) ou que de militante passa a ser compensado financeiramente pelo Estado (Jogo das decapitações, 2013).
Já #eagoraoque trata dessa mesma figura na chave do desespero dos que já tinham o laço quebrado em 64 e cujos pares aderiram à ordem, que veem o Brasil que sempre esteve em frangalhos desmoronar a olhos vistos, mas que não sabem o que fazer e o que fazem é algo para eles mesmos – seja pela montagem das cenas que se sobrepõem umas às outras sem tempo para respirar, pelas propostas que pintam o intelectual incomunicável, pelos recortes de trechos de falas de lideranças de movimentos sociais tentando fazer com que o gigante acorde outra vez (por vezes levando a cabo a própria condição de saúde, “em cena”). Cada vez mais fundo o transe em que vivemos e no qual nos vemos enredados.
Ainda somos os mesmos e cada vez mais ensimesmados. Temos alguns sintomas disso. Senão, vejamos: O primeiro deles é o aparecimento, em uma das primeiras cenas do filme, de uma cena de transe protagonizada por um ator do… Teatro Oficina, o símbolo máximo do “nós pra nós” da esquerda pós-golpe.[1] O segundo é a aparição única, rápida e paradigmática do modelo de intelectual engajado do processo de redemocratização brasileiro: Marilena Chaui. De forma imponente e contagiando a todos com sua autoridade e liderança, em um evento realizado na Cidade Universitária e captado por uma câmera de celular (na vertical), para preparar a intelectualidade nascente para o que viria, logo após a vitória de Jair Bolsonaro, diz “boa noite, USP”. Corta. É o modelo de Vladimir Safatle. Se tenta replicar e atualizar o modelo sem as condições históricas que o formaram. Vivemos como nossos pais, mas num mundo diferente.
Ainda sobre genealogia, voltemos ao filme: a família representada pela filha estudante Valentina (Valentina Ghiorzi), o pai professor Vladimir e o avô veterano Jean-Claude (Jean-Claude Bernardet). A primeira representando a geração dos “que acordaram” nas jornadas de Junho e pegaram o caminho da esquerda, que reclama que o pai só vai a público quando é pra aparecer, e faz como ele: aparece filmada falando num palanque, só que uma caricatura do genitor – não tem o que dizer, apenas esbraveja contra tudo a um grupo de estudantes provavelmente seus colegas; em outro momento, aparece num pequeno auditório onde canta como uma artista em transe sem contato com o público (voltou a quarta parede!), acompanhada ao piano pelo… pai.
O pai Vladimir, o próprio intelectual que quer dar um passo além, mas não consegue sair de suas experiências de pensamento (uma das hipóteses que podem ser usadas para interpretar o filme é a de que tudo o que acontece se passa na cabeça do protagonista), já no Brasil do “ocaso dos bacharéis”; que quer uma revolução, mas que não a quer como até hoje foram feitas. Já o avô Jean-Claude, tenta reativar de algum modo o ímpeto do Brasil pré-1964.
Essa figura é interessante, pois nos lembra o já citado Terra em Transe: é a única personagem que, apesar de todos os pesares, ainda tenta contra a atual ordem das coisas. À semelhança do clássico de Glauber, assim como Paulo Martins, pega em armas, mas na ora do “vamo vê”, não mira em seus alvos “reais” (em 1967, atira para o céu, em 2020, em um alvo de papelão). Outra semelhança: É o único que tem contato direto com aquele que deve combater – em 1967, com a classe dominante obscurantista, e em 2020, com os jagunços que se emancipam.
Tanto ontem como hoje, a solução? O trabalho de base. Como fazer isso? Indo até lá! O filme faz dois experimentos a esse respeito.
O primeiro deles é a conversa entre Matilde/ Palomaris (Palomaris Mathias) e Dona Lu. A primeira, uma mulher negra estudante universitária, parceira intelectual do protagonista. Talvez esse seja o momento de maior realidade no filme. Um diálogo entre uma mulher que precisa de recursos para empreender e alguém que tem o dinheiro para investir. A cena se inicia após Palomaris chegar de uma conversa com o “conselho”, que decidiu dar parte da quantia desejada pela participante, fazendo-a sofrer e se humilhar para pedir um pouco mais, o que lhe foi negado, obviamente. A diretoria e os critérios para a sua seleção, bem como para a decisão da quantia de valor não são declarados, como nunca no mundo fora da tela do cinema. A intelectual, representante de uma classe que controla o fluxo de caixa. A sentença à empreendedora: aceite e faça o seu melhor. Em verdade, um microcosmo das décadas de 1994-2014.
O segundo é o momento em que Vladimir senta para conversar com a periferia, em uma sala rodeada de homens e mulheres interpretando pessoas periféricas. Em primeiro lugar, temos um ambiente esterilizado: uma sala de aula em círculo, sem nenhum ruído, somente a fala do professor e seus interlocutores – o habitat natural do intelectual. Não precisamos sair do mundo do cinema para ver que há algo de errado: é só prestar atenção ao microfone aberto dos filmes de Adirley Queirós e Affonso Uchoa para perceber que o ambiente dito periférico tem trilha sonora, e ela não é incidental – são, em maior quantidade, funks e gospel e em terceiro lugar os raps, além de muito ruído.
Além disso, em termos do conteúdo das falas das personagens na sala-experimento, temos uma periferia “aculturada”: os jargões usados, os esquemas, os maneirismos, as respostas são aquilo que ouvimos em conversas de corredores de universidades públicas, cujo conteúdo é passível de uma história das ideias que começa no Norte do Mundo na segunda metade do século 20. Apesar do regionalismo, o idioma é o mesmo, é aquilo que se convencionou chamar “identidade” e “lugar de fala”. Ou seja, um debate estritamente universitário. Não é o debate de uma intelectualidade com uma periferia. Justamente, um filme de ficção, a ficção de uma intelectualidade que acredita estar debatendo alguma coisa com alguém e, todavia, continua testando suas próprias hipóteses e argumentos.
#eagoraoque tenta, como dissemos, responder às perguntas que nos fizeram perder o rumo e continua cada vez mais distante de seu objetivo.
Talvez o grande motivo desse desespero todo se deva ao erro da pergunta que deveria ser feita, para então perseguir uma resposta, no caso, pela via da arte. Aqui vai mais uma hipótese: ao invés do progressista “onde erramos? Como fazemos para retomar o processo?” deveria se fazer a pergunta “desde quando nos tornamos parte do problema?”. É aí que está a verdadeira questão e que é a verdadeira mudança dos tempos de outrora para a terra arrasada de hoje. Quando do golpe de 64, o PCB, então principal figura da esquerda, diante da qual toda ela girava em torno, teve seus erros. Ocorre que sempre se contrapôs à ordem. Pagou por isso. A esquerda de agora, cuja figura de proa é o PT, é ela mesma parte do problema, aderiu aos “rituais de sofrimento”[2] diários, por isso sua desmoralização desde quando tudo isso foi profanado. Segundo André Singer, vale lembrar, o lulismo é um pacto conservador. Ora, se estamos todos em torno dele (seja para afirmá-lo, seja para dizer que “não é o bastante”), estamos no limiar de contágio desse pacto. Somos parte do problema que se tornou o Brasil-ornitorrinco. Quem sabe, mudando a pergunta, tenhamos outras respostas artísticas e melhores dias para a esquerda e para aqueles a quem ela quer bem.
*João Marcos Duarte, ator e fonoaudiólogo é doutorando em linguística na Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
Referência
#eagoraoque
Brasil, 2020, 70 minutos
Direção e roteiro: Jean-Claude Bernardet e Rubens Rewald
Fotografia Andre Moncaio
Montagem Gustavo Aranda
Elenco: Vladimir Safatle, Palomaris Mathias, Jean-Claude Bernardet.
Notas
[1] Sobre isso, conferir o incontornável “Cultura e política 1964-1969”, de Roberto Schwarz, publicado na coletânea O pai de família e outros ensaios (São Paulo: Paz e Terra, 1979).
[2] Cf. a esse respeito o também incontornável Rituais de Sofrimento, da socióloga Silvia Viana (São Paulo: Boitempo, 2013).