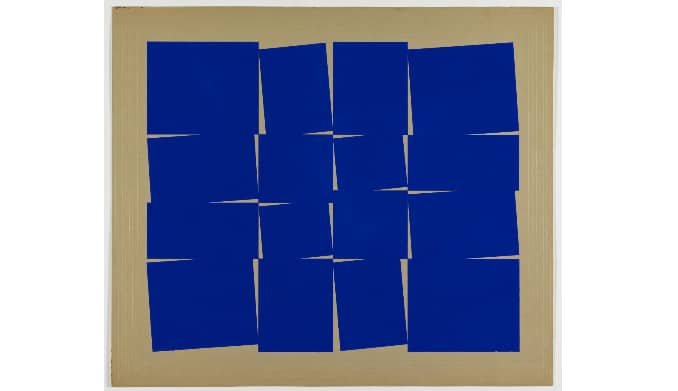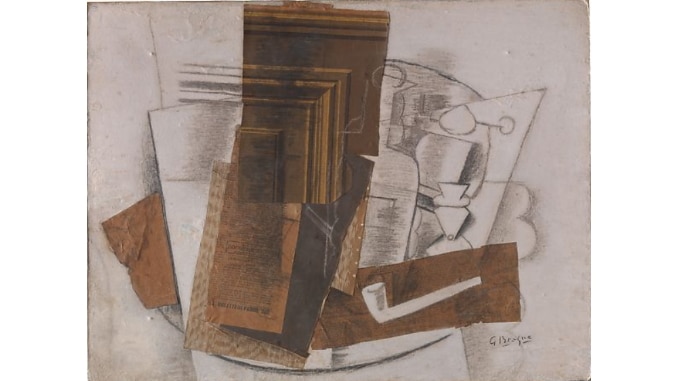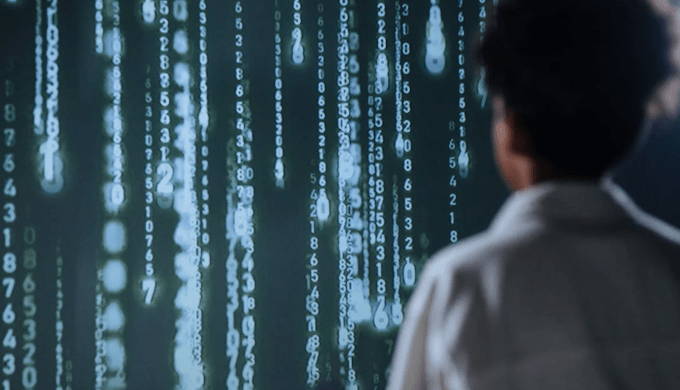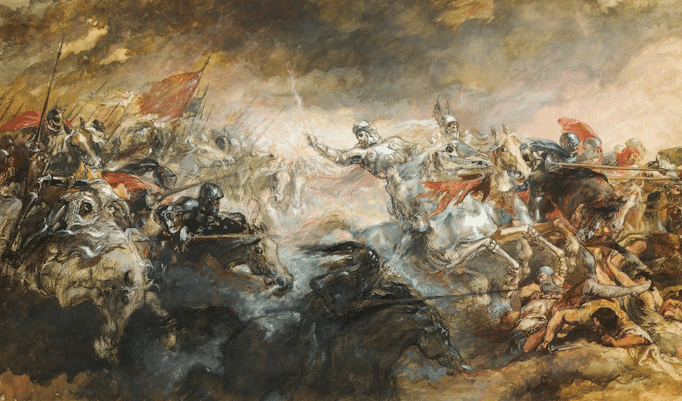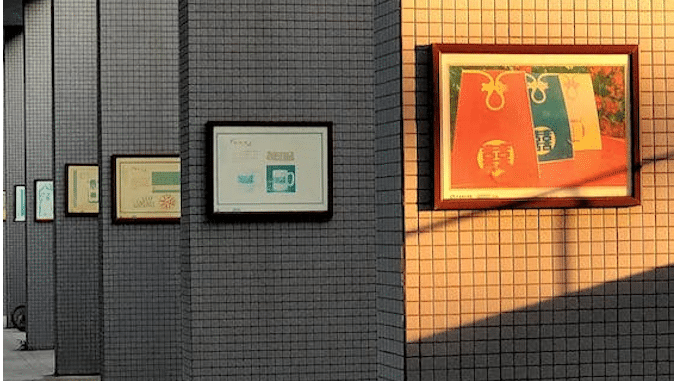Por MARIO LUIS GRANGEIA*
Comentário sobre os livros “Feminista, eu?” e “Canto de rainhas”
A professora e crítica literária Heloisa Buarque de Hollanda dedica o novo livro Feminista, eu? Literatura, Cinema Novo, MPB a “Rachel de Queiroz, que tinha verdadeiro pavor de ser reconhecida como feminista. Perdeu, Rachel! Saudade tanta”. Sua dedicatória é curiosa ignição ao livro. Diante dela e do ótimo título, indago-me: “a identidade ‘feminista’ seria autodeclarada, como a ‘cor’ no censo do IBGE, ou atribuível por terceiros?”. A remetente e a destinatária da dedicatória divergiriam. Sem saber opinar, tatearei ideias neste texto.
Trago nova citação agora… de Canto de rainhas: o poder das mulheres que escreveram a história do samba, onde o jornalista e roteirista Leonardo Bruno retratou as sagas de Alcione, Beth Carvalho, Clara Nunes, Dona Ivone Lara e Elza Soares e os exemplos de outras sambistas. Conclui o autor, que admiro também como amigo, quase ao fim: “elas usaram a voz para embalar nossas alegrias, mas antes foram as vozes de todas as mulheres desse país, demonstrando como era possível enfrentar as dificuldades criadas por um mundo dominado pelas figuras masculinas”. A voz delas seria mesmo de todas? (Única certeza: vou citar os autores pelo nome em vez de um distanciador sobrenome.)
Mais que donas da voz, porta-vozes do feminismo
Feminista, eu? revisita escritoras, cineastas e musicistas cujo trabalho nos anos 1960-80 “atravessou barreiras, encarou alguns clubes do Bolinha e disse o que quis dizer”. Daí a autora vir mapear obras com influências recíprocas com o feminismo, tivessem as artistas autoimagem feminista ou não… Só ativistas tinham e até progressistas como os de O Pasquim as diziam masculinizadas, mal-amadas, perigosas, feias ou indesejáveis.
A expressão de ideias e atitudes feministas é realçada inicialmente na prosa, como a de Carmen da Silva, Lygia Fagundes Telles e Marilene Felinto, e em poetas como Adélia Prado e Ana Cristina Cesar. Quando o feminismo ficou mais visível no Brasil, há menos de meio século, mulheres escritoras já eram reconhecidas e ecoavam preocupação com a condição da mulher. Já no Cinema Novo, as mulheres encontraram espaço para criar mais à frente que atrás das câmeras. Heloisa realça a crescente produção de filmes de diretoras na metade final do século XX, retratando tal novo papel delas nesse mercado.
Na música, brasileiras tradicionalmente foram mais cantoras que compositoras. É deste papel que Heloisa trata mais, o que é bem-vindo dada a menor valorização desta faceta até entre intérpretes-compositoras. Nem por isso Elis Regina e Nara Leão deixam de ter destacadas sua postura feminista – nítida a todos – durante a ascensão do movimento. Nara foi até decisiva para projetar Sueli Costa ao gravar sua “Por exemplo você”; e Sueli não ergueu bandeiras, mas musicou canções com referências vanguardistas à mulher.
A primeira compositora feminista foi Joyce Moreno que, em 1967, colheu vaias por “Me disseram” (“Já me disseram/ Que meu homem não me ama/ Me contaram que tem fama/ De fazer mulher chorar”). Depois, veria “Não muda não” obter sucesso popular e críticas por sua “anti-Amélia”, segura, pedir para seu homem não largar a boemia (“Eu sozinha na minha cozinha/ Esperando a vizinha pra conversar/ E você tá desaparecido/ Com algum amigo em qualquer bar/Mas, por favor, eu não quero te mudar”). Precursora.
Uma década depois, a MPB viveu um despontar de compositoras como Angela Ro Ro, Fatima Guedes, Joanna, Marina e Sandra de Sá. “Todas com estilos bastante diferentes, mas convergindo na necessidade de falar (cantar) abordando questões de mulheres”, destaca Heloisa. “Contudo o ambiente da MPB continuava muito masculino”. No rock e no samba, não foi diferente, com Rita Lee e Leci Brandão ilustrando a minoria.
Feministas além de sambistas
Canto de rainhas, já em seu subtítulo (“o poder das mulheres que escreveram a história do samba”), dá ênfase à inserção de cantoras nesse meio de predomínio masculino que é o samba. Certas imagens traduzem bem isso, como no encarte do LP De pé no chão (1978), clássico onde Beth Carvalho inovou ao lado de sambistas do Cacique de Ramos: esta filha das elites cariocas é a única mulher numa foto com 18 homens. A exemplo de Heloisa, Leonardo realça a presença minoritária de mulheres, mas, sobretudo, sua voz.
Alcione, Beth, Clara, Ivone e Elza entraram num estilo em que mulheres eram tidas mais como musas que profissionais – no esporte, vê-se mais tal vício no vôlei feminino. Clara Nunes teve a feminilidade frisada até no nome do show Poeta, moça e violão, enquanto Vinicius de Moraes e Toquinho eram aludidos por suas artes. “Ela não foi descrita como ‘a voz’ ou ‘o canto’. Ela está lá simplesmente por… ser mulher! Como se tivesse função decorativa, para ‘embelezar’ o palco”, avaliou Leonardo, num lamento além de gêneros.
Em tempos de cantoras preteridas pela imprensa que inventavam romances para serem notícia, a Clara pré-best-seller rompeu tal ciclo junto com seu produtor e primeiro marido Adelzon Alves. Até casais sem fake news, como Elza-Garrincha, rendiam especulações do tipo ela-gasta-dinheiro-dele (era o oposto entre eles) ou ela-explora-publicidade-dele – seu brilho é próprio, tendo sido um exemplo pelo que viveu e pelo que cantou, como notou o autor ao lembrar “A carne” (“A carne mais barata do mercado é a carne negra”).
Carreiras sólidas não blindaram “rainhas” de barreiras do machismo estrutural correntes entre “súditas”. Há vários exemplos, mas cite-se como a pesquisadora Jurema Werneck leu uma ambivalência da imagem da mulher em “A loba” (“Adoro sua mão atrevida/ Seu toque, seu simples olhar já me deixa despida”), clássico na voz de Alcione: “Apesar de descrita como lutadora e potente, (…) a mulher nesta música parece não deslocar seu olhar para fora da relação homem e mulher, nem contesta seus privilégios. Apenas reivindica um bom tratamento”, disse na tese de doutorado citada pelo jornalista. E Beth chegou a pedir a Jorge Aragão um samba “antimachista”, sem falar mal de mulher – a carioca fez boa dedicatória do disco No pagode (1979) a pioneiras do samba de pagode.
O ritmo mais cadenciado da carreira de Dona Ivone Lara ilustra as agruras de mulheres. Em parte, por compositoras naquela cena serem mais figurantes (ghost writers no início dela) que protagonistas e coadjuvantes. Em parte, por ter na música um projeto paralelo ao trabalho na enfermagem e serviço social, sua fonte de renda, e à vida familiar, enlace responsável por adiar sua projeção e pelo “dona” que antecipava o estado civil da artista. Bom ponto do autor foi atribuir esse retardo à sociedade – e não a “A” ou “B” – machista.
Ecos sem limites
O epílogo de Leonardo sobre seu (não-?)“lugar de fala” ao perfilar mulheres tece diálogo involuntário com o início de Heloisa, sobre um (pré-?)”lugar de fala” de artistas mulheres. Ao fim das leituras, damos graças por integrarmos uma sociedade mais plural que antes.
E vou além: dou razão à expansão extemporânea do rótulo “feminista” não só a Rachel de Queiroz e concordo que vozes como a de Alcione ou Elza ecoaram outras mulheres. Para nosso bem e de toda a sociedade, eis vozes eternas, pois seu eco não tem limites.
*Mario Luis Grangeia é doutor em sociologia pela UFRJ. Autor, entre outros livros, de Brasil: Cazuza, Renato Russo e a transição democrática (Civilização Brasileira).
Referências
Leonardo Bruno. Canto de rainhas: o poder das mulheres que escreveram a história do samba. Rio de Janeiro Agir, 2021, 416 págs.
Heloísa B. de Hollanda. Feminista, eu? Literatura, Cinema Novo, MPB. Rio de Janeiro Bazar do Tempo, 2022, 224 págs.