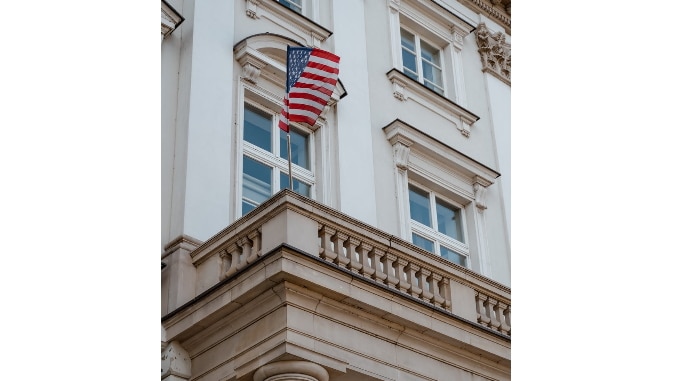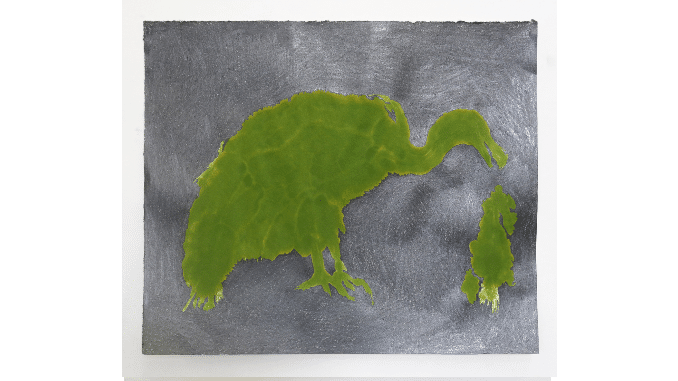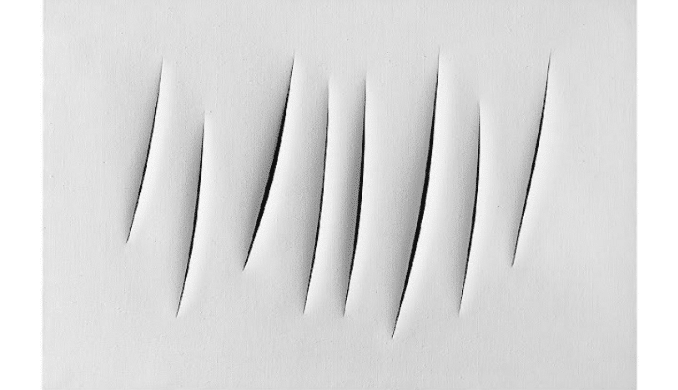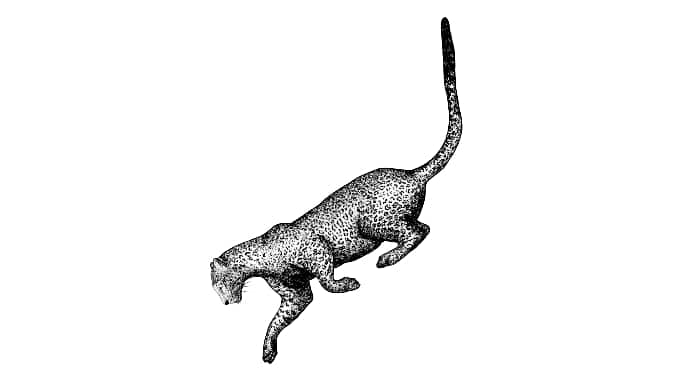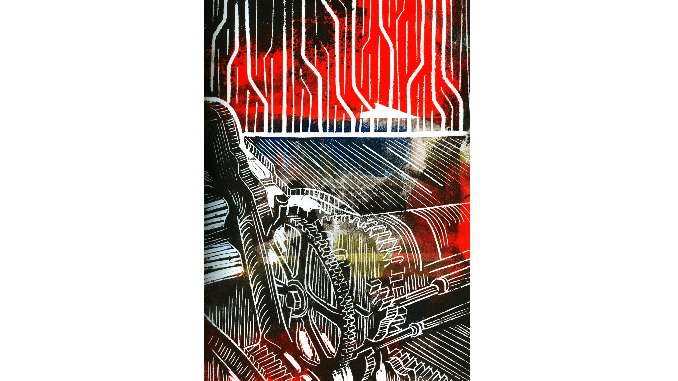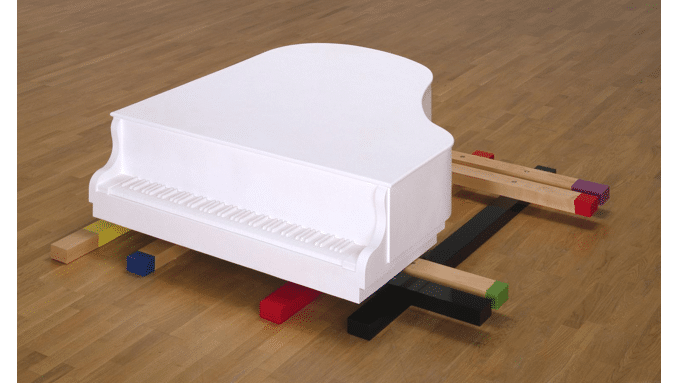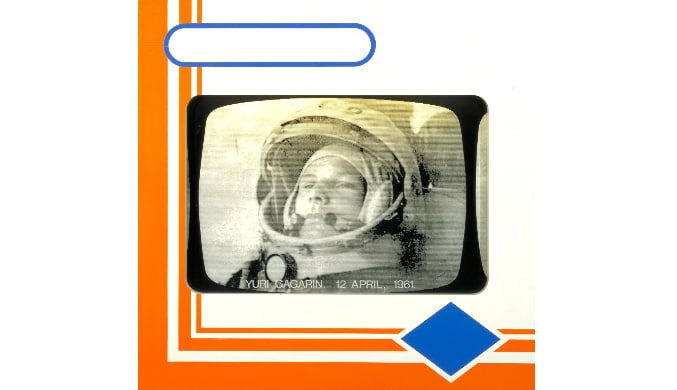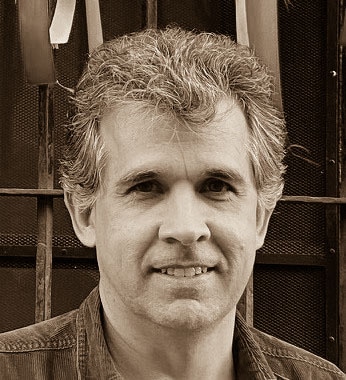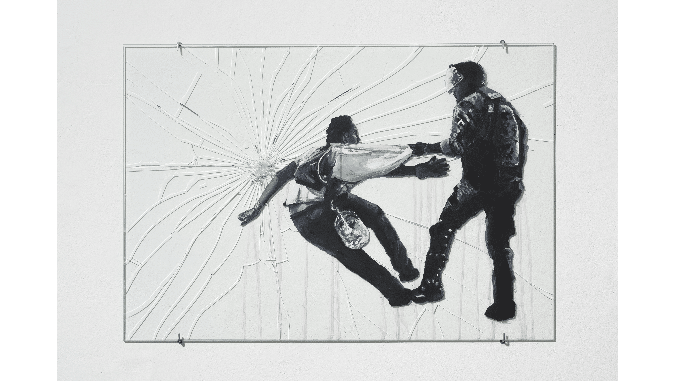Por WOLFGANG LEO MAAR*
Comentários sobre o livro, considerado um clássico da sociologia brasileira
Crítica e resignação – Fundamentos da Sociologia de Max Weber (WMF Martins Fontes), de Gabriel Cohn, é um livro indispensável, o que costuma ser chamado de “clássico”: é admissível discordar, em parte ou mesmo no todo; mas é impossível ignorar a maestria na composição da cadeia argumentativa em seu contexto, a conferir vida própria à obra uma vez escrita.
Vale, em primeiro lugar, pela erudição em seu conteúdo, ao (re)construir a sociologia weberiana em vez de relatar a sociologia de Weber. Essa perspectiva, de uma história e não de uma historiografia da sociologia, permanece, em que pese toda a bibliografia posterior, que não tenho condições de acompanhar.
Para além disso, sua importância está no modo de abordar autores e temas conforme uma trajetória formativa original, sustentada num sofisticado posicionamento de contrapontos e tensionamentos de conceitos e significados, que se dissolvem para tornar a se dispor mais à frente, rumo ao pensamento de Weber e Marx. Gabriel acompanha o pensamento no curso próprio de cada autor, sem a modulação por perspectivas pressupostas. Tome-se nesse sentido o último capítulo, cujo título – “As Armadilhas da Coerência” – prenuncia o difícil lugar no mundo de um pensamento voltado simultaneamente ao conhecimento e à ação.
Ali se desenvolve o que pode ser chamado “arquitetura filosófica” do pensar social. É exemplar o modo pelo qual revela como o abandono de critérios de validade universal não conduz ao relativismo, na medida em que Weber confere destaque à responsabilidade dos agentes pelas consequências de sua ação, o que, por sua vez, evolui no contexto da contraposição entre autonomia e determinação, que leva, por fim, a decifrar “duas acepções distintas de determinação”: a de Weber e a de Marx.
Vale perguntar: não haveria aqui também duas acepções distintas de “sociedade” a diferenciarem os dois autores? A de Weber procura apreender a sociedade como estabelecida, numa relação de exterioridade com seu momento determinante, que não compartilha o plano da sociedade. A de Marx se baseia na sociedade como processo em sua totalidade, incluindo seus determinantes internos: uma sociedade apreendida dinamicamente no processo de sua própria produção.
Por fim, talvez o mais memorável seja uma linguagem que, para além de ser instrumento ou meio, constitui uma prosa sociológica a se expressar em formulações precisas, afinadas e potentes, cunhadas com sutilezas delicadas, mediante as quais são recorrentemente polidas as categorias com os seus significados. Procede conforme um esprit de finesse que constitui – ou deveria ser – parte fundamental do próprio fazer sociológico, sempre atento às dificuldades terminológicas do pensamento social e à elaboração conceitual para suspender as mesmas. Impõe uma leitura que não pode ser “ao pé da letra”, como adverte o autor, pois deve dar conta da dinâmica da construção categorial condicionada por uma época, com seu ideário e sua reflexão, formada pela sociedade capitalista e seu pensamento liberal-burguês.
A resignação adquire clareza em contraponto com a crítica e vice-versa; assim Adorno está presente como interlocutor. Mas há mais: em entrevista muito esclarecedora a Ricardo Musse e Stefan Klein, publicada na revista Tempo Social, comprova-se uma suspeita antiga: Crítica e resignação é um livro adorniano sobre Weber.
Melhor acompanhar pelas palavras do próprio Gabriel. “Na minha perspectiva pessoal, a principal contribuição de Adorno naquilo que se aplica a sociedades como a nossa consiste na valorização do pensamento fino, capaz de surpreender tendências onde estão mais ocultas, às vezes em recantos inesperados da vida social, porém nem por isso menos eficazes (…) é o melhor incentivo para realizar na reflexão e na pesquisa um lema que para mim vai se tornando imperativo. A saber, que, quanto mais bruta é a sociedade que nos importa conhecer mais fina deve ser a análise. Isso, desde que nosso propósito seja adicionar conhecimento novo e eventualmente imprevisto, ao invés da mera reprodução do objeto com sinal invertido no discurso”.
O referido acima converte o autor, por Crítica e resignação e outras obras, na mais sofisticada expressão intelectual viva da elaboração teórica na sociologia no Brasil.
O autor e sua obra
Conheci a obra bem antes do autor, quando me debruçava sobre os escritos de “juventude” de Georg Lukács, no trabalho que resultaria em minha tese “A Formação da Teoria em História e Consciência de Classe”, de cuja banca Gabriel participou. Como a formação do húngaro passou por Weber, procurei obras de apoio para orientar essa busca. Desde logo, simpatizei com a sua recusa em ver indicações que possibilitavam algo como um “marxismo weberiano”. Parecia algo forçado, que desde aquela época atribuí a uma certa leitura posterior de Lukács – que procuraria envolver Habermas, por exemplo – do que propriamente a parentescos intelectuais. Mas o livro me fez perceber que, embora sem parentesco, havia, contudo, uma “afinidade eletiva” entre categorias e sua posição na realidade social, embora com caráter nitidamente diferente. Assim ocorreu entre racionalização e reificação, a rigor duas acepções de “racionalização” como categoria social e histórica. Uma com o fim do sujeito do conhecimento em Weber e outra com objetivo operacional do sujeito histórico para Lukács, cujo alvo era justamente uma teoria que unificasse ambos.
Depois disso, estive com Gabriel Cohn em vários eventos acadêmicos. Um em especial contribuiu para movimentar meu interesse central de Lukács à Teoria Crítica. Num seminário na Unicamp dedicado aos 75 anos de publicação de História e Consciência de Classe– publicado com o título Lukács: um Galileu no séc. XX (Boitempo) – na discussão de uma mesa em que expusera ressalvas à Teoria Crítica e a Adorno pelo que considerava ser um abandono da questão do trabalho social, ele advertiu para a necessidade de aprofundar o tema.
Era a passagem do trabalho social à formação de sujeitos históricos que estava em questão, contexto que exigia diferenciar tendências distintas na vertente crítica do marxismo a respeito do que se poderia denominar razão objetiva e razão subjetiva. Demorei para acompanhar esse problema em todas as suas dimensões. Meu texto seguinte, “A centralidade do trabalho social e seus encantos” no seminário “Horizontes da Sociologia no séc. XXI”, igualmente publicado pela Editora Boitempo, é um ajuste de contas que, a partir de então, norteou minhas preocupações e elaborações intelectuais.
Um pensador social e do social da estatura de Gabriel Cohn se apresenta em toda sua relevância na hora de fazer as perguntas que organizam a reflexão e a investigação. Na abertura escrita para a Introdução à sociologia de Adorno, publicada pela Editora UNESP, há uma preciosidade que resume essa perspectiva. Como qualificar o pensar? O que deve estar em pauta não é apenas manter o ofício do pensar, mas caracterizá-lo como “pensar além”, adiante. Cabe compreender esse lema em dois registros: ao mesmo tempo como antecipação de tendências e suas inflexões pela via intelectual, é claro; porém com muita ênfase na direção da elaboração categorial, do necessário dinamismo a exigir a retirada do contexto conceitual de uma função de peça explicativa já consolidada e fixada, frequentemente um tanto exaurida e a exigir ajustes. A crítica só passa a ter um papel na negação do vigente quando não nos resignamos à sua própria forma já estabelecida. Esse é o verdadeiro sentido em que Gabriel Cohn e Adorno se identificam.
Fundamental mesmo, contudo, é o ponto de vista que, afinal, é o responsável último para distinguir resignação e crítica. Talvez seja, a seu ver, o maior elogio a merecer. O ponto de vista que nosso autor nomeia como uma sociologia plebeia, comprometida com a perspectiva popular, tal como a de Florestan Fernandes, Octavio Ianni, Chico de Oliveira. E Gabriel Cohn…
*Wolfgang Leo Maar é professor titular aposentado do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
Publicado originalmente no blog da Biblioteca Virtual do Pensamento Social.
Referência
Gabriel Cohn. Crítica e resignação – Fundamentos da Sociologia de Max Weber. São Paulo, WMF Martins Fontes.