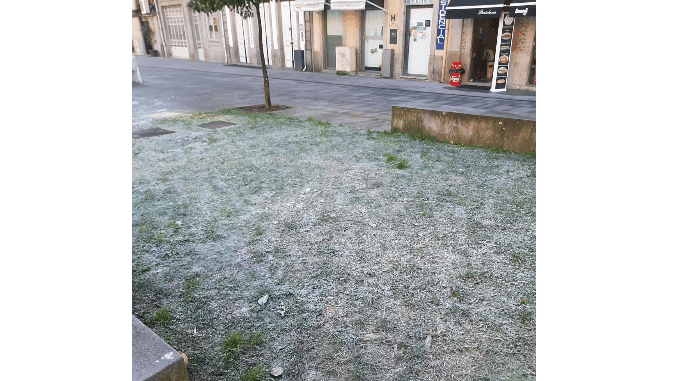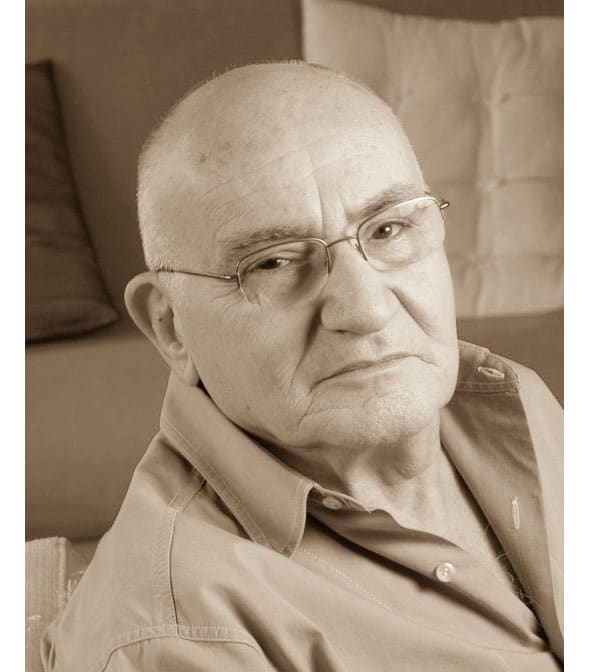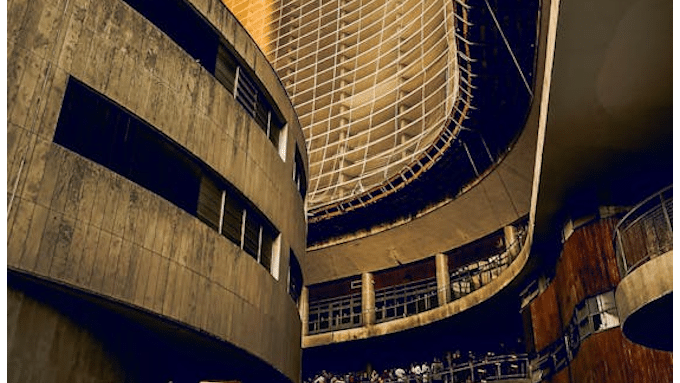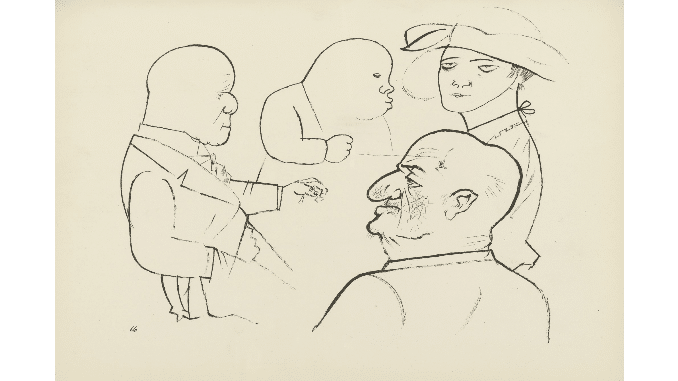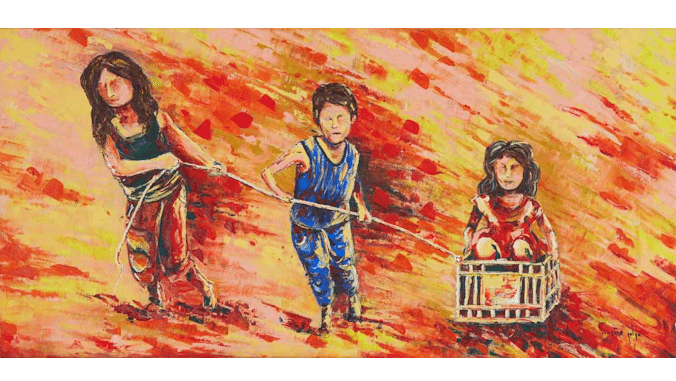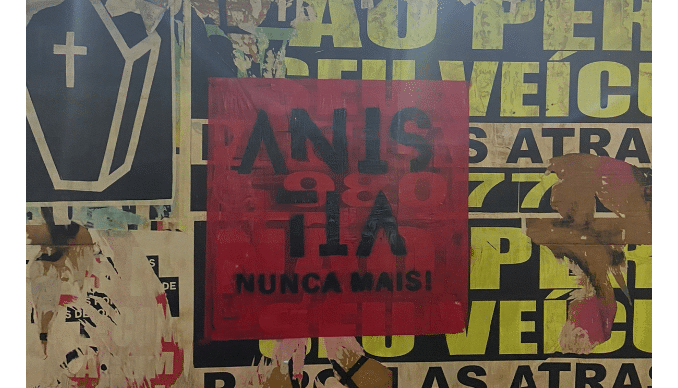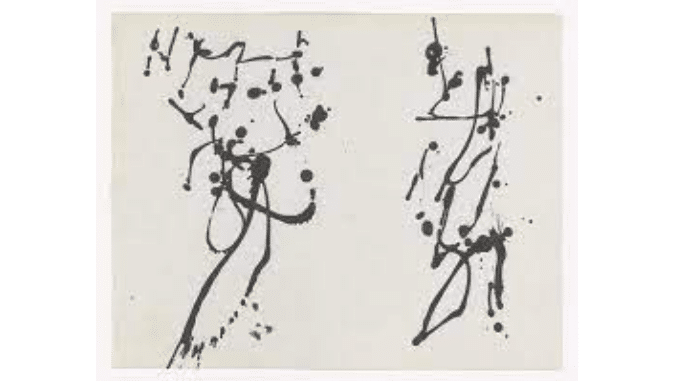Por FRANCISCO TEIXEIRA*
A genialidade crítica de Marx reside em demonstrar como a troca equivalente entre capital e trabalho, analisada em sua totalidade e continuidade, converte-se dialeticamente em seu oposto: a apropriação de trabalho não pago
Conquistas e incoerências teóricas da economia política clássica
Karl Marx deve à economia política clássica o trabalho de redução analítica por ela realizado, que consistiu em demonstrar que as diferentes formas da riqueza capitalista (salário, lucro, renda e juros) derivam de uma única fonte: o trabalho.
É a partir daí que Adam Smith e David Ricardo mostram que as rendas do industrial, do proprietário de terra e do prestamista têm como origem comum o trabalho excedente realizado pelos trabalhadores empregados na produção do valor. Descobrem, portanto, o que se oculta sob as formas aparentes da riqueza: o trabalho como única fonte de valor.
Nessa redução analítica, entretanto, os economistas clássicos cometem certas incoerências e deficiências teóricas. Que o diga Marx, para quem “a economia clássica procura pela análise reduzir as diferentes formas de riqueza, fixas e estranhas entre si, à unidade intrínseca delas, despojá-las da configuração em que existem lado a lado, independentemente uma das outras; quer apreender a conexão interna que se contrapõe à diversidade das formas da aparência. Por isso, […] reduziu à forma única do lucro todas as formas de renda (revenue) e todas as figuras independentes que constituem os títulos sob os quais os não-trabalhadores participam do valor das mercadorias. E o lucro se reduz a mais-valia, uma vez que o valor na mercadoria na mercadoria inteira se reduz a trabalho […]. Nessa análise, a economia clássica se contradiz em certos pontos, com frequência de maneira direta, sem elos intermediários, tenta empreender essa redução e demonstrar que as diferentes formas têm a mesma fonte. Mas isso é consequência necessária do método analítico com que a crítica e a compreensão têm de iniciar-se […]. Por fim, a economia clássica é falha e carente ao conceber a forma básica do capital – a produção destinada a se apropriar de trabalho alheio – não como forma histórica e sim como forma natural da produção social, e sua própria análise abre caminho para que se destrua essa concepção” (Marx, 1980, V.III, p,1540).
Quais são, então, as contradições apontadas por Karl Marx em que se viu enredada a economia política clássica? A resposta exige uma leitura atenta da teoria do valor em Adam Smith e David Ricardo.
Adam Smith e o segredo da produção da mais-valia
No final do capítulo IV do “Livro Primeiro” de A Riqueza das Nações, Adam Smith antecipa os passos mediante os quais pretende desvendar a “conexão oculta” de que fala Karl Marx. Seu raciocínio se desenvolve aproximadamente assim: após investigar, nos capítulos anteriores, as causas do crescimento da riqueza das nações e sua natureza – isto é, o aprimoramento das forças produtivas e a mercantilização da riqueza – , Adam Smith indaga quais são as regras que determinam o valor relativo, ou valor de troca, das mercadorias, para então mostrar: (i) qual é o critério ou medida real desse valor; (ii) quais são as diferentes partes que constituem esse preço real; e (iii) quais são as circunstâncias que fazem esses componentes subir acima ou cair abaixo do preço natural ou normal.
Definido o caminho que o leva à descoberta da fisiologia interna do sistema, Adam Smith abandona o mundo fenomênico das trocas mercantis e dirige-se ao coração da produção, onde investigará a essência do valor: o trabalho humano.
Para tanto, desafia seriamente “tanto a paciência quanto a atenção do leitor: sua paciência, pois examinarei um assunto que talvez possa parecer desnecessariamente tedioso em alguns pontos; sua atenção, para compreender aquilo que, mesmo depois da explicação completa, talvez ainda possa parecer obscuro. Estou sempre disposto a correr o risco de ser tedioso, visando à certeza de estar sendo claro; e, após fazer tudo o que puder para ser claro, mesmo assim poderá parecer que resta alguma obscuridade sobre um assunto que, aliás, é por sua própria natureza extremamente abstrato” (Smith, 1985, p. 61).
O convite de Adam Smith não é nada animador. Contudo, para compreender as contradições teóricas presentes em sua teoria do valor, não há outro caminho senão aceitar o desafio e acompanhá-lo na jornada que vai da superfície imediata dos fenômenos econômicos até a essência do sistema, onde se revela a substância oculta – o trabalho – que subjaz às formas aparentes da riqueza capitalista (salário, lucro, juro e renda da terra).
É um caminho longo e, de fato, tedioso. Começa no capítulo V, onde Adam Smith investiga a formação do preço real (em trabalho) e do preço nominal das mercadorias (em dinheiro). A análise inicia afirmando que o preço real das mercadorias é determinado pela quantidade de trabalho necessária à sua produção. Pouco depois, contudo, afirma que é mais natural e fácil estimar o valor das mercadorias em ouro e prata.
Ocorre que o valor desses metais também varia e, portanto, não constituem uma boa medida do valor de troca. Adam Smith resolve então substituí-los pelo trigo, entendido como expressão do salário de subsistência do trabalhador. Embora o valor do trigo varie, como o de qualquer mercadoria, o autor de A Riqueza das Nações conclui, após longos e tortuosos “vai e vens”, que o trabalho – não em sua quantidade, mas em seu valor (o salário), expresso em trigo – é a única medida universal do valor das mercadorias.
Essa análise, porém, é apenas descritiva. Ela não mostra como se chega de fato à fonte do valor, o trabalho. A solução aparece no capítulo seguinte (capítulo VI), quando Adam Smith lança mão de uma hipótese que descreve um mundo ideal, no qual o valor dos bens é determinado pela quantidade de trabalho necessária à sua produção e a troca se dá de acordo com o princípio da equivalência. Nesse mundo hipotético, reinam a liberdade, a igualdade e a propriedade de forma absoluta.
Se, nesse mundo ideal, o trabalho é a fonte de valor, deve sê-lo também no mundo real. Adam Smith só precisava fazer a passagem desse universo imaginado para a realidade histórica, em que a sociedade se divide entre os detentores dos meios de produção e aqueles que possuem apenas sua força de trabalho para vendê-la no mercado.
Infelizmente, Adam Smith não consegue realizar com êxito essa passagem. Tropeça em sérias dificuldades que o levam, em seguida, a cair em contradições. Descobre que a troca entre capital e trabalho não obedece ao princípio da equivalência. Ora, se esse princípio não se aplica à relação entre capital e trabalho, como sustentar que as mercadorias se trocam na proporção do tempo de trabalho nelas incorporado?
Sem conseguir resolver essa questão, Adam Smith passa a utilizar duas definições de valor. Numa, argumenta que o valor das mercadorias é proporcional às quantidades de trabalho nelas incorporadas; noutra, sustenta que seu valor é determinado pela capacidade que tem de comandar trabalho vivo.
Ora, quem afirma que o valor de um objeto é determinado pelo quantum de trabalho necessário à sua produção e, em seguida, sustenta que esse mesmo valor é determinado pelo trabalho que pode comprar ou comandar, incorre em contradição. E pior: fazer do trabalho (do salário do trabalhador) a medida do valor das mercadorias significa tomar o valor do trabalho (o salário) como medida dos valores. Dessa forma, Adam Smith acaba por encerrar sua teoria do valor em um círculo vicioso: o valor determinando o valor.
David Ricardo e a reconstrução da teoria do valor
É então que David Ricardo entra em cena para afirmar, em alto e bom som, que o valor das mercadorias é determinado pelas quantidades de trabalho nelas incorporadas. Suprime, assim, o conceito de valor comandado, segundo o qual o valor das mercadorias seria determinado pelo valor do trabalho, isto é, pelo salário. Ao proceder desse modo, David Ricardo não apenas elimina as contradições de Adam Smith, como também livra a teoria do valor daquele círculo vicioso há pouco referido.
Partindo do princípio de que a quantidade de trabalho despendida na produção é a única medida do valor, David Ricardo se dedica a investigar até que ponto as diversas formas da riqueza (lucro e renda da terra) correspondem diretamente a esse princípio ou dele se afastam. Começa censurando Adam Smith por ter restringido a aplicação do princípio de que o valor é determinado pela quantidade de trabalho necessária à produção unicamente “àquele primitivo e rude estado da sociedade em que antecede tanto a acumulação de capital como a apropriação da terra, como se, quando tiverem de ser pagos lucros e renda da terra, estes tivessem alguma influência sobre o valor relativo das mercadorias” (Ricardo, 1985, p. 49).
E prossegue em sua reprovação: “Adam Smith, no entanto, não analisou em lugar algum os efeitos da acumulação de capital e da apropriação da terra sobre o valor relativo”. É importante, todavia, determinar em que medida a acumulação de capital modifica aquele princípio segundo o qual o valor é determinado pela quantidade de trabalho, como argumenta David Ricardo (Ricardo, 1985, p. 49).
Ao empreender tal investigação, David Ricardo descobre que capitais de mesma magnitude, que deveriam receber o mesmo montante de lucro, apresentam lucros diferenciados. Ora, isso contraria a lei da concorrência, segundo a qual deve haver uma taxa geral de lucro para toda a economia, pela qual todos os capitais são remunerados. Consequentemente, dois capitais de igual magnitude não teriam motivo para obter lucros diferentes; no entanto, obtêm. Isso ocorre porque, segundo Ricardo, quando possuem composições distintas, são remunerados de maneira desigual.
Conclusão: a investigação de David Ricardo sobre os efeitos da acumulação de capital sobre o valor relativo lançou a teoria do valor em uma verdadeira aporia: ou se preserva a lei do valor, ou se a descarta em nome das leis da concorrência.
Mais grave ainda é o fato de David Ricardo não ter conseguido explicar a origem da mais-valia. Isso porque, ao definir o valor do trabalho (isto é, da força de trabalho), pressupõe que o tempo de trabalho contido nos meios de subsistência do trabalhador é igual ao tempo de trabalho diário que este realiza. Assim, acaba obliterando a origem da mais-valia (ver Marx, 1985, v. II, p. 837).
Por tudo isso, David Ricardo não apenas conseguiu explicar os efeitos da acumulação de capital sobre o valor relativo dos bens produzidos, como também acabou por escamotear a origem da mais-valia. Mesmo assim, seu grande mérito foi ter resolvido a contradição de Smith. E o fez, como se viu, porque eliminou um dos dois conceitos de valor adotados por este. Entendia que o problema que levou Adam Smith à contradição era de ordem lógica: sua teoria do valor violava o princípio de não contradição.
De fato, como vimos, Adam Smith ora afirma que o valor é, ora afirma que o valor não é determinado pela quantidade de trabalho. E quem afirma e nega, ao mesmo tempo, se contradiz.
Mas Adam Smith só incorreu nessa contradição porque não soube distinguir a mercadoria força de trabalho das demais mercadorias. David Ricardo, muito menos. E o que é pior: acaba incorrendo nas mesmas incoerências de Smith. Isso porque determina “o valor do trabalho”, isto é, da força de trabalho, não pela quantidade de trabalho necessária à produção da força de trabalho, mas pela quantidade de trabalho despendida na produção do salário do trabalhador. Assim, o valor do trabalho termina sendo determinado pelo valor do salário.
Marx e a crítica da economia política clássica
Marx se apropria do sistema categorial da economia política clássica para desmontá-lo e remontá-lo em uma nova ordem de exposição, de modo a levar essa ciência a implodir as contradições em que estavam encerrados seus conceitos. Nessa reapresentação, Marx exige que a economia clássica preste contas de suas descobertas científicas e confesse as razões de suas debilidades e limitações teóricas. Sua postura lembra René Descartes, que, ao colocar o cético contra a parede, obriga-o a admitir que a dúvida tem limite – limite determinado pela implosão da própria dúvida.
Marx só precisava encontrar um ponto nevrálgico, dentro do sistema categorial da economia política clássica, a partir do qual pudesse operar uma inversão no significado de toda a estrutura conceitual dessa ciência. Ou seja, bastava-lhe identificar a causa do problema central em torno do qual se debateram os economistas clássicos, Smith e Ricardo.
Para o leitor que acompanhou o texto com atenção, essa causa já é conhecida. Como visto há pouco, todos os economistas clássicos incorreram no mesmo erro: confundiram o valor da força de trabalho com o valor do trabalho, como se essas duas determinações fossem idênticas. Por isso, não compreenderam a natureza da troca entre capital e trabalho. Não puderam, assim, explicar que essa troca não anula a lei do valor; apenas a modifica em seus resultados, como será visto mais adiante.
Essa identificação é prova de que a economia política clássica tomou de empréstimo, sem maiores críticas, todas as suas categorias da vida cotidiana. De fato, ao explicar a produção e a distribuição da riqueza social entre as três grandes classes sociais, essa ciência compartilha com o senso comum a ideia de que a propriedade é fruto do trabalho pessoal, do esforço individual. Se assim fosse, a desigualdade social da riqueza só poderia ser explicada pelo fato de que certos indivíduos, no passado, teriam trabalhado mais do que outros e, assim, conseguido acumular maior riqueza.
É daí mesmo que parte Marx. Ele não contrapõe à economia política clássica uma teoria simplesmente diferente para explicar a origem da propriedade capitalista e suas leis inerentes de apropriação e distribuição da riqueza. Divide com essa ciência o pressuposto de que o direito de propriedade se funda sobre o trabalho próprio. “Pelo menos”, diz Marx, “tinha que valer essa suposição, já que somente se defrontam possuidores de mercadorias com iguais direitos, e o meio de apropriação de mercadoria alheia é apenas a alienação da própria mercadoria, e esta pode ser produzida apenas mediante trabalho” (Marx, 2017, v. I, p. 666).
Num mundo assim, em que todos os indivíduos só existem na condição de proprietários de mercadorias, ninguém estaria disposto a abrir mão de suas mercadorias se, em troca, não recebesse outra de igual valor. Sem essa pressuposição da igualdade dos valores permutados, a troca, enquanto relação social dominante, não se sustentaria. Os próprios indivíduos não aceitariam viver numa sociedade se soubessem, de antemão, que a troca não obedece ao princípio da equivalência.
Não aceitariam, portanto, viver numa sociedade em que o meio de apropriação da riqueza fosse o logro generalizado de todos contra todos. Daí o drama de Adam Smith, quando descobre que a troca entre capital e trabalho não obedece a esse princípio. Marx sabe disso mais do que ninguém. Tanto é verdade que tinha consciência da dupla dimensão de sua crítica à economia política clássica: provar que a troca entre capital e trabalho se faz de acordo com o princípio da equivalência e, ao mesmo tempo, demonstrar a origem da mais-valia.
Obviamente, os indivíduos talvez nunca tenham ouvido falar do princípio da equivalência, mas o pressupõem sempre que compram e vendem mercadorias. Não sabem, mas o aplicam.
Mas, como então demonstrar que a troca entre capital e trabalho se dá de acordo com esse princípio e que dessa igualdade nasce a desigualdade na produção e apropriação da riqueza social? Marx tem a resposta: a dialética interna do processo de acumulação se encarrega de transformar aquele princípio em seu contrário direto – no princípio da não equivalência.
Para dar conta dessa transformação, ao final do capítulo IV do livro I de O capital, Marx convida o leitor para, juntos, “[abandonarem] essa esfera rumorosa, onde tudo se passa à luz do dia, ante os olhos de todos, e [acompanharem] os possuidores de dinheiro e de força de trabalho até o terreno oculto da produção […]. Aqui se revelará não só como capital produz, mas como ele mesmo, o capital, é produzido. O segredo da criação de mais-valor tem, enfim, de ser revelado” (Marx, 2017, v. I, p. 250).
No entanto, o segredo da criação do mais-valor, que começa a ser desvelado a partir do capítulo V, só será plenamente conhecido quando o leitor chega ao capítulo XXII do livro I. Somente aí aquele mundo, onde reinavam liberdade, igualdade e propriedade, converte-se em seu contrário direto: a liberdade se transforma em não liberdade; a igualdade, em não igualdade; a propriedade, em não propriedade, isto é, no direito de se apropriar do trabalho alheio não pago.
Essa conversão se realiza quando se passa à teoria da reprodução e da acumulação de capital. Da seção II até o último capítulo da seção VI de O capital, livro I, Marx apresenta o processo de acumulação como ciclos independentes uns dos outros. O movimento do capital ocorre de forma descontínua, na medida em que o processo de valorização do valor aparece como se estivesse sempre recomeçando. Isso porque cada ciclo de acumulação é visto isoladamente, como um processo de renovação constante.
Por isso, os capitalistas precisam estabelecer novos contratos de compra e venda da força de trabalho, para reiniciar um novo ciclo de acumulação. Capitalistas e trabalhadores estariam, assim, sempre se encontrando “fortuitamente” no mercado, onde cada um deles se apoia na lei da troca de mercadorias, isto é, na lei da troca de equivalentes.
Esse cenário muda quando se passa à seção VII. Aí, a compra e venda da força de trabalho não é mais uma relação acidental, isto é, uma relação que chega ao fim quando se expira o contrato de compra e venda da força de trabalho. O processo de acumulação ocorre como um fluxo contínuo, sem interrupções, de tal forma que cada ciclo de acumulação está conectado ao que o precedeu e ao que o segue.
Noutras palavras, das relações entre capitalistas e trabalhadores individuais passa-se para o nível das classes sociais; das relações entre as classes capitalista e trabalhadora. É então que a relação de equivalência se transforma numa relação de não equivalência, na medida em que a apropriação da riqueza pelo trabalho próprio converte-se em apropriação da riqueza pelo não trabalho alheio não pago. Se se preferir: a troca de equivalentes, característica das relações entre indivíduos, transforma-se numa relação mediante a qual a classe capitalista suga a riqueza produzida pela classe trabalhadora.
Para tornar tudo isso ainda mais claro, convém acompanhar Marx um pouco mais de perto. Nos capítulos XXI e XXII do livro I de O capital, ele toma a ideia, tão cara à filosofia liberal, segundo a qual, num passado remoto, a classe capitalista adquiriu sua propriedade com o suor do próprio rosto. Imagina que a classe capitalista, depois de muitas gerações de trabalho, acumulou uma riqueza de 1.000 unidades de dinheiro e que, agora, pode dispor dela para contratar trabalhadores. Em seguida, imagina que esse capital gera, anualmente, um mais-valor de 200 unidades de dinheiro, destinadas ao consumo da classe capitalista. Que acontece quando esse capital é recorrentemente empregado para assalariar trabalhadores?
Simples: se a cada ano é gerado um mais-valor de 200 unidades monetárias, ao cabo de cinco anos o mais-valor total consumido pela classe capitalista será de 1.000 unidades. E o que é mais importante: a classe capitalista ainda dispõe dessas 1.000 unidades de capital para reiniciar, no ano seguinte, a contratação de novos trabalhadores.
Ora, se a partir do quinto ano todo o patrimônio da classe capitalista, que ela supostamente amealhou com o suor do próprio rosto, foi totalmente pago, como sustentar que tudo isso aconteceu sem anular o princípio da equivalência? Simples: a troca de equivalentes é uma relação que vigora apenas entre compradores e vendedores individuais da força de trabalho; se se preferir, quando o processo de acumulação é visto como ciclos desconectados uns dos outros.
E assim tem de ser. Afinal, como diz Marx “Se a produção de mercadorias ou um procedimento a ela pertencente deve ser julgado segundo suas próprias leis econômicas, temos de considerar cada ato de intercâmbio por si mesmo, fora de qualquer conexão com o ato de intercâmbio que o precedeu e com o que o segue. E, visto que compras e vendas são efetuadas apenas entre indivíduos isolados, é inadmissível procurar nelas relações entre classes sociais inteiras” (Marx, 2017, v. I, p. 262).
Mas tudo isso, como antes visto, muda quando se passa para o nível da acumulação na perspectiva de sua totalidade; quando se passa do nível da representação dos capitais individuais para o do capital social global; ou, se se preferir, do nível das relações individuais para o das classes sociais. Não se trata aí de uma passagem meramente lógica. Pelo contrário, ela tem peso ontológico, na medida em que se compreende que uma troca individual entre um capitalista e um trabalhador qualquer pressupõe outros infinitos atos de compra e venda.
Mesmo assim, os atos de troca se realizam sempre de acordo com o princípio da equivalência, pois a troca é um ato que ocorre apenas entre indivíduos. No entanto, explica Marx: “Na medida em que cada transação isolada obedece continuamente à lei da troca de mercadorias, segundo a qual o capitalista sempre compra a força de trabalho e o trabalhador sempre a vende – e, supomos aqui, por seu valor real –, é evidente que a lei da apropriação ou lei da propriedade privada, fundada na produção e na circulação de mercadorias, transforma-se, obedecendo à sua dialética própria, interna e inevitável, em seu direto oposto. A troca de equivalentes, que aparecia como a operação original, torceu-se ao ponto de que agora a troca se efetiva apenas na aparência, pois, em primeiro lugar, a própria parte do capital trocada por força de trabalho não é mais do que uma parte do produto do trabalho alheio, apropriado sem equivalente; em segundo lugar, seu produtor, o trabalhador, não só tem de repô-la, como tem de fazê-lo com um novo excedente. A relação de troca entre o capitalista e o trabalhador converte-se, assim, em mera aparência pertencente ao processo de circulação, numa mera forma, estranha ao próprio conteúdo e que apenas o mistifica. A contínua compra e venda da força de trabalho é a forma; o conteúdo está no fato de que o capitalista troca continuamente uma parte do trabalho alheio já objetivado, do qual ele não cessa de se apropriar sem equivalente, por uma quantidade maior de trabalho vivo alheio” (Marx, 2017, V. I, p. 659).
Desmistifica-se, assim, a ideia de que o direito de propriedade teria origem no trabalho próprio do capitalista. Porém, acrescenta Marx: “Esse suposto tinha de ser admitido, porquanto apenas possuidores de mercadorias com iguais direitos se confrontavam uns com os outros, mas o meio de apropriação da mercadoria alheia era apenas a alienação [Veräußerung] de sua mercadoria própria, e esta só se podia produzir mediante o trabalho. Agora, ao contrário, a propriedade aparece, do lado do capitalista, como direito a apropriar-se de trabalho alheio não pago ou de seu produto; do lado do trabalhador, como impossibilidade de apropriar-se de seu próprio produto. A cisão entre propriedade e trabalho torna-se consequência necessária de uma lei que, aparentemente, tinha origem na identidade de ambos” (Marx, 2017, v. I, p. 642).
Assim, o contínuo e ininterrupto processo de acumulação transforma a troca de equivalentes numa troca de não equivalentes; na verdade, numa não troca, na medida em que “é com o seu salário da semana anterior ou do último semestre que será pago seu trabalho de hoje ou do próximo semestre”. E tudo isso sem ferir o princípio da equivalência.
Afinal, a mais-valia pertence ao capitalista, não tende jamais pertencido a outrem. “Se o adianta para a produção, o que ele faz é um adiantamento de seus próprios fundos, exatamente como fez no dia em que pôs os pés no mercado pela primeira vez. Que agora esse fundo tenha origem no trabalho não pago de seus trabalhadores é algo que não altera absolutamente em nada a questão. Se o trabalhador B é ocupado com o mais-valor produzido pelo trabalhador A, temos de considerar, primeiro, que A forneceu esse mais-valor sem que se rebaixasse nem um centavo do preço justo de sua mercadoria, e, segundo, que esse negócio não diz respeito de modo algum a B. O que B exige e tem direito de exigir é que o capitalista lhe pague o valor de sua força de trabalho (Marx, 2017, L. I, p. 661).
*Francisco Teixeira é professor da Universidade Regional do Cariri (URCA) e professor aposentado da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Autor, entre outros livros, de Pensando com Marx (Ensaios) [https://amzn.to/4cGbd26]
Referências
MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Nova Cultural, 1985.
MARX, Karl. Teorias da Mais-valia: história crítica do pensamento econômico: Livro 4 de O Capital. São Paulo: Difel, 1980.
RICARDO, David. Princípios da economia política e tributação. São Paulo: Nova Cultural, 1985.
SMITH, Adam. A Riqueza das Nações: investigação sobre sua natureza e suas causas. São Paulo: Nova Cultural, 1985.
TEIXEIRA, Francisco. Pensando com Marx – uma leitura de O Capital. São Paulo: Ensaios, 1995.
TEIXEIRA, Francisco. Trabalho e Valor: Contribuição para a Crítica da Razão Econômica. São Paulo: Editora Cortez, 2004.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
C O N T R I B U A