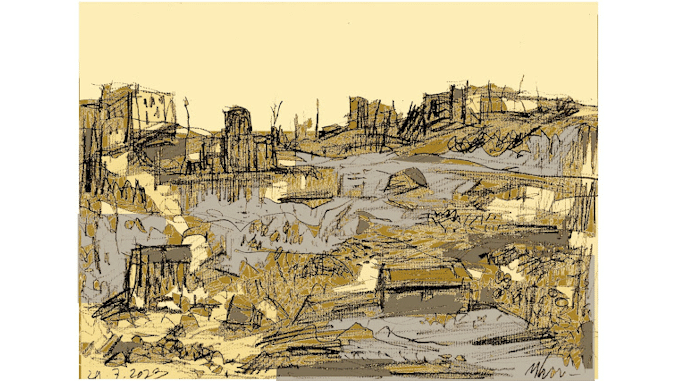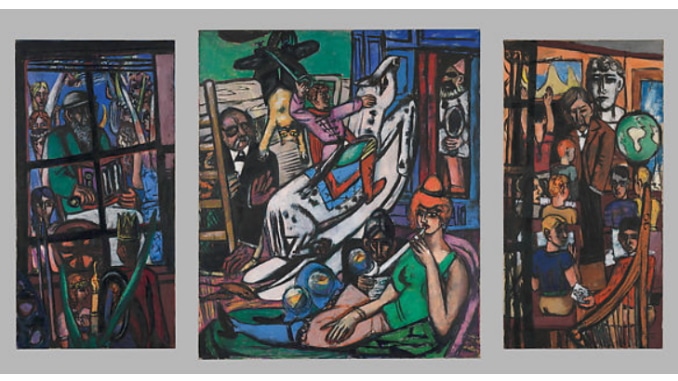Por HELENA TABATCHNIK*
Posfácio do livro recém-lançado de Cristiane Macedo
O romance de estreia de Cristiane Macedo, uma narrativa aparentemente despretensiosa sobre como são as vidas das pessoas pretas e pobres no Brasil, merece ser saudado como um acontecimento – como outrora foi Cidade de Deus, de Paulo Lins. Ambos guardam semelhanças no assunto, mas não no enfoque.
No livro de Cristiane Macedo, a narradora/personagem principal será mulher, filha, esposa e mãe. Nascida em favela alagada, última de seis crianças, ela narrará os abismos sociais produzidos pela escravidão, ao se voltar para a história da própria mãe; as violências sociais reproduzidas dentro de casa, pelos olhos da menininha que foi; as tragédias do entorno que se limita aos vizinhos, mas que se expande agudamente pela consciência da estrutura social que produz exclusão e miséria; os diversos despejos e a descensão social para abaixo da linha da pobreza – e depois mais abaixo em barracos onde a chuva entra de cima pra baixo e o rio de baixo pra cima; os estudos, os namoros, o casamento-prisão e os filhos.
“Queria contar sobre viagens, festas, reencontros em outros estados, sobre idas ao teatro e esbarrar com pessoas famosas na rua ou nos cafés. (…)
Mas eu passei grande parte da minha vida tentando não morrer de tiro, de fome ou moléstia alguma que transita entre os famélicos.
E mesmo hoje, quando poderia ser menos ruim, os fantasmas da minha mente não me deixam ir longe”.
O livro começa assim, dirigindo-se a quem não conhece essa história, uma história sem registros nem lugar de escuta: uma “dor que tem história, mas não tem leitores”. Nossa narradora não pertence à classe média, assim como a escritora e, portanto, não devemos esperar dela o mesmo tipo de experiência. Ela está entre os famélicos e exige que o leitor se comprometa a escutar histórias aterradoras – histórias essas que não estamos acostumados a ouvir, até porque falam mais de nós mesmos do que provavelmente estaríamos dispostos a admitir. E não será mais uma linda história de superação, dessas que levam água ao moinho da meritocracia.
A narrativa é autobiográfica e Cristiane avisa, impositiva, que pertence a esse lugar, do qual sempre tentou fugir, mas sem o qual também não se reconhece. Sobreviveu “sem o suficiente ou o necessário”.
“Como um cachorro que a mãe pegou para criar quando mudamos para Santana de Parnaíba. Era um vira-lata todo preto.
Engraçado como pobre adora adotar cães, sobretudo os mais vira-latas. É uma espécie de solidariedade de classe, creio. (…)
O Rex viveu por uns dois anos na coleira com guia. Minha mãe achava que o tornaria bravo. Mas o tornou triste.
E quando ele adoeceu, por falta do básico, eu o soltei da coleira para que ele pudesse caminhar pelo quintal. E todo o caminho que ele fazia era o da guia à qual ele não estava mais atado.
Acho que sou como o Rex. Mesmo quando as condições deixaram de ser extremas, de fome e privações outras, eu não consegui ir muito mais longe do que minhas correntes e guias sociais me condicionaram”.
Creio que essa passagem figura significativamente a dualidade em que vai funcionar o romance: de quem se sabe gente, e também sabe que é menos gente; de quem sabe coisas e entende perfeitamente o funcionamento da estrutura social, e também ficou marcada pela falta de tudo; de quem nasceu sem correntes, mas restrita ao perímetro das correntes ancestrais; de quem quer sair da lama, e não sabe se pode; de quem sai da lama e é constantemente jogada de volta ao “seu lugar”; da narradora finíssima de escrita sofisticada que ainda não consegue acreditar que esse lugar é dado a ela.
Nessa dualidade, entra a soma impossível de tudo que lhe foi tirado e tudo que foi conquistado – porque as subtrações nunca cessam. Cristiane nos conta da menina que aprendeu a ler com duas coordenadas do irmão mais velho, mas que foi a última da turma a ter essa oportunidade e, enquanto isso fingia acompanhar a leitura em sala de aula. Da estudante talentosa e competente que nunca recebeu um elogio porque as professoras desconfiavam que o que ela escrevia não era dela; do pai que vinha, agia de forma predatória, e depois voltava para um lugar quentinho que não era dado à esposa e nem aos filhos.
Ainda assim a narradora, repleta de consciência e classe e racial, não faz nenhuma concessão à idealização da pobreza. Vinda do fundo do buraco do Buraco Fundo, ela sabe que o abismo social pavimentado pela ditadura nos anos 70 e 80 tornou impossível a síntese entre os dois mundos em que ela timidamente transita. E também sabe que os miseráveis, os excluídos e os sobreviventes não são seres humanos melhores. Desumanizados pela fome, pela violência e pela carência de tudo, tendem a reproduzir as torturas e o sadismo da cultura escravista, como sua irmã mais velha fazia com quatro os mais novos enquanto a mãe “dormia no emprego” a semana toda.
“Complicado porque no quartinho do Neneu não podíamos ficar. Íamos ficando, não podíamos falar. E falar era motivo para a Cristina socar, na nossa garganta, algum tecido – e batia, batia. Com tudo que pudesse.
E quando os vergões sangravam, ela me colocava no tanque com água e sal. Era sempre frio.
Então tinha o frio, os vergões e o sal. Tinha o pano na garganta também. E o medo.
Então a gente preferia a rua”.
E também tendem a reproduzir as distinções de classe, ainda que sejam entre quem come e quem tem fome; entre madeirte e cimento cru.
A periferia não é meritocrata. Ela é escravocrata e tem alto grau de psicopatia.
Como no conto inesquecível de Machado de Assis, as brutalidades da casa-grande para com a senzala se replicam democraticamente entre todas as nossas relações sociais. Em A causa secreta, Fortunato, o afortunado, tortura com gozo os animais que passam em seu caminho e até a própria esposa. No entanto, se lá assistimos ao transbordamento do sangue da senzala para a casa-grande, aqui testemunhamos o mesmo sangue entranhar o subsolo úmido – onde até hoje os descendentes de escravos estão confinados. É de Brasil que estamos falando. Como no poema de Francisco Alvim,
“Quer ver?
Escuta”
*Helena Tabatchnik é escritora, autora de Tudo que eu pensei mas não falei na noite passada / Do amor e outras brutalidades (Nankin, 2021).
Referência
Cristiane Macedo. Nossas vidas pretas. São Paulo, Desconcertos Editora, 2021.