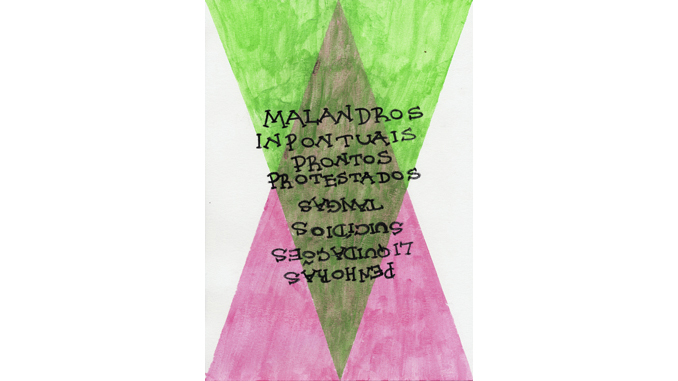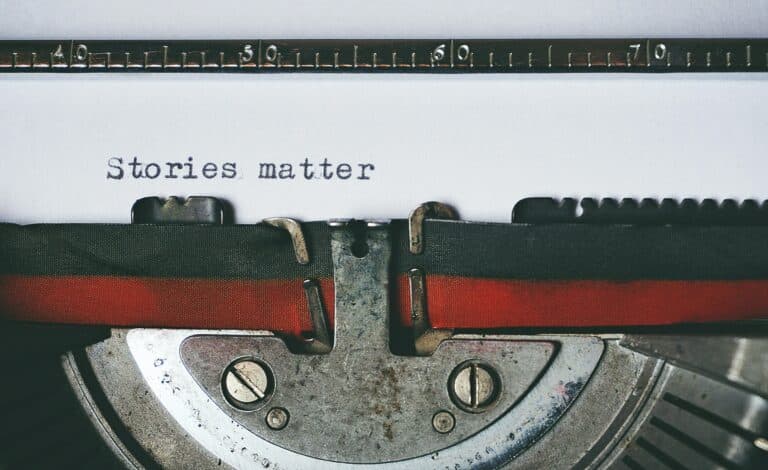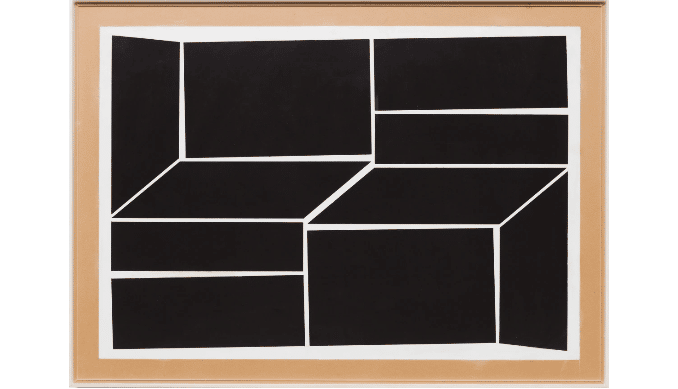Por MARIANA MAZZUCATO*
Doze anos atrás, a crise financeira ofereceu uma rara oportunidade de mudar o capitalismo, mas foi desperdiçada. Agora, outra crise apresenta outra possibilidade de renovação
Após a crise financeira de 2008, governos em todo o mundo injetaram mais de US$ 3 trilhões no sistema financeiro. O objetivo era descongelar os mercados de crédito e fazer a economia global funcionar novamente. Mas, em vez de apoiar a economia real – a parte que envolve a produção de bens e serviços reais – o grosso da ajuda acabou no setor financeiro. Os governos resgataram os grandes bancos de investimento que contribuíram diretamente para a crise e, quando a economia voltou a funcionar, foram essas empresas que colheram os frutos da recuperação. Os contribuintes, por sua vez, ficaram com uma economia global tão falida, desigual e intensiva em carbono quanto antes. “Nunca desperdice uma boa crise”, diz uma popular máxima de formulação de políticas. Mas foi exatamente isso que aconteceu.
Agora, enquanto os países estão se recuperando da pandemia de Covid-19 e dos bloqueios resultantes, eles devem evitar cometer o mesmo erro. Nos meses após o surgimento do vírus, os governos intervieram para enfrentar as crises concomitantes, econômica e de saúde, lançando pacotes de estímulo para proteger empregos, emitindo regras para retardar a propagação da doença e investindo na pesquisa e desenvolvimento de tratamentos e vacinas . Esses esforços de resgate são necessários. Mas não é suficiente que os governos simplesmente intervenham como gastadores de última instância quando os mercados falham ou ocorrem crises. Eles devem moldar ativamente os mercados para que ofereçam o tipo de resultados de longo prazo que beneficiem a todos.
O mundo perdeu a oportunidade de fazer isso em 2008, mas o destino deu outra chance. À medida que os países saem da crise atual, eles podem fazer mais do que estimular o crescimento econômico; eles podem guiar a direção desse crescimento para construir uma economia melhor. Em vez de oferecer assistência sem restrições às corporações, eles podem condicionar seus resgates a políticas que protejam o interesse público e enfrentem problemas sociais. Eles podem exigir que as vacinas contra a Covid-19 que recebam apoio público se tornem universalmente acessíveis. Eles podem se recusar a resgatar empresas que não controlam suas emissões de carbono ou não param de esconder seus lucros em paraísos fiscais.
Por muito tempo, os governos socializaram os riscos, mas privatizaram as recompensas: o público pagou o preço por limpar a bagunça, mas os benefícios dessas limpezas foram acumulados em grande parte para as empresas e seus investidores. Em tempos de necessidade, muitas empresas rapidamente pedem ajuda do governo, mas, em tempos bons, exigem que o governo se afaste. A crise da Covid-19 apresenta uma oportunidade de corrigir esse desequilíbrio por meio de um novo estilo de negociação que força as empresas resgatadas a agirem mais no interesse público e permite que os contribuintes compartilhem dos benefícios dos sucessos tradicionalmente creditados apenas ao setor privado. Mas, se os governos se concentrarem apenas em acabar com a dor imediata, sem reescrever as regras do jogo, o crescimento econômico que se segue à crise não será inclusivo nem sustentável. Nem atenderá empresas interessadas em oportunidades de crescimento de longo prazo. A intervenção terá sido um desperdício e a oportunidade perdida apenas alimentará uma nova crise.
A podridão no sistema
As economias avançadas vinham sofrendo de grandes falhas estruturais muito antes do surgimento da Covid-19. Por um lado, o sistema financeiro financia a si próprio, erodindo assim a base do crescimento de longo prazo. A maior parte dos lucros do setor financeiro são reinvestidos em finanças – bancos, seguradoras e imóveis – em vez de usados para fins produtivos, como infraestrutura ou inovação. Apenas dez por cento de todos os empréstimos dos bancos britânicos, por exemplo, apoiam empresas não financeiras, com o restante indo para bens imóveis e ativos financeiros. Nas economias avançadas, os empréstimos imobiliários constituíram cerca de 35% de todos os empréstimos bancários em 1970; em 2007, havia subido para cerca de 60%. A atual estrutura de finanças alimenta, assim, um sistema movido a dívidas e bolhas especulativas que, quando estouram, levam bancos e outros a implorar por resgate do governo.
Outro problema é que muitas grandes empresas negligenciam os investimentos de longo prazo em favor dos ganhos de curto prazo. Obcecados por retornos trimestrais e preços de ações, os CEOs e conselhos corporativos recompensam os acionistas com a recompra de ações, aumentando o valor das ações restantes e, portanto, das opções de ações que fazem parte dos pacotes de remuneração dos executivos. Na última década, as empresas Fortune 500 recompraram mais de US$ 3 trilhões em suas próprias ações. Essas recompras vêm às custas de investimentos em salários, treinamento de trabalhadores e pesquisa e desenvolvimento.
Depois, há o esvaziamento da capacidade do governo. Só depois de uma falha explícita de mercado é que os governos costumam intervir, e as políticas que propõem chegam tarde demais. Quando o Estado é visto não como um parceiro na criação de valor, mas apenas como um consertador, os fundos públicos ficam à míngua. Programas sociais, educação e saúde são subfinanciados.
Esses fracassos se somaram a megacrises, tanto econômicas quanto planetárias. A crise financeira foi em grande medida causada pelo excesso de crédito que fluiu para os setores imobiliário e financeiro, inflando bolhas de ativos e dívida das famílias em vez de apoiar a economia real e gerar crescimento sustentável. Enquanto isso, a falta de investimentos de longo prazo em energia verde acelerou o aquecimento global, a ponto de o Painel Intergovernamental da ONU sobre Mudanças Climáticas alertar que o mundo tem apenas dez anos para evitar seus efeitos irreversíveis.
No entanto, o governo dos EUA subsidia empresas de combustíveis fósseis em cerca de US$ 20 bilhões por ano, principalmente por meio de isenções fiscais preferenciais. Os subsídios da UE totalizam cerca de US$ 65 bilhões por ano. Na melhor das hipóteses, os formuladores de políticas que tentam lidar com as mudanças climáticas estão considerando incentivos, como impostos sobre carbono e listas oficiais de quais os investimentos são considerados “verdes”. Eles pararam de emitir o tipo de regulamentação obrigatória necessária para evitar desastres até 2030.
A crise da Covid-19 só piorou todos esses problemas. No momento, a atenção do mundo está focada em sobreviver à crise de saúde imediata, não em prevenir a crise climática que se aproxima ou a próxima crise financeira. As quarentenas devastaram as pessoas que trabalham na perigosa “economia do bico” [gig economy]. Muitos deles não têm poupanças nem os benefícios do empregado regular – ou seja, assistência médica e licença médica – necessários para enfrentar a tempestade. A dívida corporativa, uma das principais causas da crise financeira anterior, só está subindo à medida que as empresas fazem novos empréstimos pesados para enfrentar o colapso da demanda. E a obsessão de muitas empresas em agradar aos interesses de curto prazo de seus acionistas as deixou sem uma estratégia de longo prazo para travessia da crise.
A pandemia também revelou o quão desequilibrada a relação entre os setores público e privado se tornou. Nos Estados Unidos, o National Institutes of Health (NIH – Institutos Nacionais de Saúde) investe cerca de US $40 bilhões por ano em pesquisas médicas e tem sido um dos principais financiadores da pesquisa e do desenvolvimento de tratamentos de e vacinas contra Covid-19. Mas as empresas farmacêuticas não têm a obrigação de tornar os produtos finais acessíveis aos americanos, cujo dinheiro de impostos os está subsidiando em primeiro lugar. A empresa Gilead, com sede na Califórnia, desenvolveu seu medicamento de tratamento de Covid-19, o remdesivir, com US$ 70,5 milhões de apoio do governo federal. Em junho, a empresa anunciou o preço que cobraria dos americanos por um pacote de tratamento: US$ 3120.
Foi uma operação típica da Big Pharma [as grandes empresas farmacêuticas]. Um estudo analisou os 210 medicamentos aprovados pela Food and Drug Administration [órgão do governo federal que regula medicamentos e alimentos] dos EUA, de 2010 a 2016, e descobriu que “o financiamento do NIH contribuiu com todos eles”. Mesmo assim, os preços dos medicamentos nos EUA são os mais altos do mundo. As empresas farmacêuticas também agem contra o interesse público abusando do processo de patente. Para evitar a concorrência, eles registram patentes muito amplas e difíceis de licenciar. Alguns deles estão muito adiantados no processo de desenvolvimento, permitindo que as empresas privatizem não apenas os frutos da pesquisa, mas também as próprias ferramentas para conduzi-la.
Negócios igualmente ruins foram feitos com a Big Tech [grandes empresas de tecnologia]. De muitas maneiras, o Vale do Silício é um produto dos investimentos do governo dos EUA no desenvolvimento de tecnologias de alto risco. A National Science Foundation financiou a pesquisa por trás do algoritmo de busca que tornou o Google famoso. A Marinha dos EUA fez o mesmo com a tecnologia GPS da qual o Uber depende. E a Defense Advanced Research Projects Agency, parte do Pentágono, apoiou o desenvolvimento da Internet, da tecnologia touchscreen, da Siri e de todos os outros componentes importantes do iPhone.
Os contribuintes assumiram riscos quando investiram nessas tecnologias, mas a maioria das empresas de tecnologia que se beneficiaram deixou de pagar sua parte justa dos impostos. Então, eles têm a audácia de lutar contra as regulamentações que protegem os direitos de privacidade do público. E embora muitos tenham apontado o poder da inteligência artificial e de outras tecnologias em desenvolvimento no Vale do Silício, um olhar mais atento mostra que, também nesses casos, foram os investimentos públicos de alto risco que estabeleceram suas bases. Sem a ação do governo, os ganhos desses investimentos puderam, mais uma vez, fluir em grande parte para mãos privadas. A tecnologia com financiamento público precisa ser mais bem administrada pelo Estado – e, em alguns casos, ser de propriedade do Estado – para garantir que o público se beneficie de seus próprios investimentos.
Como o fechamento em massa de escolas durante a pandemia deixou claro, apenas alguns alunos têm acesso à tecnologia necessária para o ensino em casa, uma disparidade que só aumenta a desigualdade. O acesso à Internet deve ser um direito, não um privilégio.
Repensando o valor
Tudo isso sugere que a relação entre o setor público e o privado está quebrada. Para consertá-la, é necessário primeiro abordar um problema subjacente da teoria econômica: o campo entendeu errado o conceito de valor. Os economistas modernos entendem o valor como sendo intercambiável com o preço. Essa visão seria um anátema para teóricos anteriores, como François Quesnay, Adam Smith e Karl Marx, que viam os produtos como tendo um valor intrínseco relacionado à dinâmica de produção, valor que não estava necessariamente relacionado ao seu preço.
O conceito contemporâneo de valor tem enormes implicações para a forma como as economias são estruturadas. Afeta a forma como as organizações são administradas, como as atividades são contabilizadas, como os setores são priorizados, como o governo é visto e como a riqueza nacional é medida. O valor da educação pública, por exemplo, não figura no PIB de um país porque esta é gratuita, mas o custo dos salários dos professores sim. É natural, então, que tantas pessoas falem sobre “gastos” públicos em vez de “investimento” público. Essa lógica também explica por que o então CEO da Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, podia alegar em 2009, apenas um ano após sua empresa receber um resgate de US$ 10 bilhões, que seus trabalhadores estavam “entre os mais produtivos do mundo”. Afinal, se valor é preço, e se a renda por funcionário da Goldman Sachs está entre as mais altas do mundo, então é claro que seus trabalhadores devem estar entre os mais produtivos do mundo.
Mudar o status quo exige que se encontre uma nova resposta para a pergunta: O que é valor? Aqui, é essencial reconhecer os investimentos e a criatividade fornecidos por uma vasta gama de atores em toda a economia – não apenas empresas, mas também trabalhadores e instituições públicas. Por muito tempo, as pessoas agiram como se o setor privado fosse o principal impulsionador da inovação e da criação de valor e, portanto, tivesse direito aos lucros resultantes. Mas isso simplesmente não é verdade. Drogas farmacêuticas, Internet, nanotecnologia, energia nuclear, energia renovável – todas foram desenvolvidas com uma enorme quantidade de investimentos e de tomada de riscos por governos, nas costas de inúmeros trabalhadores e graças à infraestrutura e instituições públicas. Incorporar a contribuição desse esforço coletivo tornaria mais fácil garantir que todos os esforços fossem devidamente remunerados e que as recompensas econômicas da inovação fossem distribuídas de forma mais equitativa. O caminho para uma parceria mais simbiótica entre instituições públicas e privadas começa com o reconhecimento de que o valor é criado coletivamente.
Resgates ruins
Além de repensar o valor, as sociedades precisam priorizar os interesses de longo prazo das partes interessadas, em vez dos interesses de curto prazo dos acionistas. Na crise atual, isso deveria significar o desenvolvimento de uma “vacina popular” contra COVID-19, acessível a todas as pessoas do planeta. O processo de inovação de medicamentos deve ser governado de forma a fomentar a colaboração e a solidariedade entre os países, tanto durante a fase de pesquisa e desenvolvimento quanto na hora de distribuir a vacina. As patentes devem ser compartilhadas entre universidades, laboratórios governamentais e empresas privadas, permitindo que o conhecimento, os dados e a tecnologia fluam livremente em todo o mundo. Sem essas etapas, uma vacina contra Covid-19 corre o risco de se tornar um produto caro vendido por um monopólio, um bem de luxo que apenas os países e cidadãos mais ricos podem pagar.
De maneira mais geral, os países também devem estruturar os investimentos públicos menos como doações e mais como tentativas de moldar o mercado em benefício do público, o que significa associar condicionantes à ajuda do governo. Durante a pandemia, essas condições devem promover três objetivos específicos. Primeiro, manter o emprego para proteger a produtividade das empresas e a segurança de renda das famílias. Em segundo lugar, melhorar as condições de trabalho proporcionando segurança adequada, salários decentes, níveis suficientes de auxílio-doença e mais voz na tomada de decisões. Terceiro, promover missões de longo prazo, como reduzir as emissões de carbono e aplicar os benefícios da digitalização aos serviços públicos, do transporte à saúde.
A principal resposta dos Estados Unidos à Covid-19 – a Lei CARES (Coronavirus Aid, Relief e Economic Security), aprovada pelo Congresso em março – ilustra esses pontos ao contrário. Em vez de implementar apoios efetivos à folha de pagamento, como fez a maioria dos outros países avançados, os Estados Unidos ofereceram seguros temporários de desemprego aprimorados. Essa escolha levou à demissão de mais de 30 milhões de trabalhadores, fazendo com que os Estados Unidos tivessem uma das maiores taxas de desemprego relacionado à pandemia no mundo desenvolvido. Como o governo ofereceu trilhões de dólares em apoio direto e indireto a grandes corporações sem condicionantes significativas, muitas empresas ficaram livres para tomar medidas que poderiam espalhar o vírus, como negar licença médica paga a seus funcionários e operar locais de trabalho inseguros.
A Lei CARES também estabeleceu o Programa de Proteção ao Pagamento de Salários [Paycheck Protection Program, PPP], segundo o qual as empresas recebiam empréstimos que seriam perdoados se os funcionários fossem mantidos na folha de pagamentos. Mas o PPP acabou servindo mais como uma maciça doação em dinheiro para as tesouraria corporativas do que como um método eficaz de salvar empregos. Qualquer pequena empresa, não apenas as necessitadas, poderia receber um empréstimo, e o Congresso rapidamente afrouxou as regras sobre quanto uma empresa precisava gastar com folha de pagamento para que o empréstimo fosse perdoado. Como resultado, o programa teve efeito pífio na redução do desemprego. Uma equipe do MIT concluiu que o PPP distribuiu US$ 500 bilhões em empréstimos, mas salvou apenas 2,3 milhões de empregos em cerca de seis meses. Supondo que a maioria dos empréstimos seja finalmente perdoada, o custo anual do programa chega a cerca de US$ 500 mil por emprego. Durante o verão, tanto o PPP quanto os seguros-desemprego expandidos acabaram, e a taxa de desemprego dos EUA ainda ultrapassava dez por cento.
O Congresso até agora autorizou mais de US$ 3 trilhões em gastos de resposta à pandemia, e o Federal Reserve [Banco Central dos EUA] injetou US$ 4 trilhões adicionais ou mais na economia – juntos totalizando mais de 30 por cento do PIB dos EUA. No entanto, esses vastos gastos não alcançaram nada em termos de abordar questões urgentes e de longo prazo, da mudança climática à desigualdade. Quando a senadora Elizabeth Warren, democrata de Massachusetts, propôs anexar condições aos resgates – para garantir salários mais altos e maior poder de decisão para os trabalhadores e para restringir dividendos, recompra de ações e bônus dos executivos – ela não conseguiu os votos.
O objetivo da intervenção do governo era evitar o colapso do mercado de trabalho e manter as empresas como organizações produtivas – essencialmente, para atuar como uma seguradora de risco catastrófico. Mas essa abordagem não pode empobrecer o governo, nem os fundos devem financiar estratégias de negócios destrutivas. No caso de insolvências, o governo pode considerar exigir posições acionárias nas empresas que está resgatando, como aconteceu em 2008, quando o Tesouro dos EUA assumiu participações na General Motors e outras empresas em dificuldades. E ao resgatar empresas, o governo deve impor condições que proíbam todos os tipos de mau comportamento: distribuir bônus prematuros a CEOs, emitir dividendos excessivos, realizar recompras de ações, assumir dívidas desnecessárias, desviar lucros para paraísos fiscais, participar de lobby político problemático. Eles também devem impedir as empresas de aumentar os preços, especialmente no caso de tratamentos da e vacinas contra Covid-19.
Outros países mostram como é uma resposta adequada à crise. Quando a Dinamarca se ofereceu para pagar 75 por cento dos custos da folha de pagamento das empresas no início da pandemia, o fez com a condição de que as empresas não pudessem fazer dispensas por razões econômicas. O governo dinamarquês também se recusou a socorrer empresas registradas em paraísos fiscais e proibiu o uso de fundos de auxílio para dividendos e recompra de ações. Na Áustria e na França, as companhias aéreas foram salvas com a condição de reduzirem suas pegadas de carbono.
O governo britânico, por outro lado, deu à easyJet acesso a mais de US$ 750 milhões em liquidez em abril, embora a companhia aérea tivesse pago quase US$ 230 milhões em dividendos aos acionistas um mês antes. O Reino Unido se recusou a estabelecer condições para o resgate da easyJet e de outras empresas em dificuldades em nome da neutralidade do mercado, a ideia de que não é função do governo dizer às empresas privadas como gastar seu dinheiro. Mas um resgate nunca pode ser neutro: por definição, um resgate envolve a escolha do governo de poupar uma empresa, e não outra, do desastre. Sem condicionantes, a assistência governamental corre o risco de subsidiar práticas de negócios ruins, desde modelos de negócios ambientalmente insustentáveis até o uso de paraísos fiscais. O esquema de socorro do Reino Unido, pelo qual o governo pagava até 80 por cento dos salários dos empregados dispensados, deveria, no mínimo, ter sido condicionado a que os trabalhadores não fossem demitidos assim que o programa terminasse. Mas não foi.
A mentalidade de capitalista de risco
O estado não pode apenas investir; deve criar o acordo certo. Para fazer isso, precisa começar a pensar como o que chamei de “estado empreendedor” – certificando-se de que, ao investir, não está apenas reduzindo o risco do insucesso, mas também obtendo uma parcela do sucesso. Uma maneira de fazer isso é assumir uma participação acionária nos acordos que fecha.
Atentemos para o caso da empresa solar Solyndra, que recebeu um empréstimo garantido de US$ 535 milhões do Departamento de Energia dos EUA antes de quebrar em 2011 e se tornar um símbolo conservador para a incapacidade do governo de escolher vencedores. Na mesma época, o Departamento de Energia concedeu um empréstimo garantido de US$ 465 milhões à Tesla, que passou a experimentar um crescimento explosivo. Os contribuintes pagaram pelo fracasso da Solyndra, mas nunca foram recompensados pelo sucesso da Tesla. Nenhum capitalista de risco que se preze estruturaria investimentos dessa forma. Pior, o Departamento de Energia estruturou o empréstimo de Tesla de modo a que recebesse três milhões de ações da empresa se a Tesla não conseguisse pagar o empréstimo, um arranjo projetado para não deixar os contribuintes de mãos vazias. Mas por que o governo iria querer uma participação em uma empresa falida? Uma estratégia mais inteligente teria sido fazer o oposto e pedir à Tesla que pagasse três milhões de ações se pudesse pagar o empréstimo. Se o governo tivesse feito isso, teria ganho dezenas de bilhões de dólares à medida que o preço das ações da Tesla aumentava ao longo do empréstimo – dinheiro que poderia ter coberto o custo da falência de Solyndra com muito sobra para a próxima rodada de investimentos.
Mas a questão é não se preocupar apenas com a recompensa monetária dos investimentos públicos. O governo também deve estabelecer fortes condicionantes para suas parcerias, para garantir que atendam ao interesse público. Os medicamentos desenvolvidos com a ajuda do governo devem ter um preço que leve em conta esse investimento. As patentes que o governo emite devem ser restritas e facilmente licenciáveis, de modo a fomentar a inovação, promover o empreendedorismo e desestimular o rentismo.
Os governos também precisam levar em conta como usar os retornos de seus investimentos para promover uma distribuição de renda mais equitativa. Não se trata de socialismo; trata-se de compreender a fonte dos lucros capitalistas. A crise atual levou a novas discussões sobre uma renda básica universal, em que todos os cidadãos recebem um pagamento regular igual do governo, independentemente de trabalharem. A ideia por trás dessa política é boa, mas a narrativa seria problemática. Uma vez que uma renda básica universal é vista como uma esmola, perpetua a falsa noção de que o setor privado é o único criador, não um co-criador, de riqueza na economia e de que o setor público é apenas um cobrador de pedágio, sugando os lucros e os repartindo como caridade.
Uma alternativa melhor é um dividendo do cidadão. Segundo essa política, o governo arrecada uma porcentagem da riqueza criada com seus investimentos, coloca esse dinheiro em um fundo e, em seguida, compartilha os redimentos do fundo com o povo. A ideia é recompensar diretamente os cidadãos com uma parte da riqueza que eles criaram. O Alasca, por exemplo, distribuiu receitas do petróleo aos residentes por meio de dividendos anuais de seu Fundo Permanente desde 1982. A Noruega faz algo semelhante com seu Fundo de Pensão do Governo. A Califórnia, que abriga algumas das empresas mais ricas do mundo, pode considerar fazer algo semelhante. Quando a Apple, com sede em Cupertino, Califórnia, abriu uma subsidiária em Reno, Nevada, para tirar proveito da alíquota de impostos corporativos de zero por cento naquele estado, a Califórnia perdeu uma enorme quantidade de receita tributária. Não apenas esses truques fiscais devem ser bloqueados, mas a Califórnia também deve revidar criando um fundo de patrimônio estadual, que ofereceria uma maneira além da tributação de capturar diretamente uma parte do valor criado pela tecnologia e pelas empresas que fomentou.
O dividendo do cidadão permite que os rendimentos da riqueza co-criada sejam compartilhados com a comunidade maior – seja essa riqueza proveniente de recursos naturais que fazem parte do bem comum ou de um processo, como investimentos públicos em medicamentos ou tecnologias digitais, que envolveram um esforço coletivo. Essa política não deve substituir o funcionamento correto do sistema tributário. Nem deve o Estado usar a falta de tais fundos como desculpa para não financiar bens públicos essenciais. Mas um fundo público pode mudar a narrativa ao reconhecer explicitamente a contribuição pública para a criação de riqueza – fundamental no jogo de poder político entre as forças.
Economia guiada por propósitos
Quando os setores público e privado se unem em busca de uma missão comum, eles podem fazer coisas extraordinárias. Foi assim que os Estados Unidos chegaram à Lua e voltaram em 1969. Por oito anos, a NASA e empresas privadas de setores tão variados como aeroespacial, têxtil e eletrônico colaboraram no programa Apollo, investindo e inovando juntos. Por meio de ousadia e experimentação, eles alcançaram o que o presidente John F. Kennedy chamou de “a mais arriscada, perigosa e maior aventura em que o homem já embarcou”. A questão não era comercializar certas tecnologias ou mesmo impulsionar o crescimento econômico; era fazer algo juntos.
Mais de 50 anos depois, em meio a uma pandemia global, o mundo tem a chance de tentar um movimento lunar ainda mais ambicioso: a criação de uma economia melhor. Essa economia seria mais inclusiva e sustentável. Ela emitiria menos carbono, geraria menos desigualdade, construiria um transporte público moderno, forneceria acesso digital para todos e ofereceria assistência médica universal. Mais imediatamente, tornaria uma vacina contra a Covid-19 disponível para todos. A criação desse tipo de economia exigirá um tipo de colaboração público-privada que não é vista há décadas.
Alguns que falam sobre a recuperação da pandemia citam um objetivo atraente: o retorno à normalidade. Mas esse é o alvo errado; o normal está quebrado. Em vez disso, o objetivo deve ser, como muitos colocaram, “reconstruir melhor”. Doze anos atrás, a crise financeira ofereceu uma rara oportunidade de mudar o capitalismo, mas foi desperdiçada. Agora, outra crise apresenta outra possibilidade de renovação. Desta vez, o mundo não pode se dar ao luxo de desperdiçá-la.
*Mariana Mazzucato é professora de economia na Universidade de Sussex (EUA). Autora, entre outros livros, de O Estado empreendedor (Companhia das Letras).
Tradução: Artur Araújo para o site ObservaBR.