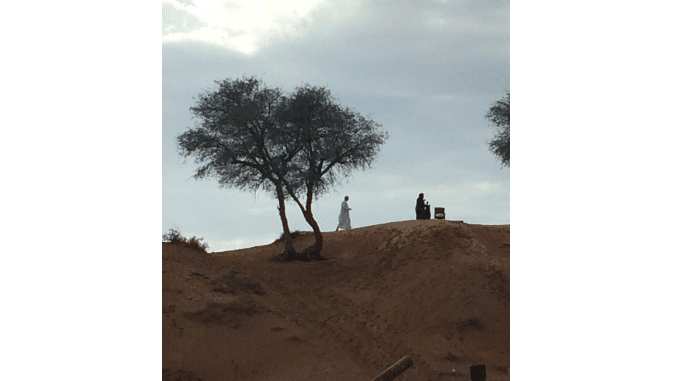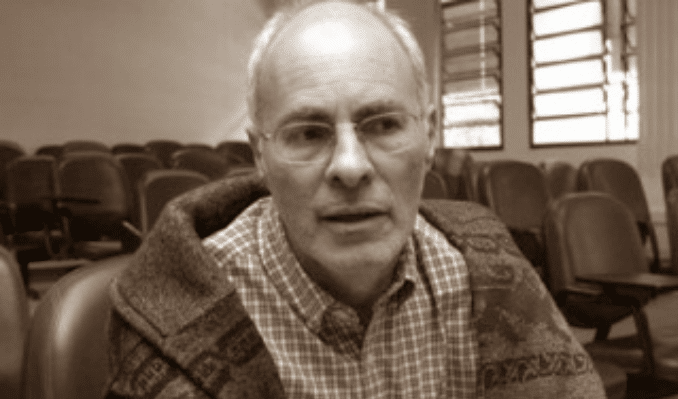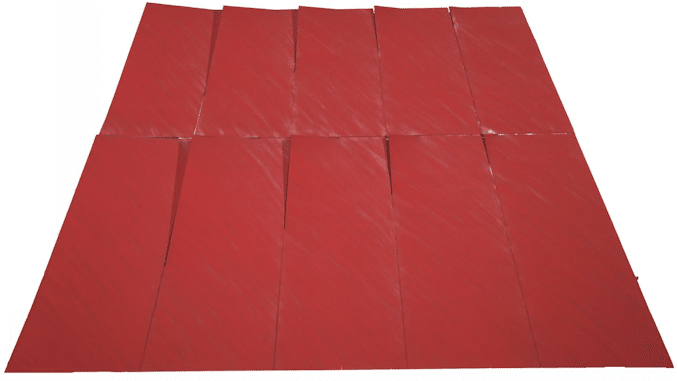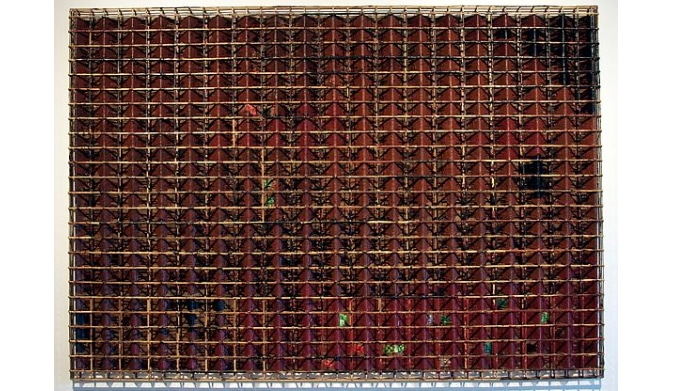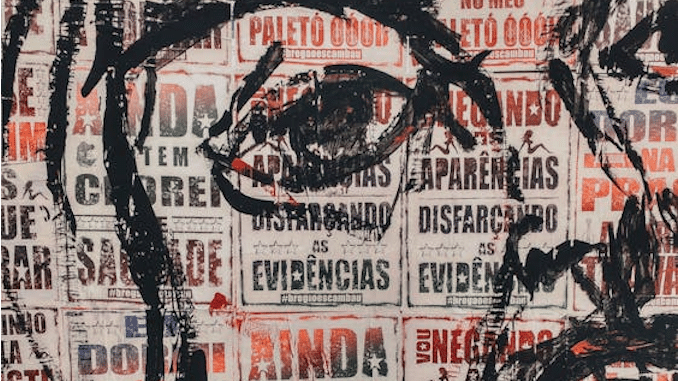Por FILIPE DE FREITAS GONÇALVES*
Comentário sobre o poeta maranhense
No dia 10 de agosto comemoramos o bicentenário do nascimento de Gonçalves Dias. Depois das comemorações badaladas da Semana de Arte Moderna e da Independência, o dia do nosso primeiro poeta romântico que merece ser lembrado pelas futuras gerações passou mais ou menos sem ser notado. Conhecido por seus dois poemas mais citados, a “Canção do Exílio” e o “I-Juca Pirama”, Antônio Gonçalves Dias (1823-1834) foi muitas outras coisas e sua figura, misturada ao que depois se convencionou chamar de Indianismo, será para sempre lembrada como a do vate dos índios.[i]
A moda indianista passou relativamente logo, embora tenha sobrevivido de forma já ultrapassada até a época em que José de Alencar escreveu seus romances sobre o tema. Se formos tomar o que nos dizem os livros didáticos e os professores do ensino médio, esses escritores tomaram o índio como representante nacional e o fizeram vestir as roupas dos cavaleiros medievais europeus, demonstrando desconhecimento da realidade dos povos indígenas e fazendo a colonização soar como um processo idealizado.
Não totalmente verdadeira, essa visão, eu acho, é mais válida para o José de Alencar de O guarani do que para Gonçalves Dias. Note-se bem: se digo mais válida é porque, de alguma maneira, ela é também válida (embora menos) para nosso poeta da geração anterior. É que em Gonçalves Dias os problemas são mais evidentes do que em José de Alencar e ganham expressão mais direta. Gostaria de passar, mais uma vez, pelos dois poemas mais conhecidos para vermos como isso tudo se processa.
A geração do poeta maranhense estava interessada na composição de um poema épico nacional. A lógica, embora falha, é simples. As nações, essa coisa recém-inventada ao longo do século XVIII, é resultado do mundo natural: a natureza de cada localidade gera as formas específicas de existência cultural dos homens que, assim, formam nações. As nações são a expressão cultural e política da própria natureza e a poesia, fruto específico do tipo de nação surgida a partir de cada forma específica de natureza, é a expressão máxima da nacionalidade.
A cada tipo de natureza corresponde uma nação e a cada nação corresponde uma forma específica de poesia que se manifesta nas criações populares, que serão, depois, tomadas por base para a criação da literatura cultivada e erudita dos homens de gabinete. Bom, se ficamos independentes em 1822, nada mais necessário do que o surgimento de uma literatura própria que nos defina como nação. Caberia aos poetas, portanto, procurando nas manifestações culturais populares (os povos indígenas) as fontes de suas criações, escrever algo que pudesse ser Os Lusíadas do Brasil.
Dessa necessidade de busca nas fontes populares está a base para as pesquisas etnográficas do próprio Gonçalves Dias, que procurou, em toda sua poesia, introduzir termos indígenas à língua portuguesa, que, segundo os mais radicais desses nossos românticos, deveria se tornar a língua brasileira, afastando-se cada vez mais da língua de Portugal. Essa lógica o leitor encontrará, por exemplo, nos textos teóricos de Ferdinand Denis e Gonçalves de Magalhães, que fundam o romantismo no Brasil.
O tão esperado poema épico nunca veio. Foram várias as tentativas. Gonçalves de Magalhães escreveu Confederação dos Tamoios, que foi amplamente criticado por José de Alencar, todo em versos. O próprio Gonçalves Dias tentou escrever seu Timbiras, nunca finalizado.[ii] Para dizer de forma simples o ponto central do fracasso, temos que notar que a descrição que fiz no parágrafo anterior sobre a nação não é a história completa. Trata-se da versão alemã do problema, surgida no contexto complicado de influência e dominação francesa durante a virada do século XVIII para o XIX.
O mais importante ideólogo dessa versão do problema é, sem dúvidas, Herder, embora ela apareça em outras figuras, como Goethe (que escreve sua mais famosa tragédia exatamente sobre uma lenda popular medieval) e os irmãos Grimm, cujo trabalho de pesquisa nas fontes populares para os contos de fada e de pesquisa linguística são quase paradigmas de todo esse movimento. A outra forma de ver o problema nacional é o que surgiu na própria França, e ela estava longe da ingenuidade que descrevi acima. Trata-se da consumação mais radical de algo que vinha sendo maturado na Europa há séculos e que pode ser sentida já no Ricardo II de Shakespeare: a nação é o conjunto de pessoas livres e racionais que, no exercício de sua vontade, resolvem se unir para firmar um contrato social.
A nação, agora, é fruto dos homens e não está fundada na natureza; a estrutura do Estado precisa refletir a “vontade geral” dos cidadãos, que antes eram súditos. O ideólogo mais radical dessa tendência é Rousseau e sua influência na Revolução Francesa é um dos aspectos mais importantes do todo o movimento, tanto no que ele teve de vitória e radicalidade quanto de fracasso e logro.[iii]
Fato muito revelador da posição de classe de nossos românticos, eles aderem à visão alemã do problema, ignorando o fato óbvio de que, do ponto de vista social, muito mais crível do que o idealismo cultural de Herder, o Brasil como uma nação é um desafio mais complexo de resolver, já que, se estava emancipado, era ainda uma monarquia com um monarca da família real portuguesa, que exercia poderes muito maiores do que aqueles da monarquia constitucional; ainda era escravocrata e estava matando os índios exatamente como antes.[iv]
Da visão francesa, do ponto de vista literário, surgiu o romance moderno: Stendhal e Balzac. Talvez exatamente da percepção das fraquezas da tentativa romântica inicial, surgida ainda na década de 1820 e desenvolvida nas duas décadas posteriores, venha a percepção de José de Alencar de que o romance, e não o poema épico, seja a forma literária mais adequada para a representação do país.
Mas, fosse só isso, os professores do ensino médio e os autores de livros didáticos estariam certos e Gonçalves Dias não teria mesmo interesse maior do que o de simples figura histórica. Nada mais falso. É exatamente na percepção dessa impossibilidade e das cisões que ela representa que reside a grandeza de sua poesia, fundada na representação de um país dual cuja unidade só se pode alcançar pelo extermínio.
Vamos começar por seu poema mais famoso e duradouro: a “Canção do exílio”. O poema se constrói pela oposição entre um cá e um lá, subsumidos à própria subjetividade do poeta, como bem nos lembra José Guilherme Merquior em sua leitura definitiva do texto.[v] Mas leiamos primeiro sem Merquior, como professores de ensino médio. O poema encarna o ideal romântico de exaltação da natureza tropical (o Sabiá, as palmeiras, os bosques, os céus etc.) como símbolo da nacionalidade e expressa a saudade que tem o poeta da pátria durante seu exílio em Portugal.
A terra natal, superior à Coimbra de seus estudos, é superior por causa de sua natureza e o poema todo se elabora a partir da oposição entre um cá desvalorizado em nome de um lá supervalorizado. Um professor mais dedicado talvez fosse um pouco mais longe, ainda sem chegar em José Guilherme Merquior, e diria que é muito sintomático que esse poema, tão importante para a nossa autoimagem como nação, seja exatamente sobre o exílio e que o país só possa ser cantado de longe, onde se sente dele saudade. É a expressão poética de um fato curioso: nossa tentativa de elaborar uma literatura nacional partia sempre de parâmetros e métricas europeias (como o ideário do próprio Romantismo).
A caricatura anedótica disso é que a Revista Niterói, documento fundacional do movimento, é lança em Paris falando sobre a importância da pátria… brasileira. Mas o mesmo problema temos agora no próprio poema de Gonçalves Dias e não apenas como fator externo à literatura: o lá tão absoluto do poema está definido a partir de um cá distante. Parece que chegamos finalmente a José Guilherme Merquior, que, partindo da ausência de qualificativos, chega à conclusão de que todo o poema é um qualificativo expresso por um eu-lírico que sente saudades. A saudade do eu-lírico, e não exatamente a natureza tropical, é o verdadeiro elemento central do poema, segundo o crítico.
E sua leitura ganha ainda mais fôlego quando, no último parágrafo, dá a chave de sua sobrevivência em linhas que merecem ser citadas: “Só compreenderemos, porém, fielmente, essa obra única da nossa lírica, se reconhecermos que sua melancolia, embora na moldura genérica do romantismo, exprime algo entranhadamente brasileiro. Profundamente brasileira é a saudade da terra natal, na forma de um desprezo cego pela realidade objetiva do país. Boa ou ruim, promissora ou aflitiva, essa realidade jamais conseguirá demover o saudoso de seu amor obstinado a terra. A pureza e o vigor desse sentimento popular, eis o que Gonçalves Dias apreendeu nos versos simples da “Canção do Exílio”. Hoje, como sempre, reluz nesses versos a vibração da certeza consoladora de nos sabermos irremediáveis amantes do Brasil mesmo o Brasil tão frequentemente errado e decepcionante, pobre de fortuna e de projetos, abrigo de vícios e de molezas. Que o brasileiro será sempre incapaz de adotar o “ubi bene, ibi pátria” dos que reduzem o amor de sua terra ao prazer que ela lhes possa dar; porque, para nós, será sempre possível esquecer a miséria da pátria, presente na sublime teimosia com que a amemos, boa ou má, na força de quem faz desse amor uma vontade firme. Quando um dia fizermos um Brasil amável, um Brasil definitivo, desgraçados de nós se perdermos a fé desse amor-vontade; desgraçados de nós, se então justificássemos o amor da nossa terra pela sua grandeza palpável – porque teríamos perdido a feição mais nobre do sentido da terra natal, que é essa reserva, esse poder de amá-la, sem outra justificativa que o próprio amor” (MERQUIOR, 2013, p. 69-70).
O trecho, belíssimo, capta o motivo da sobrevivência do poema entre nós, até se transformar em trecho do Hino Nacional no começo do século passado. Mas gostaria de implicar com ele, para chamar a atenção para a dualidade do cá e do lá, com a primeira pessoa do plural que usa o crítico. Ele nos diz, sempre, que o poema se baseia na expressão lírica de uma saudade absoluta do poeta em relação a sua terra, e essa saudade não encontra, na terra, razão objetiva que a justifique, mas se baseia na força do próprio sentimento. Mas o sentimento da saudade no poema é absolutamente individual. Não indica nenhum tipo de coletividade.
No momento final, José Guilherme Merquior coletiviza o sentimento e diz que a base objetiva de onde o poeta tira sua força é a generalidade coletiva do amor absoluto à pátria, sem qualificativos que a abonem. A história de nossa vida cultural poderia ser contada pela crítica a essa primeira pessoa do plural que pulula nos lugares mais inesperados como instrumento mistificador do caráter social e de classe da formação nacional. É que essa primeira pessoa, usada por José Guilherme Merquior, é fundada pelo próprio romantismo em sua tarefa mistificadora de unificação nacional por meio da poesia sem que essa unificação pressuponha, de fato, integração social dos brasileiros.
Dito de forma mais anedótica, poucos são os brasileiros que estudaram em Coimbra para sentir essa saudade absoluta da terra de que fala o crítico e é sobre esses brasileiros, vinculados à distância objetiva da própria terra, que se funda a generalização europeizante da imagem de Brasil que eles nos legaram. A distância, na verdade, é condição indispensável para a mistificação romântica do país; à distância, os abismos sociais que nos caracterizam podem turvar-se pela vista capenga de nossos poetas e fazer ver um país que, de fato, só existe como país a partir de certo afastamento do olhar. Estivesse o poeta mais próximo do Brasil e ele poderia ver que entre os sabiás e as palmeiras há muito sangue derramado.
Mas nada disso deve ser visto como depreciação ao poema de Gonçalves Dias em si; muito pelo contrário, o que me parece é que esse movimento é captado pelo poeta. Primeiro poema de seu primeiro livro, a insistência do poeta na individualidade, no “minha terra” e não no “nossa terra”, indica que a coletivização é equivocada. Talvez aqui esteja um dos pontos mais interessantes da poesia de Gonçalves Dias: eminentemente lírica, ela é pouco maleável para aceitar a generalização tosca dos professores de ensino médio que nela querem ver símbolos nacionais. Essa leitura é imposta de fora ao poeta como um todo, que não toma o índio exatamente como herói nacional, mas como sacrifício nacional, como veremos depois.
A natureza não é, em sua poesia, a natureza tropical que define a pátria. Ela é mais individualizada, em cada caso assumindo um significado específico, resistente às generalizações. Na “Canção do Exílio”, a força lírica reside no amor que está fundado na distância e no amor de uma figura específica que, à distância, olha a pátria. A sobrevivência do poema não está assentada, como pretende José Guilherme Merquior, na capacidade de captar liricamente esse amor irrestrito à pátria que caracterizaria todos os brasileiros, mas em representar a distância necessária ao elogio da pátria, em insistir num cá, em relação ao qual o lá, a pátria, pode ser vista e saudada e elogiada.
O poema revela de forma complexa, já que se trata de uma peça lírica, uma dualidade constante e essencial à própria construção nacional brasileira: só se podendo definir de longe como nação, o país estará, para sempre, cindido entre o cá de seus intérpretes e o lá de sua realidade, que, vista de cá, nunca pode ser qualificada, uma vez que a qualificação a desmontaria como idealidade turvada pelos olhos cansados que a veem à distância. Esse ponto é importante e nele insisto: o sentimento que expressa o poeta pela ausência de qualificativos é exatamente a necessidade de não os qualificar para que a operação poética como um todo funcione. Qualquer adjetivo que se acrescente fará com que o poema deixe de funcionar e se torne ridículo, porque implicaria na necessidade de verossimilhança do sentimento.
Vejam um exemplo: se o poeta dissesse que sente saudades das palmeiras “do Maranhão”, o poema perderia todo seu sentido evocativo porque, ao aproximar os símbolos da evocação a um lugar real, as mazelas de que fala Merquior estariam implicadas no sentido, desmontando-o. O amor absoluto só funciona, assim, à distância necessária para a mistificação.
A dualidade resiste como substrato formal a revelar as idiossincrasias nacionais. Imiscuída ao plano das formas, no “I-Juca Pirama” essa contradição ganha conteúdo: de um lado, a ética heroica dos tupis que devem morrer diante do ritual da antropofagia e, de outro lado, o sentimento de lealdade à família burguesa, travestida de heroísmo cavaleiresco e piedade filial.
O poema, embora narrativo, tem força dramática: seu personagem principal, o “índio infeliz” (DIAS, 2000, p. 301), está diante de uma encruzilhada em que os caminhos são inconciliáveis: de um lado, é fiel aos valores tradicionais de sua tribo, o heroísmo indígena que dita a morte corajosa, mas, por outro lado, é também fiel ao sentimento de lealdade e piedade em relação ao pai. Suas escolhas são dúbias: num primeiro momento, pede ao chefe dos Timbiras que o deixe viver pela necessidade de cuidar do pai. Há, entre eles, um desentendimento comunicativo muito sintomático: o Timbira lê como covardia o que o índio infeliz lê como piedade familiar.
Na sua promessa de volta para cumprir o dever da coragem indígena, ele vislumbra uma espécie de conciliação entre os dois universos, logo negada pelo chefe dos Timbiras, que o expulsa para sempre. Na sua incompreensão, o índio infeliz, que nossos alunos do ensino médio insistem em chamar de Juca Pirama, como se o título se referisse a um nome próprio, é dúbio: diante da acusação de covarde escolhe ir embora em busca do pai, ao invés de ficar e fazer, como depois fará, lutar para provar sua coragem de Tupi.
Vai cuidar do pai que, filho de uma época em que o sentimento filial burguês ainda não entrou no seio das sociedades indígenas, quando confrontado com a atitude pouco digna de um Tupi que seu filho teria tomado, renega-o, obrigando-o, para manter e reforçar seu amor de filho, a lutar com os Timbiras até que eles decidam que ele é valoroso o suficiente para ser submetido à antropofagia.
E aqui está o motivo do caráter dramático do poema não se consumar tragicamente: o índio infeliz não está, propriamente, dividido entre os dois mundos, o cá da família burguesa à europeia e o lá dos valores tradicionais indígenas: ele opta sempre pelo moderno, embora sinta dramaticamente a perda de sua identidade indígena. Isso implica no fato de que sua luta final é apenas aparente e serve como forma de reforçar seu respeito filial à figura do pai, com o qual, na verdade, não pode mais estabelecer laços de sociabilidade.
A rotação psicológica do poema é, portanto, falsa e superficial. Ele, do início ao fim, é um mesmo herói aburguesado que se confronta com um mundo tradicional que não coaduna com seus valores, mas com o qual ele mantém relações de afetividade vaga. E é exatamente por isso que os grandes discursos, que são o centro gravitacional de todo o drama, tratam do fim da sociedade tupi. Os versos memoráveis tratam não da glorificação do índio como herói nacional positivo, mas da trama complexa de sua subsunção à sociedade nacional:
E os campos talados,
E os arcos quebrados,
E os piagas coitados
Já sem maracás;
E os meigos cantores,
Servindo a senhores,
Que vinham traidores,
Com mostras de paz.
Aos golpes do inimigo,
Meu último amigo,
Sem lar, sem abrigo
Caiu junto a mim!
Com plácido rosto,
Sereno e composto,
O acerbo desgosto
Comigo sofri.
Se na fala do filho vemos o lamento heroico do último tupi que pretende cuidar do pai e pede por sua vida, no discurso do pai vemos a maldição que, na verdade, ao tempo de Gonçalves Dias, era já obra do passado:
Possas tu, isolado na terra,
Sem arrimo e sem pátria vagando,
Rejeitado da morte na guerra,
Rejeitado dos homens na paz,
Ser das gentes o espectro execrado;
Não encontres amor nas mulheres,
Teus amigos, se amigos tiveres,
Tenham alma inconstante e falaz!
“Não encontres doçura no dia,
Nem as cores da aurora te ameiguem,
E entre as larvas da noite sombria
Nunca possas descanso gozar:
Não encontres um tronco, uma pedra,
Posta ao sol, posta às chuvas e aos ventos,
Padecendo os maiores tormentos,
Onde possas a fronte pousar.
O que está expresso verbalmente pelos dois é tomado composicionalmente como força motriz do próprio drama, em que a encruzilhada de caminhos inconciliáveis está, desde o início, trilhada pela historicidade do desaparecimento dos índios.
É no fechamento, no entanto, em versos igualmente memoráveis, que se consuma a distância necessária para que o abismo social, tão bem caracterizado em sua superficialidade peculiar, converta-se em força motriz da fundação nacional. Os versos são famosos, mas é importante ainda uma vez lembrá-los:
Um velho Timbira, coberto de glória,
Guardou a memória
Do moço guerreiro, do velho Tupi!
E à noite, nas tabas, se alguém duvidava
Do que ele contava,
Dizia prudente: — Meninos, eu vi!
Eu vi o brioso no largo terreiro
Cantar prisioneiro
Seu canto de morte, que nunca esqueci:
Valente, como era, chorou sem ter pejo;
Parece que o vejo,
Que o tenho nest’hora diante de mi.
Eu disse comigo: Que infâmia d’escravo!
Pois não, era um bravo;
Valente e brioso, como ele, não vi!
E à fé que vos digo: parece-me encanto
Que quem chorou tanto,
Tivesse a coragem que tinha o Tupi!
Assim o Timbira, coberto de glória,
Guardava a memória
Do moço guerreiro, do velho Tupi.
E à noite nas tabas, se alguém duvidava
Do que ele contava,
Tornava prudente: “Meninos, eu vi!”
O tema fundamental deste fechamento é o da constituição da memória. Oralmente enjambrada, ela pretende vestir de heroísmo o sacrifício do índio, num movimento que tanto choca o leitor acostumado aos valores europeus anti-antropofagia quanto desvela a falsidade do entrecho. O valor de testemunho do fortíssimo “Meninos, eu vi!” pretende conferir autoridade de narrador a um acontecimento que não convence por força própria, ou seja, instaura a distância necessária para que o extermínio, que é o verdadeiro assunto de todo o poema, apareça com aquela mesma força evocatória de que nos fala José Guilherme Merquior sobre a “Canção do exílio”.
Deixem-me ser claro, por vício de docência. Todo o poema se constrói na oposição entre os dois valores fundamentais encarnados pela antropofagia como eixo simbólico de caracterização indígena e o sentimento filial como eixo simbólico de caracterização de uma forma nova de sociabilidade burguesa (à lá século XIX, e não a do tempo da colonização, entenda-se bem). Essa oposição, que parece ser o conflito dramático fundamental, perde sua força porque é falseado ao longo do poema. Não há conflito porque a sociabilidade burguesa já venceu e as populações indígenas já foram exterminadas, tanto que a submissão do filho à antropofagia não significa sua adesão aos valores tradicionais em detrimento do sentimento filial, mas exatamente a reafirmação desse sentimento.
A questão é simples: como fazer disso uma pátria? Como erigir sobre um conflito trágico não realizado um sentimento de nacionalidade? Ora, a resposta é a mesma de antes: pela distância liricamente instaurada ao final. O fechamento introduz ao poema um nível de composição que antes não estava bem colocado: o poema narrativo, com força dramática e pretensão trágica, ganha, ao final, sua única forma de possibilidade: a lírica que distancia o acontecimento, desacreditando-o, mas afirmando a necessidade de sua verdade de qualificativo. É como se o poema fosse, ele todo, uma evocação de um sentimento nacional vago e não a realização de uma nacionalidade específica, uma vez que ela está impossibilitada.
Digamos ainda de outra forma. O leitor sabe, ao ler os versos finais, que o “velho Timbira”, exatamente por reafirmar tanto que viu, de fato, não viu. A insistência na afirmação nos indica exatamente que ele não viu a história, mas que a está inventando à distância como artifício de afirmação nacional. O trecho evoca a figura do contador de histórias que, em volta de fogueiras, inventa causos. Mas se sabemos que ele não viu, a pergunta fundamental é o que ele afirma tanto ter visto, já que a história contada não pode ser. Ora, ele vê, ao longe, o mito de fundação da pátria, que não é inverídico por isso, mas que ganha inverdade em sua consumação literária propriamente brasileira. O extermínio é verdadeiro, mas precisa ser falseado para que seja miticamente elevado à condição de mito originário. Só a distância é capaz de fazer isso.
O fato de ser um lírico consumado é um fracasso do ponto de vista de seu monumento à nacionalidade, ou da pretensão da construção de uma épica nacional, mas um ganho imprescindível à sua poesia, porque introjeta nela as contradições necessárias à verdadeira representação da realidade pela arte. Para finalizar, veja-se como a leitura de Antonio Candido na Formação da literatura brasileira consagra os elementos que balizaram nossa análise, sem, no entanto, dar a forma algo agônica que pretendi dar. Talvez o ponto central de sua análise seja a presença de valores neoclássicos num poeta consumada romântico. Não por sua participação num movimento arcádio fora de época, mas pelo valor propriamente universalista de sua poesia, manifestado no domínio propriamente neoclássico do verso e na busca pela expressão perfeita, o poeta maranhense seria, para Antonio Candido, o romântico mais sensato.
Ele nos diz, sobre a acusação de que seria demasiadamente vinculado a Portugal nosso poeta: “os contemporâneos foram mais argutos que alguns críticos posteriores, ao verem sem hesitar o caráter nacional do seu lirismo. O que talvez não tivessem visto (porque se tratava, então, de aspirar ao contrário) foi a continuação, nele, da posição arcádica de integrar as manifestações da nossa inteligência e sensibilidade na tradição ocidental. Como vimos, ele enriqueceu esta tradição, ao lhe dar novos ângulos para olhar os seus velhos problemas estéticos e psicológicos (CANDIDO, 2013, p. 409).
Antonio Candido não está comentando, nesse momento, sua poesia indianista, mas chama nossa atenção o fato de que ele caracteriza como nacional exatamente o lirismo, que tomamos aqui como ponto de partida para a necessária distância que o poeta estabelece entre a pátria cantada e o canto propriamente. Essa distância ganha um significado novo pelos olhos do velho professor: ele reverbera exatamente a pretensão do poeta de incluir o patrimônio nacional na tradição ocidental. O que estou de alguma forma acrescentando à análise de Antonio Candido é o fato de que, se seu lirismo é eminentemente nacional, sua poesia de sabor nacional é, também, essencialmente lírica.
Sobre o Juca Pirama, ele nos diz: “o tamoio da canção ou o prisioneiro do I-juca pirama, são vazios de personalidade – mas ricos de sentido simbólico. Por isso mesmo, talvez as pelas mais realizadas e certamente mais belas de sua lira nacional sejam poemas como este último, onde nos apresenta uma rápida visão do índio integrado na tribo, nos costumes, naquele ocidentalizado sentimento de honra que, para os românticos, era a sua mais bela característica” (ibidem, p. 404).
São desprovidos de personalidade exatamente porque precisam ser vistos de longe, sem o que, sua realização propriamente nacional não se realiza. O que disse sobre a qualificação das palmeiras é também verdadeiro sobre o caso dos índios: ao caracterizá-los heroicamente e, ao mesmo tempo, particularizá-los para além da conta, o poema perderia sua força porque implicaria numa verossimilhança impossível. Se, ao invés de tratar de um índio no geral, sua lírica estivesse interessada no índio particular de um determinado lugar, ele perderia completamente a força simbólica, porque implicaria não numa situação reduzida à distância, mas em determinações reais de povos reais em situações reais.
A distância, na análise de Antonio Candido, assume a forma das convenções neoclássicas e do elemento estético próprio ao exotismo e ao pitoresco: “Sendo recurso ideológico e estético elaborado no seio de um grupo europeizado, o Indianismo, longe de ficar desmerecido pela imprecisão etnográfica, vale justamente pelo caráter convencional; pela possibilidade de enriquecer processos literários europeus com um temático e imagens exóticas, incorporados deste modo à nossa sensibilidade. O índio de Gonçalves Dias não é mais autêntico do que o de Magalhães ou o de Norberto pela circunstância de ser mais índio, mas por ser mais poético, como é evidente pela situação ase anormal que fundamenta a obra-prima da poesia indianista brasileira — I-juca pirama (ibidem, p. 405).
O que não está dito, mas acrescento ao trecho de Antonio Candido é que a autenticidade depende, na verdade, da distância, ou seja, da não proximidade com o índio real. Pense-se no caso de José de Alencar: o que é um ganho em sua obra, o abandono da épica em detrimento do romance, é talvez um logro, porque, ao pretender particularizar, à moda do romance, seus personagens indígenas, eles ganham um tom de ridículo que não há no caso da poesia de Gonçalves Dias. Não quero implicar que a solução do poeta maranhense é, por isso, mais adequada, porque ela está também historicamente limitada e o caminho pretendido por José de Alencar, de fato, é mais proveitoso, mas, para que ele dê seus frutos, a temática indígena tem que ser abandona em detrimento do romance urbano.
No período restrito do indianismo, de fato, a solução de Gonçalves Dias é a melhor, mas o próprio indianismo possui limites que foram historicamente superados. A transição do que caracterizei acima como um paradigma alemão para um paradigma francês é o modelo literário e mesmo ideológico dessa superação histórica.
Termino com uma provação: não será exatamente essa mesma distância, reelaborada em outros termos, o segredo do Macunaíma de Mário de Andrade? E, nesse sentido, não seria essa distância, necessária ao funcionamento das obras literárias, a tragédia dos povos indígenas nessa coisa estranha à sua sociabilidade que é o Brasil?[vi]
Filipe de Freitas Gonçalves é doutorando em Estudos Literários na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Referências
ARENDT, Hannah. Sobre a revolução. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
CANDIDO, Antonio. Formação da Literatura Brasileira: momentos decisivos (1750-1880). Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2013.
DIAS, Gonçalves. Últimos Cantos. In: _____. Cantos. Introdução, organização e fixação do texto de Cilaine Alves Cunha. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
MAZZEO, Antonio Carlos. Estado e burguesia no Brasil: origens da autocracia burguesa. São Paulo: Boitempo, 2015. 140 p.
MERQUIOR, José Guilherme. O poema do lá. In: _____. A razão do poema: ensaios de crítica e de estética. São Paulo: É Realizações, 2013, p. 59-70. TREECE, David H.. Victims, Allies, Rebels: to
[i] Acho que o melhor estudo sobre o tema ainda é o David H. Treece (1986).
[ii] Os comentários de Antonio Candido na Formação da Literatura Brasileira sobre essas tentativas de épica são esclarecedores pela sua justiça com textos quase de todo esquecidos em nossos dias. Sobre “Os Timbiras”, de Gonçalves Dias, de longe o autor mais elogiado pelo crítico, ele nos diz: “De poesia dura, pouco inspirada, são exemplo Os Timbiras” (CANDIDO, 2013, p. 413).
[iii] Hannah Arendt (2011) desenvolve, em sua comparação com a revolução Americana, o balanço negativo da Revolução Francesa, chamando atenção exatamente para a influência de Rousseau. Não acho que sua avaliação seja correta, mas merece ser levada em consideração.
[iv] Cf. MAZZEO, 2015, p. 92-93.
[v] Cf. MERQUIOR, 2013, p. 59-70.
[vi] Fruto de reflexões sobre o país ao longo dos últimos anos, esse texto é também resultado de conversas que tenho feito em sala de aula com meus alunos do Ensino Médio do Colégio Sagrado Coração de Jesus. A eles dedico este texto, na esperança de que, um dia, vejam, como eu, a beleza dos versos do autor do I-Juca-Pirama.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA