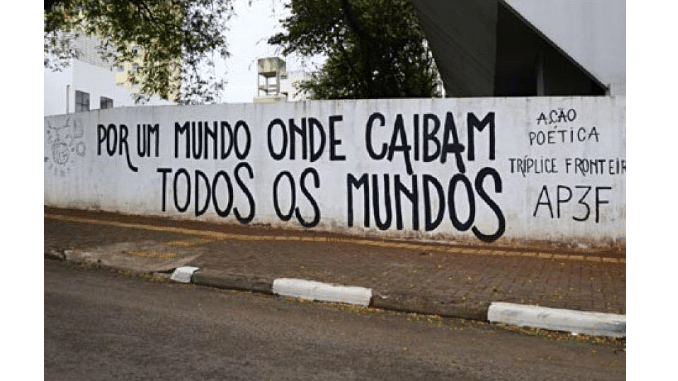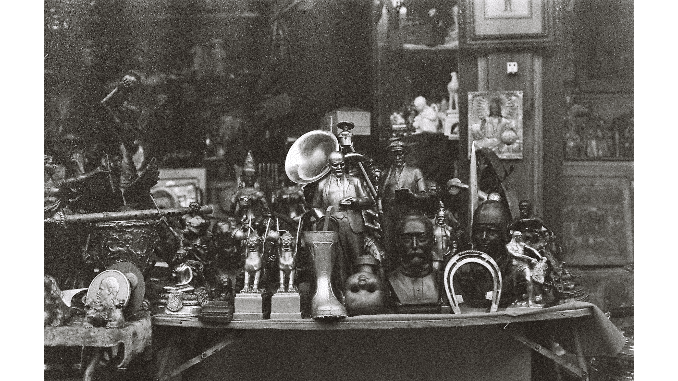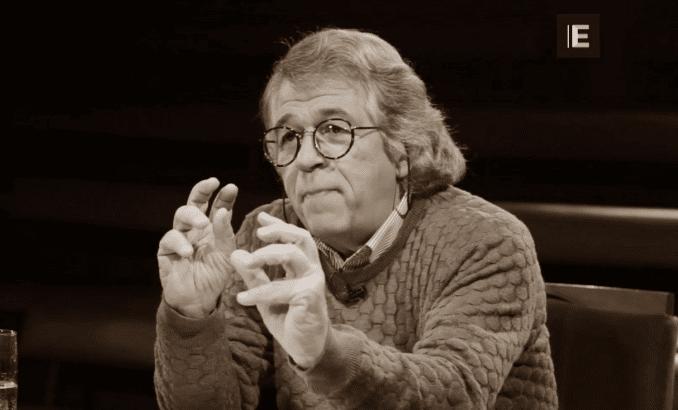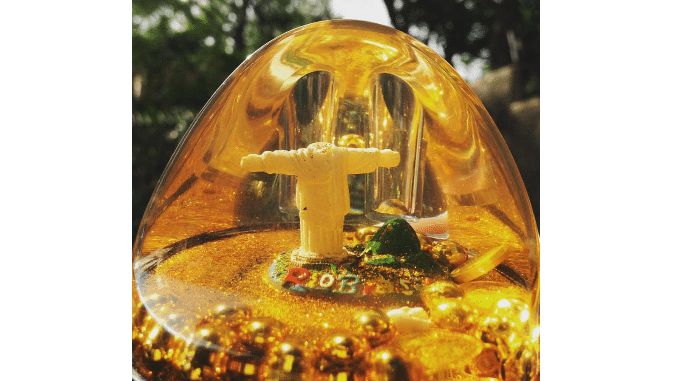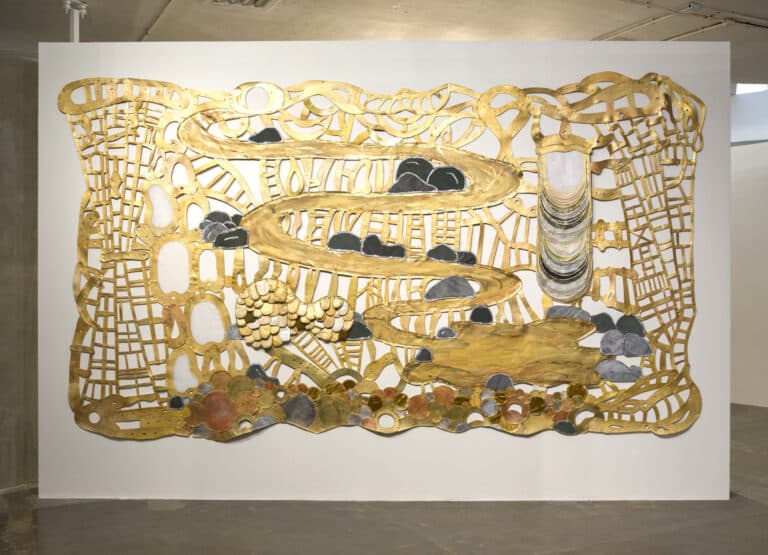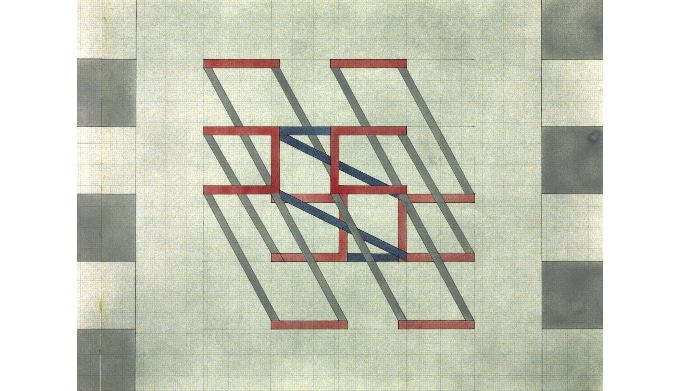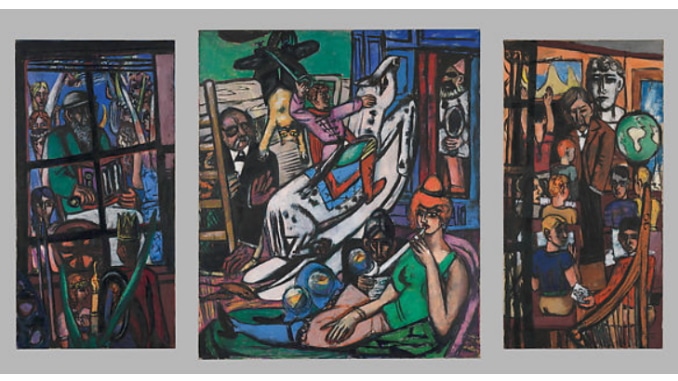Por GILBERTO MARINGONI*
A negação pública do golpe de 60 anos atrás enseja sua reafirmação e renovação constante. Implica sua defesa e o impedimento de que uma página anterior seja realmente virada
O Brasil enfrentou quatro anos de negacionismo científico, a partir de 2018. O período mais grave se deu durante a pandemia (2020-2022), com a campanha antivacinal, promovida pelo ex-presidente. Foi algo abjeto, que resultou em número incalculável de perdas humanas.
Para total surpresa de qualquer espírito democrático, voltamos a viver um tenebroso clima negacionista neste 2024. Dessa vez temos o negacionismo histórico, que ao ignorar um exame consistente sobre o passado, bloqueia a reflexão e construção de alternativas de futuro. Buscar apagar da memoria oficial o golpe de 1964 é iniciativa igualmente repugnante.
Os dois negacionismos têm motivações distintas. Enquanto o primeiro procurava consolidar apoios em irracionalidades e dogmas religiosos para a construção de uma ideia força obscurantista, e, portanto autoritária, o novo negacionismo baseia-se no defensivismo, no recuo e na esdrúxula concepção de que a melhor maneira de pacificar um conflito é renunciar ao combate. Temos assim um estranho negacionismo lastreado na capitulação de na autodesmobilização.
De onde vêm essas tentativas de negar a realidade? negacionismo é um neologismo relativamente recente na ciência política. O Dicionário de política, organizado, entre outros, por Norberto Bobbio (1983), não o menciona. A Academia Brasileira de Letras define o negacionismo como “atitude tendenciosa que consiste na recusa a aceitar a existência, a validade ou a verdade de algo, como eventos históricos ou fatos científicos, apesar das evidências ou argumentos que o comprovam”. O discurso e a ação do que se convencionou chamar de “negacionismo” é uma poderosa ferramenta de disputa política na sociedade. O negacionismo representa a substantivação da negação, conformando o que seria uma espécie de doutrina ou teoria.
O termo adquiriu ares de conceito a partir da constituição de uma ideia-força disseminada por grupos de extrema direita em países do Ocidente, nas últimas décadas do século XX, cujo intento é construir uma particular leitura da História. Trata-se da afirmação de que o genocídio dos judeus pelos nazistas no contexto da Segunda Guerra Mundial não aconteceu ou não aconteceu da maneira ou nas proporções historicamente reconhecidas.
Mais tarde, ganhou destaque nos debates sobre meio-ambiente a atuação dos chamados “negacionistas do clima”, definidos como aqueles que – em contrário a toda evidência científica – contestam a existência do aquecimento global de origem antrópica, ou seja, decorrente de atividades humanas. Também são considerados negacionistas os que rejeitam (em geral por motivos religiosos) a teoria da evolução das espécies, que se tornou, a partir das descobertas de Charles Darwin, um dos alicerces da biologia moderna.
Sigmund Freud buscou classificar psicanaliticamente o fenômeno da negação – não o negacionismo –como uma forma de preservação do ego, num pequeno – cinco páginas – e complexo texto de 1925, intitulado justamente “A negação”. Escreveu ele: “A função do juízo tem essencialmente duas decisões a tomar: ela deve conferir ou recusar a uma coisa ou determinada qualidade e deve admitir ou contestar se uma representação tem ou não existência na realidade. A qualidade a ser decidida poderia originariamente ter sido boa ou má, útil ou nociva”.
A negação funcionaria como sublimação do real. Segue Freud: “negar algo no juízo no fundo significa: isto é uma coisa que eu preferiria reprimir. (…) Por meio do símbolo da negação, o pensamento se liberta das limitações da repressão e se enriquece”. Negar – ou negar a partir de um julgamento –, de acordo com Freud, “é a ação intelectual que decide a escolha da ação motora, [que] põe fim ao adiamento pelo pensamento e faz a passagem do pensar para o agir”. É a partir daí que “a criação do símbolo da negação permite ao pensamento um primeiro grau de independência das consequências da repressão”. A negação faz parte das defesas cotidianas para evitar frustrações ou fracassos.
Pode-se dizer que a negação, no plano do indivíduo, tem uma função de defesa diante de incertezas e instabilidades. Através dela, evitam-se partes da realidade que causam medo ou insegurança.
No plano político, a negação busca também evitar inseguranças, mas pode, em determinadas situações, ser um dispositivo opressivo. A negação deixa de ser recurso defensivo, e torna-se ferramenta para a imposição de determinado juízo de valor de uma parte da sociedade sobre outra. Ou o diktat do que seria uma verdade sobre outra. Não importa que essa verdade, objetivamente, seja uma mentira. Sua imposição visa criar um novo cenário no qual se darão as disputas sociais. A negação nesses termos – no âmbito político – é parte da disputa de hegemonia.
Os dois casos relatados no início – a negação da ciência e a negação da história – fazem parte de uma imposição autoritária, que visa bloquear ações políticas contrárias. A negação de examinar e criticar o golpe de 1964 não se resume a tirar de cena uma ordem ditatorial de classe construída a partir daquele marco fundador de 21 anos de autoritarismo, com ramificações que alcançam a atualidade. Implicitamente, a negação é também a afirmação de seu contrário.
Assim, a negação pública do golpe de 60 anos atrás enseja sua reafirmação e renovação constante. Implica sua defesa e o impedimento de que uma página anterior seja realmente virada. Implica, enfim a legitimação de uma ordem não democrática, envenenando o ambiente político atual.[1]
*Gilberto Maringoni é jornalista e professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC (UFABC).
Nota
[1] Partes desse texto integram um artigo escrito em parceria com Igor Fuser.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA