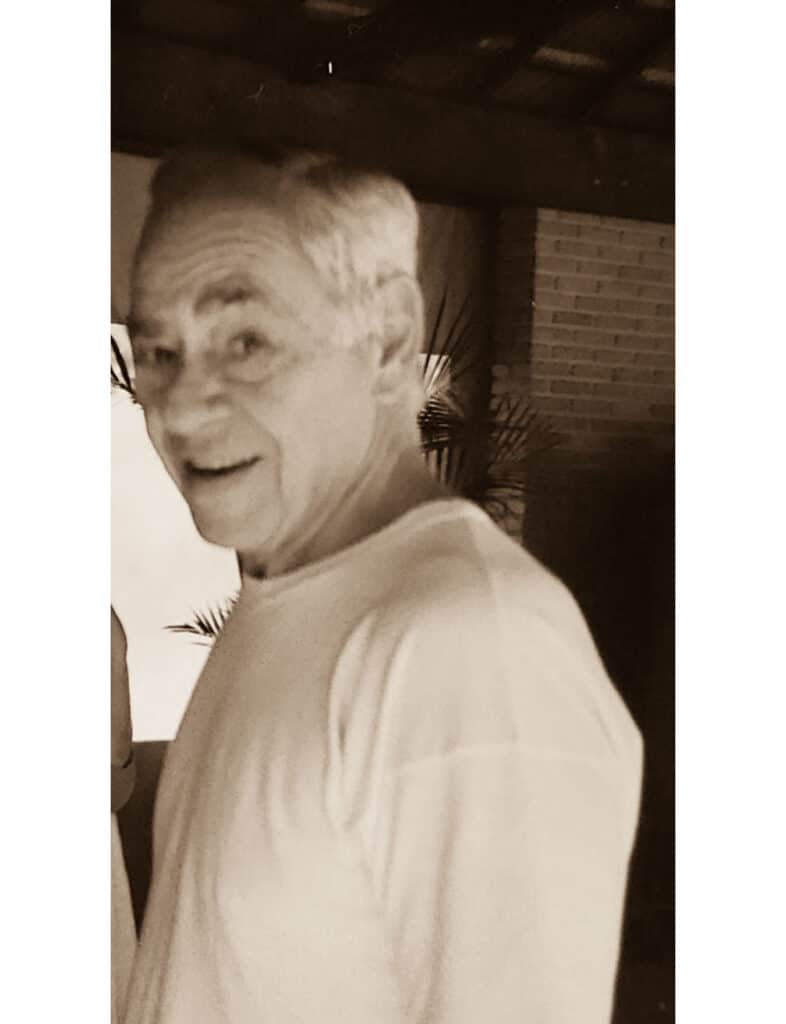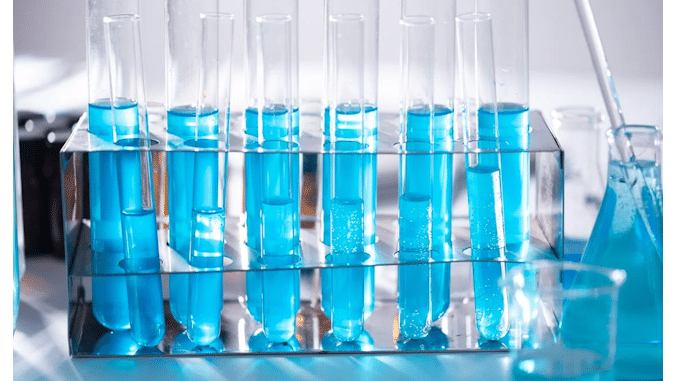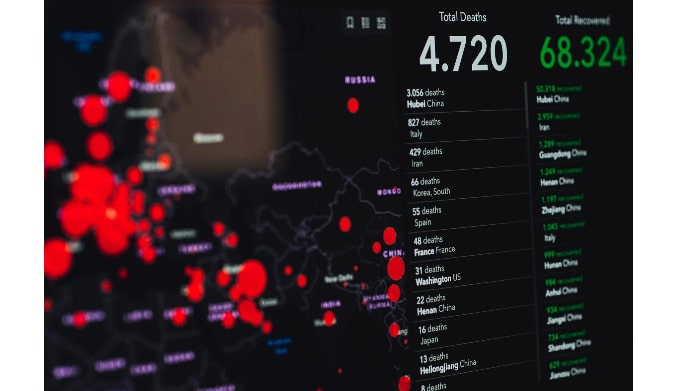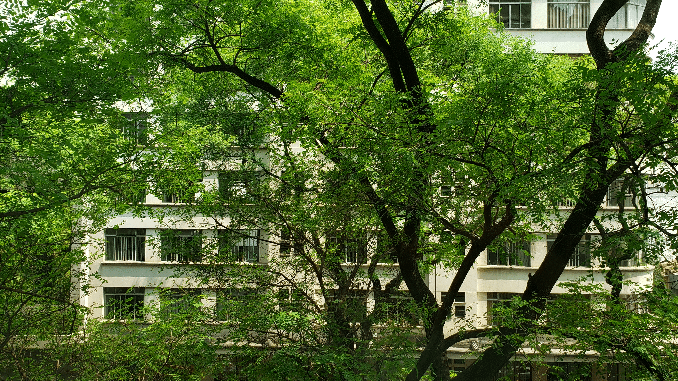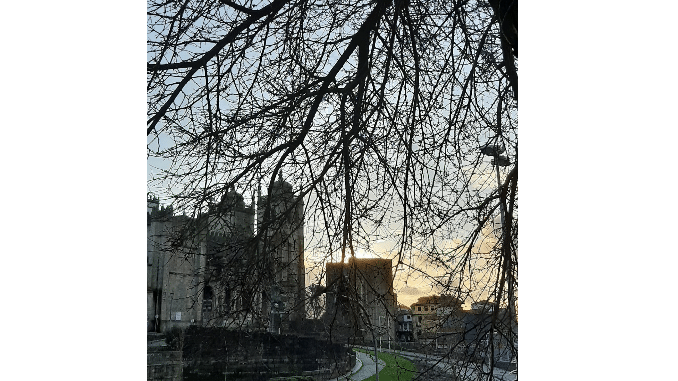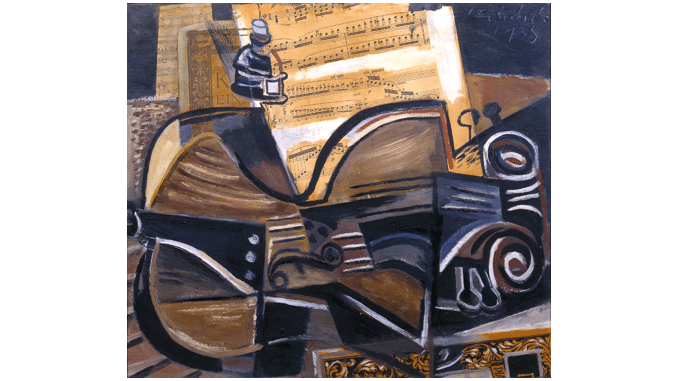Por PAULO SILVEIRA*
O antipetismo radical nos conduziu às catacumbas do extinto regime militar
1.
Em 2013, enquanto Geraldo Alckmin e Fernando Haddad cantavam, em Paris, Trem das onze de Adoniran Barbosa, iniciava-se nas ruas de São Paulo e depois irradiado para o Brasil aquilo que foi, até então, o maior movimento popular em décadas (só menor que o das “Diretas Já” de 1984); centenas de milhares de pessoas expunham reivindicações contraditórias sob o manto de um descontentamento geral, especialmente com o Congresso Nacional. Neste afã de mudança, muito provavelmente encontraríamos germes de uma direita radical e de seu complemento, o antissistema, que mais adiante tomaria a forma de um antipetismo.
No Rio de Janeiro, quase como uma continuação daquele movimento, um pequeno e aguerrido grupo acampou em frente ao apartamento do governador Sérgio Cabral no Leblon. Era o princípio do fim desse governo. Alguns meses depois e faltando ainda oito meses para terminar seu mandato, Cabral renuncia, abrindo espaço para Pezão assumir o governo e em outubro (pasmem) ser eleito para mais um mandato.
Nesta eleição, a de 2014, Bolsonaro foi o deputado federal mais votado do estado do Rio de Janeiro com mais de cem mil votos à frente do segundo colocado. O ovo da serpente começava a sair da casca anunciando sua cria.
Na antevéspera do Natal do ano seguinte (2015), ainda no Leblon, de onde Cabral fora enxotado, desta vez sobrou (quem diria) para Chico Buarque. Na saída de um restaurante onde jantara com alguns amigos, todos septuagenários, foi acossado por um bando de jovens de classe média alta e além. No episódio, tornava-se visível um antipetismo radical e agressivo que depois entraria em simbiose com várias correntes bolsonaristas.
Em abril do ano seguinte a Câmara dos deputados votou o impedimento da presidente Dilma. Nesta sessão, impressionante pela quantidade de besteiras que se produziu, destaca-se o voto de Bolsonaro. Como se talvez não fosse capaz de lembrar o nome completo da pessoa que queria homenagear, seu filho Eduardo manteve-se coladinho ao pai assoprando, sílaba por sílaba o nome do coronel do Exército Brasileiro (para que não esqueçamos sua origem) Carlos Alberto Brilhante Ustra. Reconhecido por tantos como torturador, mas também judicialmente por uma ação declaratória, Ustra foi escolhido a dedo para escancarar uma das facetas mais obscuras do então deputado federal.
No calor da hora, essa declaração de voto foi entendida como uma provocação, tão a gosto do declarante. Mas, retrospectivamente, ela pode ser vista por um ângulo bem diferente. Como se tratava de uma sessão que visava impedir a presidente do PT, esse voto poderia servir de teste para aferir até onde o antipetismo aceitaria chegar: quem sabe até as catacumbas do extinto regime militar. Como a chiadeira que veio a seguir não assustou, Bolsonaro recebeu um passe livre para a campanha eleitoral de 2018. Abria-se politicamente uma fusão entre bolsonarismo e antipetismo, com o deputado largando à frente de qualquer candidato ou partido que escolhesse o antipetismo como bandeira. Mas não só estava na frente como também prometia ir mais longe nessa sua cruzada antipetista.
Na eleição de 2018, como todos sabem, o bolsonarismo/antipetismo atingiu seu apogeu.
Em São Paulo, o maior colégio eleitoral, o voto a bolsonaristas e antipetistas contou-se aos milhões. No Rio de Janeiro, um exemplo que parece ser o mais notável, o candidato a deputado federal mais votado foi Hélio Fernando Barbosa Lopes, subtenente da reserva do exército, que sempre aparece atrás de Bolsonaro, misto de segurança e papagaio de pirata. Em 2004, concorreu ao cargo de vereador em Queimados, sua cidade natal, e obteve 277 votos; voltou a concorrer ao mesmo cargo em 2016, agora em Nova Iguaçu, conseguiu melhorar seu desempenho obtendo 480 votos. Apenas dois anos depois se candidatou a deputado federale com o apoio de Bolsonaro deu um salto extraordinário, obteve 345.234 votos.
Sem dúvida uma bela lavada nas correntes progressistas. Dela fizeram parte também alguns caciques do norte e do nordeste, especialmente do MDB: Romero Jucá, Edison Lobão, Garibaldi Alves Filho, Eunício de Oliveira concorreram ao senado e foram mandados de volta para casa.
2.
Ao sair da primeira audiência em Curitiba, com sua afiada intuição, Lula se deu conta da enrascada em que estava envolvido. Recebido por uma multidão de simpatizantes, declarou enfaticamente que desejaria mesmo “é ser julgado pelo povo” e não por aquele tipo de justiça, no caso representada pela Lava Jato, que acabara de interrogá-lo. “Ser julgado pelo povo”: um enunciado preciso e sintético de uma das dimensões mais sensíveis do populismo. Este faz não apenas economia do sistema de justiça, do poder judiciário, mas, por extensão, refere-se ao conjunto das instituições que constituem os pilares e as salvaguardas do regime democrático, isto é, o que pode ser chamado de Estado democrático de direito. Essa economia das instituições ou, mais enfaticamente, o trabalho em direção a sua supressão, é um dos elementos cruciais para se entender o populismo, uma política populista.
Aquilo que para Lula, naquele momento, era a manifestação de uma intenção que não mirou o gesto, palavras que se dissolveram no ar anunciando um desejo irrealizável, para o governo Bolsonaro é quase um projeto de governo: um populismo em ato, em andamento. Basta passarmos os olhos em sua política para a educação, para os direitos humanos, para sua política externa orientada à crítica tão ideológica quanto fantasmática a um “marxismo cultural”.
Alguns meses atrás, quando ainda estava mais confiante em sua reeleição,Trump disse que se assassinasse alguém ao acaso nas ruas de Nova York não perderia nenhum de seus eleitores. Essa é a aura daqueles que se propõem como mito a seus seguidores. Não importa o que façam, contam com a absoluta fidelidade de seus eleitores. Uma fidelidade que se desloca dos feitos para a própria pessoa do presumível mito.
Bolsonaro tem sido chamado de mito e tem cultivado essa disposição de pelo menos parte de seus eleitores. Há pouco, sua mulher foi chamada de “mita”; neologismo que agride nossos canais auditivos. Prefiro acompanhar o ator inglês Stephen Fry que depois de entrevistar Bolsonaro afirma que “certos mitos contemporâneos não passam de meros ídolos de barro”. E acrescento: com um destino certo, que só uma mente maldosa chamaria de “lixo da história”.
3.
Desde o início de seu governo, e mesmo antes, Bolsonaro esteve sob o manto de seu guru, o ideólogo, Olavo de Carvalho. Aliás, atribuir a este senhor o título de ideólogo beira ao exagero. Num passado, nem tão longe assim, distinguia-se com clareza ideologia de utopia. Hoje, diferentemente, ideologia deve ser pensada também como um sistema que morde o futuro, isto é, que contém em si mesmo um vir-a-ser, um lastro de utopia. A crítica ao dito “marxismo cultural”, carro-chefe desta ideologia, no mínimo, tem a função de aprisionar o pensamento e a ação a uma dimensão destrutiva: muito mais para dinamitar o presente e voltar ao passado do que acenar para o futuro – o futuro, paradoxalmente, como um passado radiante, a despeito do sol não brilhar: a noite da civilização.
O governo Bolsonaro desde logo ataca destrutivamente em algumas frentes principais. Na educação um colombiano, depois substituído por um tal de Weintraub que confessa publicamente que desejaria prender os ministros do Supremo; nos direitos humanos uma senhora Damares que pelo menos sabe perfeitamente distinguir quais devam ser as cores dos uniformes de meninos e meninas e nas relações exteriores Ernesto Araújo cuja função é a de produzir um alinhamento apequenado à política externa do governo Trump e a correspondente ideologização do Itamaraty. E pensar que em governos anteriores tivemos na educação um Paulo Renato e um Fernando Haddad, nos direitos humanos um José Gregori e um Paulo Vanucchi e no Itamaraty, só para citar um nome, Antonio Patriota, lembram? Onde estávamos e para onde fomos levados …
Para afiançar essa debacle são chamados os militares, sobretudo os do Exército; os de alto coturno em cargos palacianos bem próximos ao presidente, os demais povoando ministérios, onde sempre sobra uma “boquinha”. Aos primeiros ainda resta a capacidade estoica para suportar os destemperos do tal ideólogo. Afinal quanto vale um cargo… (lembro de um colega tenente que fazia sua boquinha fazendo a segurança de Paulo Maluf [cria da ditadura militar]; lá pelas tantas destratado pelo prefeito ou governador, e sem pestanejar, e com o pouquinho de equilíbrio que lhe escapara da espuma da cólera que lhe invadira, mandou-lhe às favas, simplesmente às favas: boquinha pelos ares). Mas general é de outro estofo, tem o couro mais curtido.
Os militares no coração do governo ainda exercem outra função, certamente menos nobre: a de ocupar o lugar de espectro da ditadura. Ameaçar com esse espectro se tornou um hábito do clã presidencial. E nenhum general de alto coturno ousou declarar abertamente uma aversão à ditadura e muito menos acompanhou a conhecida palavra de ordem “ditadura nunca mais”. No máximo ouvimos vozes para lá de tímidas, apenas comparáveis à autocrítica do PT, que, de tão esperada, morreu de velha. O que não deverão contar as entrelinhas desse encontro de opostos?
Mas se num malfazejo dia aquele espectro vier tomar corpo, quem poderia garantir que um ex-capitão, quase enxotado do exército, seria mantido no mais alto cargo da república? Eis algo inverossímil que, ainda assim, o clã presidencial cultiva como um pensamento mágico, como uma fantasia sombria e mal guardada.
*Paulo Silveira é psicanalista e professor aposentado do departamento de sociologia da USP. Autor, entre outros livros, de Do lado da história: uma leitura crítica da obra de Althusser (Polis).